000419367.unlocked
description
Transcript of 000419367.unlocked
-
1
UNIVERDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA DE PRODUO
MODELO PARA MEDIO E CONTROLE DE
CUSTOS NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
Tiago Pascoal Filomena
Porto Alegre
2004
-
2
UNIVERDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA DE PRODUO
MODELO PARA MEDIO E CONTOLE DE CUSTOS
NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
Tiago Pascoal Filomena
Orientador: Prof. Francisco Jos Kliemann Neto, Dr.
Co-orientador: Prof. Gilberto Dias da Cunha. Dr.
Banca Examinadora:
Antonio Cezar Bornia, Dr.
Prof. Depto. Engenharia de Produo / UFSC
Cludio Jos Mller, Dr.
Mrcia Elisa Echeveste, Dr. Prof. Depto. Estatstica / UFRGS
Dissertao submetida ao Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo como requisito parcial obteno do ttulo de
MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUO
rea de concentrao: Gerncia da Produo
Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2004
-
3
Esta dissertao foi julgada adequada para obteno do ttulo de Mestre em
Engenharia de Produo e aprovada em sua forma final pelo Orientador e pela Banca
Examinadora designada pelo Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo.
____________________________________ Prof. Francisco Jos Kliemann Neto, Dr.
PPGEP / UFRGS Orientador
____________________________________ Prof. Gilberto Dias da Cunha, Dr.
PPGEP / UFRGS Co-orientador
____________________________________ Prof. Jos Luis Duarte Ribeiro Dr.
Coordenador PPGEP / UFRGS
Banca Examinadora:
Antonio Cezar Bornia, Dr. Prof. Depto. Engenharia de Produo / UFSC
Cludio Jos Mller, Dr. Mrcia Elisa Echeveste, Dr. Prof. Depto. Estatstica / UFRGS
-
4
Dedico, inicialmente, minha namorada, Juliana, que
me compreendeu durante esses dois anos e muito
contribuiu para finalizao da dissertao. Tambm,
dedico s pessoas que venho convivendo por toda a
vida e muito torceram por este momento: meu irmo,
minha irm, meu pai e minha me.
-
5
AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer ao amigo Leandro Fleck Fadel Miguel, que tanto colaborou
para minha formao acadmica. Tambm, gostaria de agradecer aos amigos Michel Azanelo
e Fernando Lemos pelas discusses construtivas durante o curso de mestrado.
Agradeo as professoras ngela Danilevicz e Mrcia Echeveste pelo auxlio em
determinados momentos do trabalho. Ao meu orientador, Francisco Jos Kliemann Neto, e ao
meu co-orientador, Gilberto Dias da Cunha, pelo apoio na estruturao da dissertao.
Agradeo a Luis Ribeiro pelo auxlio na formatao e a Alberto pela oportunidade da
realizao do estudo de caso.
Agradeo aos professores Antnio Cezar Bornia, Cludio Jos Mller e Mrcia Elisa
Echeveste por terem aceitado avaliar esta dissertao.
Ao professor Kliemann agradeo, no somente o auxlio na estruturao do trabalho,
mas, tambm, pelos ensinamentos tericos e prticos, assim como, pelas oportunidades
profissionais que me tem propiciado.
Agradeo aos meus pais e irmos pelo apoio emocional que me tem proporcionado.
Sem meus pais, certamente, no teria alcanado meus objetivos.
minha namorada, Juliana, nenhuma palavra seria o bastante para demonstrar meus
agradecimentos. A ela dedico este trabalho.
-
6
As pessoas iro pagar um certo preo por um produto se elas
reconhecerem que o produto vale mais que o seu preo. Algum iria
provavelmente comprar um item a um preo de US$ 1,00 se visse nele
um valor de, no mnimo, US$ 1,10 ou US$ 1,20. Analisando o lado da
oferta, nossa empresa empenha-se em manufaturar produtos que
valham US$ 1,20 a um custo unitrio de US$ 0,90 para, ento, vend-
los por US$ 1,00. Aps realizar considervel esforo para fazer com
que este servio chegue sociedade, a empresa recebe uma recompensa
de US$ 0,10 por produto.
Knosuke Matsushita, 1978
-
7
SUMRIO
TULISTA DE FIGURAS UT...............................................................................................................9
TULISTA DE QUADROS UT...........................................................................................................11
TULISTA DE TABELAS UT ............................................................................................................12
TURESUMO UT.................................................................................................................................14
TUABSTRACTUT ............................................................................................................................15
TUINTRODUO UT ......................................................................................................................16
TU1.1 Tema UT ...............................................................................................................................18
TU1.2 Objetivos UT.........................................................................................................................19
TU1.2.1 Objetivo GeralUT .........................................................................................................19
TU1.2.2 Objetivos EspecficosUT ..............................................................................................19
TU1.3 MtodoUT............................................................................................................................20
TU1.3.1 Mtodo de Pesquisa UT .................................................................................................20
TU1.3.2 Mtodo de Trabalho UT ................................................................................................21
TU1.4 Estrutura da DissertaoUT .................................................................................................22
TU1.5 Limites do TrabalhoUT........................................................................................................22
TU2 REVISO BIBLIOGRFICA MODELOS DE ORGANIZAO DO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOSUT ...........................................................................24
TU2.1 Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) UT .........................................................25
TU2.1.1 Fases do PDPUT ...........................................................................................................26
TU2.1.2 Modelo de Avaliao do PDPUT .................................................................................32
TU2.2 Consideraes Sobre a Gesto de Custos no Desenvolvimento de ProdutosUT.................34
TU3 REVISO BIBLIOGRFICA GESTO DE CUSTOSUT...............................................36
TU3.1 Custo-Alvo UT......................................................................................................................36
TU3.1.1 Custo-Alvo e Precificao do ProdutoUT ....................................................................39
TU3.1.2 Custo-Alvo e Anlise e Engenharia do Valor (AV/EV)UT .........................................40
TU3.2 Sistemas de CusteioUT ........................................................................................................43
TU3.2.1 Princpios de CusteioUT ...............................................................................................45
-
8
TU3.1.3 Mtodos de CusteioUT .................................................................................................46
TU3.3 Gesto de Custos em ProjetosUT ........................................................................................68
TU3.3.1 Planejamento de RecursosUT .......................................................................................69
TU3.3.2 Estimativa dos CustosUT..............................................................................................71
TU3.3.3 Oramentao dos Custos UT........................................................................................72
TU3.3.4 Controle de CustosUT ..................................................................................................72
TU3.4 Consideraes Sobre a Gesto de Custos no Desenvolvimento de ProdutosUT.................74
TU4 MODELO PARA MEDIO E CONTROLE DE CUSTOS NO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOSUT ...........................................................................76
TU4.1 Gesto de Custos no Pr-Desenvolvimento e no Ps-Desenvolvimento de ProdutosUT ...77
TU4.1.1 Gesto de Custos no Pr-Desenvolvimento de ProdutosUT ........................................78
TU4.1.2 Gesto de Custos no Ps-Desenvolvimento de ProdutosUT ........................................79
TU4.2 Gesto de Custos no Desenvolvimento de ProdutosUT ......................................................79
TU4.2.1 Determinao das Caractersticas do ProdutoUT .........................................................81
TU4.2.2 Gesto pelo Custo-AlvoUT ..........................................................................................85
TU4.2.3 Clculo do Custo Relacionado ao DPUT .....................................................................90
TU4.2.4 Modelo de Custeio por CaractersticasUT ....................................................................94
TU4.2.5 Processo de Melhoria a Partir da Ferramenta do Custo-AlvoUT ...............................101
TU4.3 Consideraes Sobre o Modelo PropostoUT .....................................................................102
TU5 ESTUDO DE CASO UT ..........................................................................................................104
TU5.1 Apresentao da Sistemtica de Custeio Atualmente Adotada no PDP da Empresa
EstudadaUT..............................................................................................................................104
TU5.2 - Aplicao do Modelo para Medio e Controle de Custos no Desenvolvimento de
ProdutoUT................................................................................................................................105
TU5.2.1 - Determinao das Caractersticas dos ProdutosUT..................................................106
TU5.2.2 Gesto pelo Custo-AlvoUT .....................................................................................110
TU5.2.2 Clculo do Custo Relacionado ao DPUT ...................................................................121
TU5.2.4 Processo de Melhoria a Partir da Ferramenta do Custo-AlvoUT ............................133
TU5.3 Consideraes sobre o Estudo de CasoUT .....................................................................135
TUCONCLUSO UT.......................................................................................................................138
TU6.1 Concluses UT....................................................................................................................138
TU6.2 Recomendaes para Trabalhos FuturosUT ......................................................................140
TUREFERNCIAS UT ...................................................................................................................141
-
9
LISTA DE FIGURAS
UTFigura 1: Custos dos produtos durante a sua cadeia de valor (HORNGREN et al., 2000) T ......20
TFigura 2: Fases do PDP (Adaptado de Echeveste, 2003)T .........................................................26
TFigura 3: Desenvolvimento do projeto detalhado (PAHL e BEITZ, 1996) T .............................29
TFigura 4: Comunicao empresa e cliente (Dickson, 1997)T .....................................................32
TFigura 5: Gates primeira gerao (Cooper, 1994)T ....................................................................33 TFigura 6: Gates segunda gerao (Cooper, 1994)T ....................................................................33 TFigura 7: Modelo de Avaliao de Fases do PDP (Echeveste, 2003) T ......................................34
TFigura 8: Fluxo de atividades no custo-alvo (Fonte: GAGNE e DISCENZA, 1995)T ..............38
TFigura 9: Plano de trabalho para utilizao da AV/EV (Fonte: MONDEN, 1999) T..................43
TFigura 10: Sistema de Custeio (BORNIA, 2002)T .....................................................................44
TFigura 11: A atividade como processamento de uma informao (NAKAGWA, 1994)T.........58
TFigura 12: Estrutura geral do mtodo ABC (NAKAGAWA, 1994) T ........................................59
TFigura 13: Exemplificao da hierarquia de atividades (NAKAGAWA, 1994) T ......................59
TFigura 14: Relacionamento entre ABC e ABM (BORNIA, 2002) T ..........................................60
TFigura 15: Sistema de Custeio Baseado em Atividades (REEVE apud GOEBEL et al., 1998)T...........................................................................................................................61
TFigura 16: Viso da Gesto dos Custos do PMBOK (2000) T ....................................................70
TFigura 17: Apresentao da linha base de custo (PMBOK, 2000). T ..........................................72
TFigura 18: Anlise do Valor do Trabalho Realizado (PMBOK, 2000).T ...................................73
TFigura 19: Etapas do desenvolvimento de produtos (Adaptado de ECHEVESTE, 2003) T .......76
TFigura 20: Modelo para medio e controle de custos no desenvolvimento de produtos T ........78
TFigura 21: Gesto de custos para o desenvolvimento de produtos.T..........................................80
TFigura 22: Desdobramento de partes do produto, indicadores, especificaes e caractersticasT...........................................................................................................................83
TFigura 23: Desdobramento em partes do produto e caractersticas seguido nesta dissertaoT.84
TFigura 24: Equivalncia entre parte do produto e caracterstica submontagens e componentesT .....................................................................................................84
TFigura 25: Etapas para organizao da gesto de custos atravs do custo-alvoT .......................86
-
10
TFigura 26: Comparao da Gesto de Custos em Projetos do PMBOK e a Proposta deste TrabalhoT ............................................................................................................91
TFigura 27: Combinao de mtodos de custeio (KRAEMER, 1995)T.......................................93
TFigura 28: Custeio por caractersticas (BRIMSON, 2000) T ......................................................94
TFigura 29: Mtodo de custeio por caractersticas utilizado neste trabalho (Adaptado de KRAEMER, 1995) T............................................................................................96
TFigura 30: Fluxo das informaes da estimativa de custo relacionada ao DPT .......................100
TFigura 31: Fluxo de informaes da gesto de custos no desenvolvimento do produto T ........102
TFigura 32: Desenvolvimento de produto na empresa pesquisadaT...........................................105
TFigura 33: Desdobramento da poltrona incluindo os indicadores e especificaesT ...............106
TFigura 34: Desdobramento da poltrona excluindo os indicadores e as especificaesT ..........108
TFigura 35: Fluxo das informaes do estudo de caso relacionado ao custo-alvoT...................121
TFigura 36: Fluxo de fabricao das poltronas nos setoresT ......................................................126
TFigura 37: Fluxo das informaes do estudo de caso relacionado ao custeio da estimativa de custo no DP T .....................................................................................................133
TFigura 38: Fluxo das informaes de custos durante o processo de desenvolvimento de produtoT ............................................................................................................136
U
-
11
LISTA DE QUADROS
TUQuadro 1: Passo a passo para organizao do modelo para controle e medio de custos no DPUT .....................................................................................................................81
UTQuadro 2: Conceitos relacionados s definies de caractersticas (Ribeiro et al., 2000) T .......82 U
TUQuadro 3: Relacionamento das partes do produto e caractersticas da estrutura de brao fixo e sem cinzeiro com submontagens e componentesUT............................................109
TUQuadro 4: Elementos comuns para a parte estrutural da poltronaUT ..........................................110
TUQuadro 5: Definio dos elementos comuns das caractersticas e das partes UT ........................110
UTQuadro 6: Caractersticas principais utilizadas para verificao do preo das poltronasT.......112 U
TUQuadro 7: Postos operativos por setor envolvido na fabricao das poltronasUT ......................126
-
12
LISTA DE TABELAS
UTUTabela 1: Custo-alvo para o projeto das poltronasUT .................................................................111
TUTabela 2: Preo praticado no mercado das quatro configuraes analisadas UT .........................113
UTTabela 3: Impostos e seus percentuais incidentes no preo dos produtos da empresa T ...........113U
TUTabela 4: Preo das quatro configuraes descontando os impostosUT .....................................114
TUTabela 5: Custo-alvo das quatro configuraesUT......................................................................114
TUTabela 6: Custo-alvo IPE das quatro configuraes UT...............................................................115
TUTabela 7: Custo-alvo IPE das partes da poltrona com configurao AUT ..................................115
TUTabela 8: Custo-alvo IPE das partes da poltrona com configurao BUT ..................................116
TUTabela 9: Custo-alvo IPE das partes da poltrona com configurao CUT ..................................116
TUTabela 10: Custo-alvo IPE das partes da poltrona com configurao DUT ................................116
UTTabela 11: Custo-alvo IPE das partes das poltronas nas configuraes analisadasT ...............117U
TUTabela 12: Custo-alvo IPE das caractersticas da parte estrutural do produtoUT .......................117
TUTabela 13: Custo-alvo IPE dos elementos comuns e caractersticas da parte estrutural do produtoUT ............................................................................................................119
TUTabela 14: Custo-alvo IPE das caractersticas de porta-revistaUT..............................................119
TUTabela 15: Custo-alvo IPE das caractersticas de acabamentoUT...............................................119
TUTabela 16: Custo-alvo IPE dos elementos comuns e caractersticas da parte de acabamento do produtoUT ............................................................................................................120
TUTabela 17: Custo-alvo IPE das caractersticas e elementos comuns do produtoUT....................120
TUTabela 18: Clculo dos custos relacionados ao desenvolvimento de produto no ms de maioT.........................................................................................................................123U
UTTabela 19: Custo relacionado ao desenvolvimento no produto com o passar dos tempos T.....123 U
TUTabela 20: Custo relativo matria-prima das caractersticas e elementos comuns da poltronaT.........................................................................................................................125U
UTTabela 21: Foto ndice dos postos operativos associados fabricao das poltronasT ............128U
TUTabela 22: Clculo do foto-custo do produto-base e do valor da UEPUT ..................................128
TUTabela 23: Potenciais produtivos dos postos operativos associados fabricao das poltronasT.........................................................................................................................129U
-
13
TUTabela 24: Valor das caractersticas e elementos em UEPsUT..................................................129
TUTabela 25: Valor do custo direto de transformao das caractersticas e elementos comuns em reaisUT .................................................................................................................130
TUTabela 26: Valor dos custos indireto de transformao e despesas de estrutura das caractersticas e elementos comuns em reaisUT ..................................................131
TUTabela 27: Clculo do custo do produto custos de matria-prima (MP), custos diretos de transformao (CD) e custos de apoio transformao e despesas de estrutura (CI)UT ..................................................................................................................132
TUTabela 28: Anlise comparativa do Custo-alvo IPE e custo estimado de introduo do produto na estruturaUT......................................................................................................134
TTabela 29: Reduo monetria e percentual de cada caractersticas e elemento comumT.......134 U
-
14
RESUMO
Este trabalho discute a gesto de custos durante o desenvolvimento de produtos,
tendo como objetivo principal a proposio de um modelo para medio e controle de custos
para o mesmo. Para formulao deste modelo revisou-se a literatura referente s fases e
modelos de avaliao do processo de desenvolvimento de produtos, assim como, a literatura
relativa aos princpios de custeio (total, parcial e varivel), aos mtodos de custeio (custo-
padro, centro de custos, custeio baseado em atividades, unidade de esforo de produo,
feature costing), a ferramentas de custeio do custo-alvo e a gesto de custos em projetos. O
modelo proposto foi estruturado da seguinte forma: (1) gesto pelo custo-alvo e (2) clculo do
custo relacionado ao DP, este subdividido em: (2.1) custeio do projeto e (2.2) custeio da
introduo do produto na estrutura da empresa. Esta dissertao utilizou-se de um conceito
relativamente novo, o custeio por caractersticas, apoiado nos mtodos de custeio do custo-
padro, custeio baseado em atividades e unidade de esforo de produo. O trabalho conclui
pela apresentao de uma aplicao do modelo em uma indstria fabricante de carrocerias de
nibus.
Palavras-chave: custo, desenvolvimento de produtos, custeio por caractersticas, custeio
baseado em atividades, unidade de esforo de produo, custo-alvo, custos em projetos
-
15
ABSTRACT
This dissertation discusses the cost management regarding the product development,
having as main objective the proposal of a model for measurement and control of costs during
the product development. For its elaboration a literature review was performed concerning the
stages and the evaluation models of the product development process. It was also analysed the
literature of the cost principles (total, ideal and variable), the cost methods (standard-cost, cost
center, activity-based costing, unit of production effort and feature costing), the target costing
tool and the cost management in projects. It was concivied a model wich was structured in the
following manner: (1) management based on the target-costing and (2) calculation of the cost
related to the product development, wich is subdivided in to (2.1) cost management in
projects and (2.2) cost management of the product introduction in the company structure. This
work uses a relatively new concept, the feature costing, supported by methods of standard-
costs, activity-based costing and unit of production effort. It also provides the model
application in a body bus manufacturer.
Key-words: cost, product development, feature costing, activity-based costing, unit of
production effort, target-costing, project costs
-
16
CAPTULO 1
INTRODUO
A evoluo da administrao da produo no ltimo sculo foi significativa. Em
meados de 1900, Frederick Winslow Taylor comeava a desenvolver princpios e tcnicas que
acabaram incitando o movimento da administrao cientfica. Este trabalho consolidou
conceitos como: padronizao de ferramentas e equipamentos, seqenciamento e
programao de operaes e estudo de movimentos.
A modelagem de Taylor somada aos conceitos de linha de montagem de Henry Ford
foram impulsionadoras da produo em massa. Os conceitos Tayloristas e Fordistas de
produo por vinte ou trinta anos foram hegemnicos, tendo sofrido algumas transformaes
importantes, como as que Alfred Sloan implantou na General Motors em meados da dcada
de 30 (MAXIMIANO, 2000).
O modelo de administrao construdo por Taylor, Ford e Sloan prosperou no
ocidente at a dcada de 70, perodo em que nomes como Eiji Toyoda e Taiichi Ohno
comearam a ser conhecidos devido ao surgimento do modelo japons de administrao da
produo. Os conceitos do modelo japons permanecem at hoje, porm com diversas
alteraes: a viso por processos pregada pela reengenharia e os mais diversos tipos de
melhoria estimulados pela evoluo da tecnologia de informao.
Toda esta evoluo provocou e exigiu o desenvolvimento de diversas reas do
conhecimento, entre as quais destacam-se o desenvolvimento de produtos e a gesto de
custos.
-
17
Historicamente, percebe-se um interesse mais acentuado com respeito ao
desenvolvimento de produtos com foco mercadolgico, a partir do sculo XX. Sua
importncia se revela na medida em que o desenvolvimento de produtos passou a ser
realizado por especialistas, j que, anteriormente o engenheiro era responsvel tanto pelo
projeto, quanto pela produo do produto (CUNHA, 2002).
A imposio do mercado por produtos com menores ciclos de vida, maior qualidade
e menor preo fizeram com que o desenvolvimento de produtos constitusse um fator crucial
na competitividade industrial (CLARK e FUJIMOTO, 1991). Assim, por volta da dcada de
60, comearam a surgir modelos seqenciais com a definio das fases do desenvolvimento
de produtos. Estes modelos seriam, 30 anos depois, substitudos por mtodos de
desenvolvimento mais modernos, caracterizados por novas formas de organizao do
trabalho, consubstanciados pela Engenharia Simultnea e pelo Desenvolvimento Integrado de
Produtos (CUNHA, 2002).
Nas ltimas dcadas, tecnologias como o QFD (Quality Function Deployment), DFx
(Design for Manufacturing, Quality, entre outros) e CAD (Computer Aid Design) ajudaram o
progresso da rea de desenvolvimento de produtos. E, hoje, o desenvolvimento de novos
produtos j discute questes como a estruturao do negcio baseado no produto
(PATERSON e FENOGLIO, 1999).
A evoluo da administrao da produo, assim como do desenvolvimento de
produtos, demandou uma reestruturao dos sistemas de custeio. At 1925, quase todas as
prticas de gesto de custos tradicionais - clculo do custo de mo-de-obra, matria-prima e
despesas gerais j haviam sido desenvolvidas. No entanto, a evoluo tmida da tecnologia
de informao e a presso do mercado por balanos financeiros auditados fez com que os
sistemas de custeio ficassem estagnados, mesmo com a evoluo da administrao da
produo (JOHNSON e KAPLAN, 1993).
Na dcada de 60, com o avano da tecnologia de informao, era provvel que o
desenvolvimento dos sistemas de custeio fosse alavancado. Contudo, a simplificao contbil
continuou imperando e o que se viu foi a melhoria da administrao de custos baseada na
separao de custos fixos e variveis, anlise esta eficiente em uma empresa monoprodutora,
porm pouco til para o cenrio de produtos diversificados que comeava a surgir na poca. A
fragilidade do mtodo de separao de custos fixos e variveis se mostra na medida em que
-
18
nem mesmo questiona a origem e a taxa de consumo dos custos fixos pelos produtos
(JOHNSON e KAPLAN, 1993).
O surgimento de tecnologias avanadas robtica, projeto auxiliado por computador
(CAD), sistemas flexveis de manufatura revolucionaram o processo industrial,
modificando, assim, o perfil de custos das empresas. Essas mudanas resultaram em taxas de
custos indiretos cada vez mais elevadas, afetando a base sobre a qual os custos eram alocados,
ou seja, a mo-de-obra. Com isso, as dcadas de 80 e 90 trouxeram inovaes significativas
para a gesto de custos, a mais importante, talvez, seja o Custeio Baseado em Atividades,
mtodo eficiente para alocao de custos indiretos (BERLINER e BRIMSON, 1988).
Mesmo com toda a evoluo dos sistemas de gesto de custos, alguns desafios, como
a nfase da administrao de custos concentrada no processo produtivo, e no nas fases de
desenvolvimento de produtos (BERLINER e BRIMSON, 1988), fazem com sejam reduzidas
as oportunidades de reduo de custos dos produtos, j que a maior parte do custo dos produto
fica comprometida na fase de desenvolvimento. Logo, questes como auxiliar a equipe de
desenvolvimento de produtos passa a ser um dos desafios da rea de gesto de custos
(ATKINSON et al., 2000).
A juno destas duas reas de conhecimento, acima descritas, norteia as discusses
desta dissertao, ou seja, a gesto de custos no desenvolvimento de produtos.
1.1 TEMA
O tema escolhido para esta dissertao a gesto de custos no desenvolvimento de
produtos. Este assunto se justifica na medida em que, atualmente, o mercado consumidor,
aps toda a evoluo tecnolgica, espera produtos de alta qualidade, maior funcionalidade e
preos baixos. Logo, a tentativa de manter estvel a margem de lucro pelo simples aumento
de preo resulta inevitavelmente na eroso da posio de mercado. Dessa forma, o
desenvolvimento de novos produtos tornou-se fator chave para a obteno de vantagens
competitivas (BRIMSON, 1996).
Quando se analisa o desenvolvimento de produtos, percebe-se que alguns autores
(ANDREASEN E HEIN, 1987; COOPER, 1990; PAHL E BEITZ, 1996; PRASAD, 1996;
KOTLER, 2000; DICKSON, 1997; CRAWFORD E BENEDETTO, 2000; ECHEVESTE,
2003) que propem metodologias para DP (desenvolvimento de produtos), citam a gesto
-
19
econmica como um dos fatores crticos para evoluo do PDP (processo de desenvolvimento
de produtos). Esses autores citam diversos mtodos de anlise de investimento como
ferramentas para a gesto econmica no desenvolvimento de produtos.
Segundo Iglesias (1999), os mtodos de anlise de investimento apresentam
caractersticas eficazes no que tange aos aspectos econmicos. No entanto, a validade das
informaes fornecidas por esses mtodos depende dos dados includos na avaliao. Esse
autor afirma que os dados, gerados pelo sistema de custeio, so cruciais para uma anlise de
investimento adequada. Com isso, fica evidente a importncia de um trabalho sobre gesto de
custos no desenvolvimento de produtos.
Como foi comentado, o acirramento da competio atual faz com que o preo dos
produtos decline cada vez mais. Sabe-se que o lucro de um produto determinado pela
diferena de seu preo e seu custo, o que torna evidente a importncia do controle de custos
do produto para que, assim, seu lucro possa ser monitorado e planejado.
No entanto, no se pode apenas controlar os custos dos produtos em fabricao,
sendo este controle necessrio desde a concepo, ou seja, desde o desenvolvimento, j que a
maior parte dos custos de um produto so determinados nesta fase, conforme Figura 1. Logo,
na fase inicial do ciclo de vida de um produto que se tem maiores oportunidades para
reduo de custos. Para apoiar uma reduo de custos efetiva, necessrio, portanto, um
sistema de custeio adequado ao desenvolvimento de produtos.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral desta dissertao apresentar um modelo para medio e controle
de custos no desenvolvimento de produtos.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Neste trabalho, pode-se apresentar como objetivos especficos:
a. Revisar a literatura referente s fases e modelos de avaliao do processo de
desenvolvimento de produtos (PDP).
-
20
b. Verificar a literatura relativa aos princpios de custeio total, parcial e varivel,
aos mtodos de custeio custo-padro, centro de custos, custeio baseado em
atividades (activity-based costing ABC), UEP (unidade de esforo de
produo), Feature Costing , s ferramentas de custeio custo-alvo (target
costing) -, assim como revisar a literatura relativa a gesto de custos em projetos.
c. Realizar um estudo de caso para validao do modelo terico formulado (caso:
indstria de montagem de carrocerias de nibus).
Cus
to
Desenvolvimento ProduoM a rke t ing
D is t rib uio e A t e nd ime nt o ao
C o ns umid o r
A t iv id ad e s na C a d e ia d e
V a lo r
Figura 1: Custos dos produtos durante a sua cadeia de valor (HORNGREN et al., 2000)
1.3 MTODO
Nesta seo so detalhados o mtodo de pesquisa e o mtodo de trabalho.
1.3.1 MTODO DE PESQUISA
Quanto natureza, a pesquisa se classifica como aplicada, j que objetiva gerar
conhecimentos para aplicao prtica, dirigidos soluo de problemas especficos. A forma
de abordagem quantitativa, pois o trabalho quantificou custos relacionados ao
desenvolvimento de novos produtos.
Segundo Gil (1995), as pesquisas com objetivo exploratrio tm como finalidade
-
21
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idias, com vistas formulao de problemas
mais precisos ou construo de hipteses, em geral assumindo levantamento bibliogrfico e
estudo de caso. Esta dissertao se enquadra nesta classificao, j que se props a
desenvolver um modelo, relacionado gesto de custos no DP, com base na utilizao de
hipteses, sendo realizada inicialmente uma reviso bibliogrfica seguida de estudo de caso.
O estudo de caso a metodologia indicada quando (Yin, 1994):
a. buscam-se respostas a questionamentos de como? e por qu?;
b. investigadores possuem pouco controle sobre o evento estudado;
c. o foco da pesquisa localiza-se em um fenmeno contemporneo dentro de um
contexto da vida real.
1.3.2 MTODO DE TRABALHO
Inicialmente, foi realizada uma reviso bibliogrfica referente aos modelos de
organizao do desenvolvimento de produtos. Isto porque se pretendia verificar como esses
modelos tratavam a gesto de custos e, principalmente, qual a lgica utilizada pelos autores na
sua estruturao. Com isso, pde-se identificar a lacuna de gerenciamento de custos no DP.
Aps, partiu-se para uma reviso bibliogrfica referente gesto de custos. Esta
abrangendo desde tcnicas consagradas at algumas novas, recentemente publicadas, sendo a
gesto de custos em projetos, tambm, includa. Com a concluso desta etapa, pde-se
verificar quais tcnicas so adequadas para o DP.
A seguir, com base na reviso bibliogrfica, foi estruturado o modelo para medio e
controle de custos no desenvolvimento de produtos. Uma vez estruturado, partiu-se para o
estudo de campo.
O estudo de caso foi realizado numa empresa automotiva fabricante de carrocerias de
nibus. Atravs de viagens empresa, fez-se o levantamento de dados junto ao pessoal de
engenharia e controladoria. Aps a obteno dos dados, estes foram trabalhados com o
objetivo de possibilitar a aplicao do modelo empresa em questo. Essa aplicao foi feita
em uma das fases do desenvolvimento de produto.
Atravs da aplicao, foi possvel visualizar aspectos que poderiam ser melhorados.
-
22
Ento, partiu-se para a reestruturao do modelo proposto com o objetivo de deix-lo o mais
adequado possvel s caractersticas do PDP.
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAO
O trabalhado se distribui em seis captulos, conforme descrito a seguir.
O captulo 1 apresenta o tema e suas justificativas, seguido dos objetivos, do mtodo
e limites do trabalho.
O captulo 2 aborda a reviso da literatura sobre modelos de organizao do
desenvolvimento de produtos em empresas.
O captulo 3 apresenta uma reviso bibliogrfica sobre gesto de custos.
O captulo 4 a proposta de um modelo de sistema de custos que apie a medio e
o controle de custos no desenvolvimento de produtos.
O captulo 5 retrata um estudo de caso e a aplicao do modelo proposto na
dissertao em uma indstria de montagem de carrocerias de nibus.
No captulo 6, apresentam-se as concluses relativas aplicabilidade do modelo
proposto e algumas propostas para realizao de pesquisas futuras.
1.5 LIMITES DO TRABALHO
Essa dissertao se limita gesto de custos no desenvolvimento de produtos;
portanto, questes como mtodos de engenharia econmica (avaliao de investimento) no
so abordados.
Este trabalho no aplicado em um projeto completo de um produto; logo, em
algumas fases talvez sejam necessrias algumas alteraes do modelo.
No focado, no modelo a ser proposto, o processo de melhoria; portanto, este
trabalho fica limitado ao controle e medio de custos dos produtos em desenvolvimento.
Questes como a percepo do cliente no preo do produto, tambm, no so
tratadas.
-
23
O modelo no totalmente validado no estudo de caso.
-
24
CAPTULO 2
2 REVISO BIBLIOGRFICA MODELOS DE ORGANIZAO DO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
Nas ltimas dcadas, o desenvolvimento de novos produtos sofreu considervel
transformao. Antigamente, ele era visto como propriedade do departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) das empresas, sendo o mercado basicamente um receptador das
inspiraes do pessoal da engenharia. A competio, ento menos acirrada, fazia com que o
tempo de desenvolvimento no fosse um fator crtico, e a inovao era pura e simplesmente
tecnolgica (POOLTON e BARCLAY, 1998).
Hoje, o desenvolvimento de novos produtos se tornou multifuncional, e pessoas de
todas as reas da empresa esto envolvidas no processo. O aumento da competio fez que os
consumidores se tornassem mais exigentes, e, com isso, questes como o desenvolvimento de
novos produtos tornaram-se fundamentais para o novo cenrio empresarial (POOLTON e
BARCLAY, 1998).
A inovao tornou-se vital para a maioria das empresas, j que os produtos, na sua
maioria, tm-se tornando obsoletos rapidamente. A diminuio do ciclo de vida do produto
faz que o tempo de desenvolvimento tambm se altere. E, alm disso, as exigncias relativas
qualidade continuam a pressionar as corporaes (COOPER, 1996).
Dessa forma, a organizao do processo de desenvolvimento de novos produtos
(PDP) um dos fatores crticos para o sucesso no desenvolvimento de novos produtos
(COOPER e KLEINSCHMIDT apud COOPER, 1996), e as fases do PDP so um assunto
-
25
tratado por diversos autores: Andreasen e Hein (1987), Cooper (1990), Pahl e Beitz (1996),
Prasad (1996), Kotler (2000), Dickson (1997), Crawford e Benedetto (2000), Cunha et al.
(2003) entre outros.
Este captulo trata das fases do PDP, na medida em que correspondem
operacionalizao do desenvolvimento de produtos, servindo como um guia genrico.
Procura-se fazer, no final da seo, uma relao das fases do PDP com as questes relativas
economicidade dos produtos em cada etapa.
2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (PDP)
O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) relativamente complexo, j que
engloba desde a identificao da oportunidade de mercado at o lanamento do produto. A
literatura apresenta diversos modelos para desenvolvimento de novos produtos, no entanto
no h um consolidado, sendo que alguns conceitos podem diferir entre os modelos. Logo,
faz-se necessria a definio de dois conceitos para um melhor entendimento das fases do
processo de desenvolvimento de produtos: Engenharia Concorrente (EC) e Desenvolvimento
Integrado do Produto (DIP).
A Engenharia Concorrente (Engenharia Simultnea) surgiu devido presso pela
diminuio do tempo de desenvolvimento (PRASAD, 1996), sendo seu objetivo integrar o
desenvolvimento concorrente de produtos e seus respectivos processos, englobando tanto o
pessoal de fabricao, como o de suporte (WINNER et al. apud PRASAD, 1996). Hoje, fala-
se em conceitos mais amplos da EC, mas o seu princpio est ligado integrao de equipes
no desenvolvimento de produtos.
O Desenvolvimento Integrado de Produtos diz respeito a um modelo idealizado, que
integra, em termos de criao, marketing, produto e produo. um processo interativo que
gerencia o processo de desenvolvimento de produtos (ANDREASEN e HEIN, 1987). O DIP
busca, atravs da integrao das atividades em equipes (EC) e dos modelos de
desenvolvimento de produtos, o gerenciamento do PDP, integrando, a tudo isto, a viso
estratgica (ECHEVESTE, 2003).
Na literatura, encontram-se conceitos que confundem as definies de EC e de DIP.
No que diz respeito a este trabalho, importante que fique clara a simultaneidade e a
integrao desses dois conceitos agregados s fases do PDP.
-
26
O processo de desenvolvimento de produtos est dividido em fases, as quais
englobam todas as atividades desenvolvidas no PDP. Essas fases devem ser avaliadas atravs
de modelos durante o andamento do projeto para que se garanta a qualidade do processo de
desenvolvimento. Nas prximas sees, so apresentadas as fases do PDP e um modelo de
avaliao para as mesmas.
2.1.1 FASES DO PDP
As fases do PDP so abrangidas genericamente, neste trabalho, podendo estas serem
aplicadas juntamente com um modelo de avaliao mais flexvel, como tratado
posteriormente. As fases so apresentadas de forma seqencial, somente por questes
didticas, j que se deve ter em mente que as questes de EC e de DIP so atuantes durante
todo o desenvolvimento de produtos.
A descrio das fases possui a viso de diversos autores, mas foi utilizado como base
para sua formulao a organizao realizada no trabalho de Echeveste (2003). Isto, porque
este modelo trata as fases do desenvolvimento de produtos de maneira simples e objetiva. As
fases esto dividas conforme a Figura 2, e so descritas uma a uma, a seguir.
AvaliaoPreliminar do
Mercado
Desenvolvimentodo Conceito
ProjetoPreliminar Projeto
Detalhado Desenvolvimentodo Prottipo
Planejamentoda Produo
Desenvolvimentoda Produo
Lanamento doProduto
FASE 0FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
Desenvolvimento doProjeto do Produto
FASE 6
Figura 2: Fases do PDP (Adaptado de Echeveste, 2003)
-
27
2.1.1.1 FASE 0 AVALIAO PRELIMINAR
A identificao de uma oportunidade de negcio o ponto inicial do
desenvolvimento de um produto. Uma necessidade do mercado, seja com relao a um
produto j existente ou indito, a impulsionadora da identificao da oportunidade de
negcio. A pesquisa de mercado um importante instrumento na identificao dessa carncia
(KOTLER, 2000). Dickson (1997) prope algumas formas para a identificao de novas
oportunidades:
a. Inovaes de fornecedores;
b. Idias de funcionrios;
c. Inovaes da concorrncia;
d. Nova tecnologia proveniente de pesquisa;
e. Idias de consumidores;
f. Inovaes de mercados externos;
g. Simplificao de alguma tecnologia j existente.
A partir da identificao de uma necessidade de mercado, parte-se para gerao de
idias, para que o problema seja solucionado. importante, neste momento, que ele esteja
claramente identificado, de modo que as idias possam fluir em uma mesma direo
(CRAWFORD e BENEDOTTO, 2000). Kotler (2000) descreve a listagem de atributos,
relacionamentos forados, anlise morfolgica, identificao do problema/necessidade,
brainstorming como algumas das tcnicas utilizadas para gerao de idias.
Com as idias formuladas, os executivos devem prioriz-las, levando em conta,
primeiramente, a misso da corporao e as metas financeiras e, em segundo plano, avaliando
as competncias de fabricao e de distribuio, assim como fatores culturais do mercado
(COOPER apud DICKSON, 2001). Cooper (1990) chama a ateno para a importncia do
alinhamento das idias selecionadas com o negcio da corporao.
2.1.1.2 FASE 1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO
Neste momento so especificados os princpios do projeto de um novo produto. O
desenvolvimento do conceito deve mostrar como o novo produto deve ser para atingir os seus
-
28
benefcios bsicos; logo, estes j devem ter sido definidos. ideal que sejam gerados o maior
nmero possvel de conceitos (BAXTER, 1998). A proposta, neste ponto do desenvolvimento,
formular as especificaes do projeto, verificar a viabilidade de fabricao e, ainda, levantar
a viabilidade econmica do produto (COOPER, 1990).
Nesta fase, deve-se estabelecer as configuraes bsicas do produto (CUNHA,
2002).Sendo que testes de conceito devem ser conduzidos para aceitao do consumidor
(KOTLER, 2000).
Como final do desenvolvimento do conceito, deve-se ter uma definio do produto
com mercado-alvo, conceitos do produto e seus benefcios, vantagens que esse produto ter
sobre os da concorrncia e sua viabilidade de produo. requerido, tambm, um plano de
ao detalhado do projeto, assim como justificativas para prosseguimento do ponto de vista
do negcio (ANDREASEN e HEIN, 1987; COOPER, 1996).
2.1.1.3 FASE 2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PRODUTO
O desenvolvimento do projeto do produto se constitui do projeto preliminar e do
projeto detalhado.
a) Fase 2.1 Projeto Preliminar
No projeto preliminar, a definio conceitual formalizada, ganhando seus
contornos, sendo estabelecidas as caractersticas estruturais do produto, assim como forma,
geometria e materiais (CUNHA, 2002).
No desenvolvimento do conceito, fase 1, verifica-se como o projeto est alinhado
com os planos e estratgias de produtos existentes, com apontamento dos benefcios para a
empresa e para o cliente, anlise dos competidores atuais e futuros e uma anlise financeira de
risco. J o projeto preliminar do produto especifica como ser realizado o produto, em termos
de investimentos, cronograma de desenvolvimento, disponibilidade de recursos para avaliao
do projeto e uma anlise de risco mais formal, incluindo riscos financeiros, tecnolgicos e
exigncias de confiabilidade de projeto (ECHEVESTE, 2003).
Questes financeiras so essenciais para a passagem do projeto preliminar para o
projeto detalhado, na medida em que, a partir deste momento, o despende monetrio
elevado, para alguns produtos.
-
29
b) Fase 2.2 Projeto Detalhado
O projeto tcnico do produto realmente executado no projeto detalhado. Pahl e
Beitz (1996) propem um mtodo para desenvolvimento do projeto tcnico, sendo que o
desenvolvimento do projeto detalhado e do projeto preliminar se confundem um pouco neste
mtodo, conforme Figura 3.
Identificar as exigncias para execuo do projeto
Produo de desenhos
Identificar as funes principais
Determinar layout preliminar e design para cumprimento das funes principais
Selecionar layout preliminar
Procurar por solues funes auxiliares
Determinar layout detalhado e design para cumprimento das funes principais e auxiliares
Avaliar questes tcnicas versus econmicas
Otimizar e completar o projeto
Checar se h erros
Preparar lista com as partes preliminares e documentos para produo
Identificar as exigncias para execuo do projeto
Produo de desenhos
Identificar as funes principais
Determinar layout preliminar e design para cumprimento das funes principais
Selecionar layout preliminar
Procurar por solues funes auxiliares
Determinar layout detalhado e design para cumprimento das funes principais e auxiliares
Avaliar questes tcnicas versus econmicas
Otimizar e completar o projeto
Checar se h erros
Preparar lista com as partes preliminares e documentos para produo Figura 3: Desenvolvimento do projeto detalhado (PAHL e BEITZ, 1996)
O projeto detalhado fornece todas especificaes tcnicas do produto. Com este
projeto pode-se iniciar o desenvolvimento do prottipo e da produo.
2.1.1.4 FASE 3 DESENVOLVIMENTO DO PROTTIPO
Com o projeto detalhado em mos, parte-se para o desenvolvimento do prottipo
que, aps finalizao, submetido aos testes necessrios para aprovao (COOPER, 1993).
Como as fases do PDP ocorrem de forma paralela preparao do prottipo, j se pode ter
uma idia mais exata da exeqibilidade do produto na produo.
A partir deste momento, o produto fica definido. Dessa forma, necessria uma
-
30
simulao detalhada de custos, j que a ltima chance para uma maior reduo de custos
antes da execuo fsica do produto propriamente dito.
2.1.1.5 FASE 4 PLANEJAMENTO DA PRODUO
As fases de desenvolvimento da produo e do produto so de difcil separao.
Segundo Eversheim et al. (1997), as informaes relativas ao design do produto e do processo
fluem paralelamente. A equipe responsvel pelo processo de fabricao deve verificar os
riscos de produo ao mesmo tempo em que o projeto est sendo concebido (GRIFFIN e
HAUSER, 1996).
O DFx (Design for x) uma ferramenta de auxlio no momento do desenvolvimento
de produtos. O DFx engloba questes como: Design for Quality, Design for Assembly, Design
for Manufacturing (PAHL e BEITZ, 1996). No que diz respeito ao Design for Manufaturing,
Stoll apud Suh (1990) fornece algumas regras que auxiliam no planejamento da fabricao no
momento do design:
a. Minimizar o nmero de partes do produto;
b. Desenvolver um projeto modular;
c. Usar componentes padres;
d. Projetar partes para serem multifuncionais;
e. Projetar partes que sejam de fcil fabricao;
f. Evitar partes fixadas;
g. Minimizar as direes de montagem.
Suh (1990) prope uma metodologia de design denominada Design Axiomtico
(Axiomatic Design). Segundo o autor, o cumprimento dos passos propostos na metodologia
propicia uma melhor, ou mais adequada, fabricao do produto.
Marcopoulos et al. (2000), descreve, em linhas gerais, o planejamento do processo
como:
a. Coneco das partes do produto s partes do processo: a rvore do produto (bill
of materials) auxilia no desdobramento do processo da fabricao;
b. Seleo do processo a ser utilizado;
-
31
c. Determinao de como ser feita a montagem para que se obtenha a otimizao
de troca rpida de ferramentas (set-up);
d. Seleo do equipamento e do fornecedor;
e. Com base no planejamento do processo feito seu sequenciamento, assim como
toda a logstica necessria para sua execuo;
d. Clculo do tempo de processamento (lead-time) e do custo de produo do
produto.
Nesta fase, feito todo o desenvolvimento do ferramental que ser utilizado para
produo do produto, quando isto for necessrio.
A simulao computacional uma ferramenta que propicia a predio de como ser
o funcionamento do processo antes da sua implantao. A aprovao do processo de produo
autoriza recursos, compras e investimentos necessrios para o desenvolvimento da produo.
2.1.1.6 FASE 5 DESENVOLVIMENTO DA PRODUO
Neste estgio so feitas a verificao e validao da produo, bem como a estratgia
de marketing do produto proposto. So realizados testes com consumidores e com o sistema
de fabricao (COOPER, 1996). Deve-se avaliar diversas variveis de desempenho, como
desempenho no uso, custo de fabricao e facilidade para montagem e desmontagem
(DICKSON, 1997).
Com o processo em funcionamento so feitos testes com os produtos produzidos na
linha-piloto. Os resultados dos testes geram um documento comprovando a capacidade de
produo em relao ao produto (ECHEVESTE, 2003).
Ozer (1999) cita dois importantes testes a serem aplicados: o pr-teste e o teste de
mercado. O pr-teste simula a situao de uma loja e verifica a reao de compradores
potenciais em relao ao produto. O teste de mercado o ltimo passo antes da
comercializao, no qual, ainda, utilizada uma produo limitada do produto.
Com os resultados obtidos atravs das consultas aos clientes, os engenheiros podem,
caso necessrio, reprojetar o produto para produo, em parceria, ou no, com os
fornecedores. A modificao pode, ento, ser reavaliada pelos consumidores e comparada aos
produtos dos concorrentes. A velocidade deste retorno de comunicao da empresa com o
-
32
cliente de extrema importncia, pois determina o quanto a empresa conhece o cliente, a
abertura da corporao para mudanas e sua habilidade de implementao (DICKSON, 1997).
A Figura 4 apresenta a comunicao entre empresa e cliente.
Teste de mercado com o consumidor
Desenvolvimento do conceito
Especificaes do produto e
desenvolvimento
Marketing
P & D
Figura 4: Comunicao empresa e cliente (Dickson, 1997)
2.2.1.7 FASE 6 LANAMENTO DO PRODUTO
O lanamento do produto envolve questes como quando lanar o produto, qual a
estratgia geogrfica de comercializao do produto, em que escala o produto entrar no
mercado e qual estratgia de preo a ser adotada (KOTLER, 2000).
As projees financeiras devem estar totalmente detalhadas, j que serviro como
oramento para o produto. As margens, o fluxo de caixa e as receitas geradas pelo produto no
futuro sero comparados aos objetivos estipulados nesta fase (COOPER, 1993).
O encerramento do processo de desenvolvimento envolve a implementao do plano
de marketing e de operaes. Assim, o projeto de desenvolvimento de produtos estar
terminado, sendo este incorporado aos produtos regulares da empresa (ECHEVESTE, 2003).
A partir desta fase, deve-se comear a fazer o acompanhamento das metas de vendas do
produto (CUNHA et al., 2003).
2.1.2 MODELO DE AVALIAO DO PDP
O sistema de avaliao, baseado em gates, um modelo conceitual e operacional
para conduzir um novo produto desde a idia at o seu lanamento (COOPER, 1990). Os
gates so revises gerenciais estruturadas em pontos crticos do projeto de novos produtos,
com o objetivo de rever as atividades do projeto, avali-lo a partir da perspectiva do negcio e
-
33
decidir se o projeto continuar, se ser redirecionado, adiado ou cancelado (VALERI et al.,
2000).
Antes da passagem de uma fase para outra existe um gate. Pode-se fazer um paralelo
disso com os itens de controle no processo de produo (COOPER, 1990). Cada gate
caracterizado por uma srie de informaes referentes ao desenvolvimento da fase a ser
analisada (inputs) e outra de dados a serem gerados (outputs).
Esse mtodo de avaliao do PDP, baseado em gates, evoluiu juntamente com o
prprio PDP (COOPER, 1994). O PDP se comportava, inicialmente, de maneira seqencial,
sendo os gates delimitadores das fases do PDP, conforme Figura 5. Neste momento, o mtodo
era rgido e burocrtico e por isso era mal visto por muitas empresas (COOPER, 1994;
GRIFFIN e HAUSER, 1996; HUDGES e CHAFIN, 1996).
Idia
Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4
1 2 3 4
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
etc.
Figura 5: Gates primeira gerao (Cooper, 1994)
Num segundo momento, a simultaneidade das fases do PDP fez com que os gates se
tornassem mais flexveis, conforme Figura 6. Com isso, um indicador que no tenha
alcanado os padres pr-determinados, no necessariamente interrompe o projeto, j que o
tempo de desenvolvimento passa a ser fator crucial no desenvolvimento de produtos
(COOPER, 1994; DICKSON, 1997).
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 etc.
Idia
Gate Gate Gate Gate Gate Figura 6: Gates segunda gerao (Cooper, 1994)
Echeveste (2003) prope um mtodo de organizao das atividades nas fases que
inclui a abordagem dos gastes, conforme Figura 7. No mtodo, percebe-se a participao de
diversos setores no desenvolvimento de produtos, entre os quais est o setor de custos.
-
34
GATE 0
CUSTOS
MARKETING
PROJETO
ENGENHARIA
COMPRAS
PRODUO
DIREO
Aval
ia
o Pr
elim
inar
do
Mer
cado
Dire
trize
s de
Nov
os P
rodu
tos
Ger
ao
e T
riage
m d
e Id
ias
Ger
ao
dos
Con
ceito
s
BASE DE INFORMAO PARA O PDP
DADOSAMBIENTAISSociaisEconomicosPolticosJurdicos
DADOS CONCORRENCIAISFabricantes existentesIdentificao dos concorrentesPerfomance dos concorrentes
DADOS INTERNOSFinanceirosCapacidade fsica e pessoalPerfomance histrica daempresa
DADOS TECNOLOGIA EINOVAOAlternativas existentesTendncias
Aprova planejamento denovos produtos e
variantes e gera concietomarketing/estratgico
TEMPO
DOCUMENTAAO DO PDP
GATE 1 GATE 2 GATE 4GATE 3 GATE 5
EquipeEquipe Equipe EquipeEquipe
GATE 6
Equipe
Apr
ova
Con
ceito
Apr
ova
ver
so
Pro
jeto
det
alha
dio
Apro
va P
rot
tipo
Libe
ra p
ara
prod
uo
Apro
va L
iinha
Pilo
to
Libe
ra P
rodu
to p
ara
vend
as
Desenvolvimento doConceito
Desenvolvimento doProjeto do produtoo
Planejamento demarketing/produo
Desenvolvimento daproduo
Lanamento do produto
PS-DESEN
VOLVIM
ENTO
DESENVOLVIMENTOPR-DESENVOLVIMENTO
Figura 7: Modelo de Avaliao de Fases do PDP (Echeveste, 2003)
importante salientar que, na Figura 7, quando se fala em custos, deve-se considerar
todas as atividades associadas gesto econmica do PDP.
2.2 CONSIDERAES SOBRE A GESTO DE CUSTOS NO DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS
Tendo como base o processo de desenvolvimento de produtos apresentado neste
trabalho, percebe-se que a questo econmica mencionada, em quase todas fases do
desenvolvimento, como um dos itens a ser analisado.
As obras dos autores (ANDREASEN e HEIN, 1987; COOPER, 1990; PAHL e
BEITZ, 1996; PRASAD, 1996; KOTLER, 2000; DICKSON, 1997; CRAWFORD e
BENEDETTO, 2000; ECHEVESTE, 2003), utilizados para fundamentao do processo de
desenvolvimento de produtos, comentam a necessidade da gesto econmica no PDP. Como a
definio das fases no a mesma para todos autores, eles alocam em diferentes fases do
desenvolvimento as questes econmicas, sendo que alguns, como Cooper (1990), propem
avaliaes econmicas em quase todas as fases do desenvolvimento.
Os mtodos de gesto econmica, citados pelos autores, dizem respeito aos mtodos
de anlise de investimento. Isto explicvel na medida em que o processo de
desenvolvimento de produtos pode ser tratado como um projeto, e nesses, historicamente, so
-
35
feitas aplicaes destes mtodos (GARDINER e STWART, 2000; PINDER e
MARUCHECK, 1996; ANDERSON et al., 2000). O Mtodo do Tempo de Recuperao de
Capital (Payback), do Ponto de Equilbrio, do Retorno Sobre o Investimento (ROI), do Fluxo
de Caixa Descontado (FCD), da Taxa Interna de Retorno (TIR) so alguns dos mtodos,
citados por Cooper (1993), utilizados para anlise econmica de projetos de produtos.
Segundo Iglesias (1999), os mtodos de anlise de investimento apresentam
caractersticas eficazes no que tange aos aspectos econmicos. No entanto, a validade das
informaes fornecidas por esses mtodos depende dos dados includos na avaliao. Iglesias
(1999) afirma que as informaes geradas pelo sistema de custeio fornecem dados cruciais
para uma anlise de investimento adequada.
Portanto, informaes adequadas de custos so essenciais para que os mtodos de
anlise de investimentos sejam eficazes. Informaes ruins, relativas aos custos dos produtos,
levam a previses financeiras ruins.
Um estudo de custos no desenvolvimento de produtos no se justifica somente para
melhoria das informaes para gesto financeira. Outro qualificador para o tema o fato de
que a maior parte dos custos dos produtos determinada na fase de desenvolvimento. Logo,
no momento em que se inicia a fabricao, as oportunidades para reduo de custos se tornam
escassas (PAHL e BEITZ, 1996; ANDREASEN e HEIN, 1987; HORNGREN et al., 2000). A
Figura 1 mostra como os custos de distribuem nos produtos durante a cadeia de valor.
No se pode pensar em reduo e controle de custos sem um sistema de custeio
adequado. Se grande parte dos custos incorridos no produto provm do seu desenvolvimento,
um sistema de custeio que possibilite a reduo e controle de custos durante o PDP de
grande importncia.
Logo, o foco desta reviso bibliogrfica passa a ser sistemas de custeio, para que, no
modelo a ser proposto, seja possvel uma adequao dos sistemas de custeio s necessidades
de controle e medio de custos no PDP.
-
36
CAPTULO 3
3 REVISO BIBLIOGRFICA GESTO DE CUSTOS
A bibliografia, no que diz respeito gesto de custos, extensa. Quando ela
analisada em relao ao custeio no desenvolvimento de produtos, a ferramenta mais
comentada na literatura o custo-alvo (target costing). Esta se utiliza da engenharia de valor e
dos mtodos de precificao para sua operacionalizao.
Neste trabalho no revisado somente o custo-alvo, mas tambm os sistemas de
custeio, tradicionais e contemporneos, aplicados no gerenciamento de custos, incluindo-se a
princpios e mtodos, assim como a gesto de custos em projetos. Isto se explica, pois alguns
trabalhos (RAZ e ELNATHAN, 1998; TORNBERG et al., 2002) comeam a utilizar mtodos
de custeio, como o ABC (Custeio Baseado em Atividades), aplicados no desenvolvimento de
produtos e gerenciamento de projetos.
Este captulo, inicialmente, apresenta uma reviso de custo-alvo, incluindo a
precificao e a anlise/engenharia de valor. Aps, mostra os sistemas de custeio, tradicionais
e contemporneos, abrangendo princpios e mtodos, e conclui com a gesto de custos em
projetos, tpico intimamente relacionado gesto de custos no desenvolvimento de produtos.
3.1 CUSTO-ALVO
Este trabalho utiliza o livro de Bornia (2002) como base para a montagem da reviso
bibliogrfica referente gesto de custos. Esse autor trata o sistema de custeio como uma
composio entre princpios e mtodos, visto que custo-alvo no se enquadra nesta
-
37
classificao, ele tratado como uma ferramenta para gesto de custos.
O custo-alvo surgiu em 1965 na Toyota, conforme Tanaka apud Gagne e Discenza
(1995). No Japo, os contadores esforaram-se para conseguir a adequao do sistema de
custeio do produto estratgia da corporao no desenvolvimento de novos produtos. As
empresas japonesas costumavam usar o custo-alvo para motivar os funcionrios a seguirem o
planejamento de longo prazo, e no, somente, para aumentar a preciso dos dados para a
gerncia. As questes de desempenho, solicitadas devido a presses do mercado, eram
levadas em conta pelos japoneses, sendo, ento, considerados os fatores externos, e no
somente os internos. Neste contexto surgiu o custo-alvo (GAGNE e DISCENZA, 1995).
O custo-alvo veio suprir o espao deixado pelo gerenciamento de custos no
desenvolvimento de produtos (EVERAERT e BRUGGEMEN, 2002). No Japo, a maioria das
empresas vem o custo-alvo no como um elemento isolado, mas como parte integrante do
processo de desenvolvimento de produtos. Segundo Cooper e Slagmulder (1999), o custo-alvo
uma ferramenta de gerenciamento estratgico dos lucros futuros das corporaes, j que a
maneira como esse sistema gerencia os custos propicia um aumento da lucratividade (OMAR,
1997).
O custo-alvo inicia-se com a definio do preo de venda, baseado, geralmente, em
pesquisa de mercado para o desenvolvimento de produtos. Com isso, diminuda a margem
de lucro desejada, sendo, ento, determinado o custo-alvo (GAGNE e DISCENZA, 1995;
COOPER e CHEW, 1996), conforme Equao (1).
LucrodeemMeoAlvoCustoAlvo argPr = (1)
Segundo Monden (1999), pode-se citar como objetivos bsicos do custo-alvo:
a. Reduo do custo dos novos produtos, fazendo que se obtenha o lucro desejado
pela empresa. E, ainda assim, ter garantida a qualidade, o tempo de entrega e o
preo exigidos pelo mercado.
b. Motivar os funcionrios a alcanarem o custo-alvo no desenvolvimento de
produtos, fazendo deste uma atividade de gerenciamento de lucros por toda a
empresa.
Uma questo importante do custo-alvo o seu relacionamento com o planejamento
-
38
de longo prazo (TANI et al., 1994), na medida em que os produtos introduzidos tero, alm
do preo adequado, qualidade e funcionalidade necessrias para atender o mercado (COOPER
e CHEW, 1996). Logo, o custo-alvo faz com que a estratgia de desenvolvimento de produtos
seja voltada para as oportunidades de mercado e, tambm, previna as empresas do
desenvolvimento de produtos com pequena ou desconhecida margem (COOPER e CHEW,
1996). A Figura 8 mostra basicamente o fluxo de atividades do gerenciamento a partir do
custo-alvo.
Determina o preo de venda do produto
Estabelece a margem de lucro
Determina o Custo-Alvo
Engenharia/Anlise de Valor
Estima os custos
No Alvo?
Tomada de Deciso
Manda para Fabricao
Sim
No
Determina o preo de venda do produto
Estabelece a margem de lucro
Determina o Custo-Alvo
Engenharia/Anlise de Valor
Estima os custos
No Alvo?
Tomada de Deciso
Manda para Fabricao
Sim
No
Determina o preo de venda do produto
Estabelece a margem de lucro
Determina o Custo-Alvo
Engenharia/Anlise de Valor
Estima os custos
No Alvo?
No Alvo?
Tomada de Deciso
Manda para Fabricao
Sim
No
Figura 8: Fluxo de atividades no custo-alvo (Fonte: GAGNE e DISCENZA, 1995)
Percebe-se, com base na observao da Figura 8, que o fluxo de atividades passa pela
definio de preo de venda do produto, sendo utilizado, para isto, mtodos de precificao.
Aps, definida a margem de lucro que a empresa deseja trabalhar, sendo esta particular de
cada empresa e do produto que estar-se- comercializando (GAGNE e DISCENZA, 1995).
Com essas duas informaes, o custo-alvo definido, conforme Equao (1). Logo, parte-se
para a anlise ou engenharia de valor (AV/EV). Com esta, feita a reduo de custos do
produto, sendo verificado o seu alcance (ou no) do alvo; caso no alcance, necessria nova
anlise de valor. Se o custo estimado for igual ou menor que o previsto, o projeto levado
deciso final para ingresso ou no na fabricao (GAGNE e DISCENZA, 1995).
-
39
Deve-se destacar a simplicidade da ferramenta, percebendo-se que as questes de
precificao do produto, definio da margem e AV/EV so as mais relevantes. A
particularidade da margem de lucro j foi comentada neste texto; portanto, no aprofundada.
Nas prximas sees, so discutidas a precificao de produto e a AV/EV devido sua
relevncia para o mtodo.
3.1.1 CUSTO-ALVO E PRECIFICAO DO PRODUTO
No gerenciamento de custos pelo custo-alvo, a definio do preo um fator
relevante j que, nas fases iniciais, deve-se definir questes sobre a natureza econmico-
financeira do produto, com base em custos e preo. Segundo Kotler (1998), sempre que a
empresa desenvolve um novo produto ou lana um produto regular em um novo canal de
distribuio ou rea geogrfica necessrio serem definidos os preos. Basicamente, so
utilizados trs tipos de abordagens para definio de preos de produtos, no sendo elas
excludentes entre si, j que uma prtica eficiente de gesto solicita as trs (CHURCHILL e
PETER, 2000; HORNGREN et al., 2000):
a. Preo baseado no custo: o preo do produto deve ser suficientemente alto para
cobrir os custos fixos e variveis. Podendo ser citadas duas tcnicas de
precificao baseada em custos (CHURCHILL e PETER, 2000);
Preo de Mark-up: o acrscimo de uma taxa ou margem ao custo do produto (KOTLER, 1998; CHURCHILL e PETER, 2000);
Preo de Retorno-Alvo: a empresa determina o preo que assegura sua taxaalvo de retorno sobre o investimento (ROI) (KOTLER, 1998;
CHURCHILL e PETER, 2000).
b. Preo de Valor Percebido: muitas empresas baseiam o seu preo no valor
percebido do produto. Elas vem as percepes de valor dos compradores, no
seus custos. Ajusta-se idia de posicionamento do produto (KOTLER, 1998);
c. Preo de Mercado: a empresa baseia seus preos nos dos concorrentes. Esta
uma boa soluo quando os custos so de difcil mensurao e a resposta dos
concorrentes incerta (KOTLER, 1998).
Os custos relacionados ao produto determinam o preo mnimo a ser cobrado
(KOTLER, 1998). Mesmo que a empresa no utilize uma abordagem de precificao baseada
-
40
em custos, a reduo destes trar uma maior lucratividade, sendo isso um desejo de todas as
empresas.
Com base nos mtodos descritos, feita a definio do preo, que o dado de
entrada para determinao do custo-alvo. importante que cada empresa selecione o mtodo
de precificao mais adequado sua realidade, sendo que o uso paralelo de diversos mtodos
o mais indicado.
3.1.2 CUSTO-ALVO E ANLISE E ENGENHARIA DO VALOR (AV/EV)
A anlise de valor teve sua origem no ocidente; no entanto, teve sua prtica difundida
no Japo (YOSHIKAWA et al. 1995). Segundo Monden (1999), a anlise de valor o
corao do custo-alvo, sendo a ferramenta utilizada para reduo de custos com a finalidade
de alcance do custo-alvo (MCNAIRet al., 2001; YOSHIKAWA et al., 1995; CREESE, 2000).
Csillag (1995, p. 59) define AV/EV como: um esforo organizado, dirigido para
analisar as funes de bens e servios para atingir aquelas funes necessrias e
caractersticas essenciais da maneira mais rentvel. J a Sociedade Japonesa de Engenharia
de Valor descreve engenharia de valor como: uma abordagem sistemtica que estuda as
funes dos produtos ou servios para atingimento de suas funes necessrias a um mnimo
custo (YOSHIKAWA et al., 1995).
Segundo Csillag (1995), a aplicao da AV/EV possibilita:
a. Identificar a funo de um produto ou servio;
b. Estabelecer valor para cada funo;
c. Realizar determinada funo ao menor custo, sem degradao.
Segundo Cunha (2002), h uma diferenciao entre Anlise de Valor (AV) e
Engenharia de Valor (EV). Conforme o autor, AV uma ferramenta de reprojeto e a EV uma
de projeto de raiz, ou seja, o desenvolvimento de um novo produto. Neste trabalho, estas
ferramentas so tratadas da mesma forma, pois, apesar de suas aplicaes diferirem, o seu
mtodo de aplicao o mesmo.
A definio de valor fundamental para o entendimento da tcnica. Valor a relao
entre funo e custo. O valor pode ser dado em funo do consumidor, conforme Equao (2),
-
41
ou do produtor, conforme Equao (3). Logo, o aumento de valor pode-se dar pelo aumento
das funes ou benefcios; ou pela reduo de custos ou preos (HAMILTON, 2002).
Entender o valor requerido pelo consumidor bsico para criao da vantagem competitiva
(MCNAIR et al., 2001).
eoBenefcioValorConsumidor Pr
= (2)
CustoFunoValor odutor =Pr (3)
A AV/EV uma tcnica que pode ser utilizada tanto em produtos j existentes como
em novos produtos (YOSHIKAWA et al., 1995; CREESE, 2000). Em geral, aplicada no
momento do desenvolvimento de produtos (CREESE, 2000), j que analisa quais alternativas
de engenharia do produto e fabricao so essenciais para obteno das especificaes do
produto (TATIKONDA e TATIKONDA, 1994).
A AV/EV aumenta sua importncia na medida em que os mtodos tradicionais de
reduo de custos no se preocupam com as funes de cada componente e focam apenas o
custo dos mesmos. A tendncia, com isso, que os componentes mais caros sejam
sacrificados, sem que se leve em conta sua importncia. A AV/EV procura aumentar o valor
relativo do produto ou servio em relao ao seu custo (BAXTER, 1998).
A reduo de custos da engenharia de valor d-se a partir de funes, do produto ou
sistema, no requeridos pelo cliente (MCDUFF, 2001). Funo, segundo Csillag (1995, p.
60), : o objetivo de um produto ou sistema operando em sua maneira normalmente
prescrita, qualquer coisa que faz o produto ou sistema funcionar ou vender. aquilo que
deve ser desempenhado.
Toda a funo composta por um verbo e um substantivo; como exemplo, pode-se
citar remover casca como sendo a funo da lmina de um descascador de batatas
(BAXTER, 1998; YOSHIKAWA et al., 1995; CSILLAG, 1995). As funes dividem-se
hierarquicamente como (BAXTER, 1998; CSILLAG, 1995):
a. Principal: explica a existncia do produto;
b. Bsicas: fazem funcionar o produto;
-
42
c. Secundrias: suportam, ajudam, possibilitam ou melhoram a bsica.
Quanto finalidade, as funes se classificam em (BAXTER, 1998; CSILLAG,
1995):
a. De uso: possibilitam o funcionamento do produto, podendo ser bsicas ou
secundrias, sendo, ainda, mensurveis. Ex: amplificar corrente (ampre), aplicar
fora (kgf), criar projeto (tempo).
b. De estima: so as caractersticas que tornam o produto atrativo, aumentando o
desejo do consumidor de possu-lo, no sendo, estas, mensurveis. Ex: aumentar
beleza, diminuir forma, melhorar aparncia.
Existem outras classificaes com relao s funes do produto Por no ser o foco
principal do trabalho no so detalhadas.
A definio das funes, algumas vezes, no um processo simples; logo,
necessrio avaliar questes como (CSILLAG, 1995):
a. O que se est tentando fazer quando se desempenha a ao?
b. Por que necessrio fazer isso?
c. Por que necessrio o componente?
A anlise de funes uma tcnica interessante, j que mostra aos designers como o
cliente usa o produto e, ainda, pode provocar o surgimento de novos conceitos ao produto.
Esta tcnica amplamente adotada na AV/EV (BAXTER, 1998), sendo importante, para uma
adequada anlise de funes, o uso da rvore do produto (BAXTER, 1998; YOSHIKAWA et
al., 1995).
Yoshikawa et al. (1995) definem uma srie de passos para a formulao do processo
de anlise de funes:
a. Coletar informao;
b. Definir funes;
c. Desenhar as funes na rvore do produto;
d. Calcular os custos de cada funo;
e. Estimar o valor relativo de cada funo para o cliente;
-
43
f. Apontar o custo-alvo de cada funo;
g. Determinar possveis problemas de determinadas funes;
h. Sugerir alternativas;
i. Selecionar soluo final;
j. Implementar as solues e verificar os resultados.
A anlise de funes parte integrante da AV/EV, assim como a AV/EV do custo-
alvo, logo o processo de anlise de funes se confunde com o de anlise de valor. O plano de
trabalho de como aplicada a AV/EV apresentado na Figura 9.
Coletarinformaes
1Quais funes?
O que afuno faz?
Qual o custoestimado da
funo?
Qual o valorda funo
(custo-alvo)?
Existe outramaneira (melhor)
de fazer a mesma coisa?
Como funcionao plano de melhorias?
O plano agregavalor de forma
confivel?
Definirfunes
2
Organizarfunes
3
Calcular oscustosEstimadosespecficospor funo
4
Elaborarplanos demelhorias
6
Avaliarfuno
5
Avaliaodetalhada
8
Avaliaoresumida edescriodetalhada
7
Definirfunes
Avaliarfunes
Esboarplanos demelhoria
Etapa 1
Etapa 3
Etapa 2
Coletarinformaes
1 Coletarinformaes
1Quais funes?Quais funes?
O que afuno faz?
O que afuno faz?
Qual o custoestimado da
funo?
Qual o custoestimado da
funo?
Qual o valorda funo
(custo-alvo)?
Qual o valorda funo
(custo-alvo)?
Existe outramaneira (melhor)
de fazer a mesma coisa?
Existe outramaneira (melhor)
de fazer a mesma coisa?
Como funcionao plano de melhorias?
Como funcionao plano de melhorias?
O plano agregavalor de forma
confivel?
O plano agregavalor de forma
confivel?
Definirfunes
2 Definirfunes
2
Organizarfunes
3 Organizarfunes
3
Calcular oscustosEstimadosespecficospor funo
4 Calcular oscustosEstimadosespecficospor funo
4
Elaborarplanos demelhorias
6 Elaborarplanos demelhorias
6
Avaliarfuno
5 Avaliarfuno
5
Avaliaodetalhada
8 Avaliaodetalhada
8
Avaliaoresumida edescriodetalhada
7 Avaliaoresumida edescriodetalhada
7
Definirfunes
AvaliarfunesAvaliarfunes
Esboarplanos demelhoria
Esboarplanos demelhoria
Etapa 1
Etapa 3
Etapa 2
Figura 9: Plano de trabalho para utilizao da AV/EV (Fonte: MONDEN, 1999)
Com a reviso relativa ao custo-alvo finalizada, pode-se partir para a reviso sobre
sistemas de custeio.
3.2 SISTEMAS DE CUSTEIO
A reviso em relao aos sistemas de custeio se explica na medida em que os
mesmos podem aperfeioar a gesto de custos no desenvolvimento de produtos.
-
44
Um breve histrico deve ser dado sobre a evoluo dos sistemas de custeio, ou seja,
da contabilidade de custos, estando, neste pequeno histrico, os trs principais objetivos de
um sistema de custeio avaliao de estoques, controle de custos e auxlio deciso
(MARTINS, 2001, p. 23):
A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, quando da necessidade
de avaliar estoques na indstria, tarefa essa que era fcil na empresa tpica da era do
mercantilismo. Seus princpios derivam dessa finalidade primeira e, por isso, nem sempre
conseguem atender completamente a suas outras duas mais recentes e importantes tarefas:
controle e deciso. Esses novos campos deram nova vida a essa rea que, por sua vez, apesar
de j ter criado tcnicas e mtodos especficos para tal misso, no conseguiu ainda explorar
todo o seu potencial; no conseguiu, talvez, sequer mostrar a seus profissionais e usurios que
possui trs facetas distintas que precisam ser trabalhadas diferentemente, apesar de no serem
incompatveis entre si.
Um sistema de custeio composto por princpios e mtodos, conforme Figura 10. Os
princpios regem o tipo das informaes geradas, para que fins so utilizadas as informaes,
e quais informaes a empresa necessita (BORNIA, 2002). Ataca a problemtica da
variabilidade dos custos fixos ou variveis. Os mtodos de custeio verificam a problemtica
da alocao de custos diretos ou indiretos - (KRAEMER, 1995). a parte operacional de
um sistema de custeio, ou seja, como os dados sero processados (BORNIA, 2002).
Custos
Princpios Mtodos
Custos
Princpios Mtodos
Figura 10: Sistema de Custeio (BORNIA, 2002)
Alguns termos relativos a custos industriais se confundem na utilizao diria;
portanto, faz-se necessrio defini-los, para futura utilizao no trabalho, conforme Martins
(2001) e Bornia (2002):
a. Gasto: sacrifcio financeiro com que a entidade arca para obteno de um
produto ou servio qualquer.
-
45
d. Custo: o valor de bens ou servios consumidos eficientemente na produo de
outros bens ou servios. o que deveria ser gasto para obteno de produto ou
servio.
e. Perda: bem ou servio consumido de forma anormal e involuntria.
f. Desperdcio: o esforo econmico que no agrega valor econmico. mais
abrangente que o conceito de perda, pois, alm das perdas anormais, engloba as
ineficincias normais do processo.
g. Desembolso: pagamento resultante da aquisio do bem ou servio; pode
ocorrer em momento diferente do gasto.
h. Despesa: bem ou servio consumido direta ou indiretamente para obteno de
receitas. As despesas reduzem o patrimnio lquido. Ex: o gasto com a aquisio
de uma mquina transformado em investimento nas demonstraes financeiras,
mas a sua depreciao uma despesa.
i. Investimento: gasto ativado em funo de sua vida til ou de benefcios
atribuveis a futuro perodo.
Faz-se, nos prximos tpicos, a conceituao de princpios e de mtodos de custeio.
3.2.1 PRINCPIOS DE CUSTEIO
Os princpios de custeio diferem quanto questo da alocao dos custos fixos e
variveis, mais precisamente no tratamento dos custos fixos. Os princpios de custeio
dividem-se em (Bornia, 2002; Kliemann, 2002):
a. Absoro total (integral);
b. Absoro ideal (parcial);
c. Varivel (direto).
3.2.1.1 ABSORO TOTAL (INTEGRAL)
Na absoro total, a totalidade dos custos (fixos e variveis) distribuda aos
produtos. Este sistema adapta-se s exigncias da contabilidade financeira, j que se presta
para avaliao de estoques. O princpio est relacionado com o conceito de gasto, e suas
informaes podem ser utilizadas para algumas decises empresariais (BORNIA, 2002;
-
46
KLIEMANN, 2002).
3.2.1.2 ABSORO IDEAL (PARCIAL)
No custeio ideal, os recursos usados de forma no-eficiente, ou seja, desperdcios,
no so alocados aos produtos. Logo, s so alocados os custos referentes utilizao
eficiente dos recursos. O custeio ideal adapta-se s exigncias da melhoria contnua, na
medida que expe os desperdcios existentes na corporao. Est relacionado com o conceito
de custo e eficiente para apoio s decises gerenciais de longo prazo (BORNIA, 2002;
KLIEMANN, 2002).
3.2.1.3 VARIVEL
No custeio varivel, apenas os custos variveis so alocados aos produtos, sendo os
custos fixos considerados custos do perodo. eficiente para apoio s decises gerenciais de
curto prazo (BORNIA, 2002; KLIEMANN, 2002).
3.1.3 MTODOS DE CUSTEIO
Os mtodos de custeio, que so analisados a seguir, diferem quanto questo da
alocao dos custos diretos e indiretos. Os mtodos de custeio dividem-se em (BORNIA,
2002; KLIEMANN, 2002):
a. Custo-Padro;
b. Centros de Custos;
c. Unidade de Esforo de Produo (UEP);
d. Custeio Baseado em Atividades (ABC).
Alm desses, discutido neste trabalho o custeio por caractersticas (feature costing),
que no chega a ser um mtodo de custeio, mas, sim, um desdobramento dos mtodos acima
descritos.
3.1.3.1 MTODO DO CUSTO PADRO
O mtodo do custo-padro um mtodo de origem americana, concebido no final do
sculo XIX e, ainda, muito utilizado em seu pas de origem. Basicamente, ele atua no controle
-
47
e acompanhamento da produo, e, em segundo plano, na medio de custos (KRAEMER,
1995).
O custo-padro se aproxima muito mais aos princpios de custeio do que aos mtodos
de custeio. No entanto, tratado como mtodo, pois este utilizado, por alguns autores, para
anlise dos custos de matria-prima (BORNIA, 2002).
Algumas vezes, o custo-padro confundido com o custo ideal de fabricao de um
determinado item. Definido, ento, como o valor conseguido com o uso das melhores
matrias-primas possveis, com a mais eficiente mo-de-obra vivel, a 100% da capacidade da
empresa, sem nenhuma parada por qualquer motivo, a no ser as j programadas em funo
de uma perfeita manuteno preventiva (MARTINS, 1997, p. 332).
O custo-padro ideal extremamente restrito, sendo o custo-padro corrente o mais
vlido e prtico. Este o valor estabelecido como meta para determinado produto ou servio,
levando-se em conta as deficincias existentes em termos de qualidade de materiais, mo-de-
obra direta, equipamentos, fornecimento de energia etc (MARTINS, 1997).
O grande objetivo do custo-padro fixar uma base de comparao entre o que
ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. Com isso, as diferenas entre o padro e o real
so, ento, evidenciadas e analisadas. Portanto, o custo-padro no uma forma de
contabilizar custos, mas sim uma tcnica auxiliar (MARTINS, 1997; BORNIA, 2002). O
mtodo ajuda na fixao dos padres de comportamento desejados e na determinao e
discriminao das diferenas verificadas, apontando o caminho para procura das causas
(BORNIA, 2002). A fixao de valores do padro deve, sempre que possvel, ser estabelecida
em quantidades fsicas e econmicas (MARTINS, 1997).
O mtodo possui limitaes para padronizao dos custos indiretos de fabricao. A
principal razo deste problema que no se consegue encontrar base fsica consistente para
relacionar tais custos, e, por conseqncia, o desdobramento da variao destes tem pouca
significncia (KRAEMER, 1995).
Pode-se citar a avaliao de desempenho, o incentivo a um melhor desempenho, a
facilitao na elaborao de oramentos confiveis, a orientao da poltica de preos, a
determinao de responsabilidades, a identificao de oportunidades de reduo de custos, o
subsdio adoo de medidas corretivas e a diminuio do trabalho administrativo entre as
-
48
vantagens da utilizao do mtodo do custo-padro (KLIEMANN, 2002).




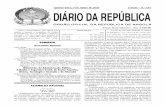



![Desenho Tecnico [Unlocked by Www.freemypdf.com]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55cf9abd550346d033a32b4a/desenho-tecnico-unlocked-by-wwwfreemypdfcom.jpg)






![Apostila Moldes [Unlocked]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5572106b497959fc0b8d2420/apostila-moldes-unlocked.jpg)
![[Unlocked] INSTRU ES · AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO (02-T) - 2 - Prova aplicada em 24/02/2013 – Disponível no site a partir do dia 25/02/2013 CARGO: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Texto](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5fbefbdee0f4726f4f2fecea/unlocked-instru-es-auxiliar-de-fiscalizafo-02-t-2-prova-aplicada-em-24022013.jpg)


![AutoCAD 2D - Exercícios SENAI [Unlocked by Www.freemypdf.com]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55cf91aa550346f57b8f6f82/autocad-2d-exercicios-senai-unlocked-by-wwwfreemypdfcom.jpg)
