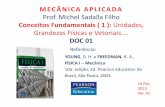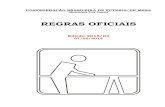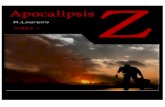002_2006-01.doc
-
Upload
paulu-rosario -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of 002_2006-01.doc

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01
A MULHER E A MORTE NO ROMANCE DO SÉCULO XIX
João Carlos de Carvalho
Prof. Dr. Teoria Literária UFAC - AC
O desenvolvimento do romance pós-Balzac significou, para o Ocidente, um
enfrentamento de questões cruciais para a compreensão da evolução dos valores burgueses
na época, por isso associar esse autor, junto a Stendhal, como aquele a investir
decisivamente numa forma nova de realismo na ficção. Mais adiante, esse realismo se
articularia a um apego à palavra até então sem igual, o que, no dizer de Barthes, iniciaria a
problemática da literatura, inaugurando a modernidade propriamente dita.
Viveríamos, concomitante a isso, num mundo em que as fronteiras entre as classes,
dissolvidas na voragem do possível, ganharam uma dramaticidade como matéria fabulesca
sem igual até então, já que enquanto a burguesia se tornava o ideal de classe dentro de um
certo imaginário, ao mesmo tempo, irradiava também uma repugnância por parte de muitos
escritores que, portanto, na figura emblemática de Flaubert, resumiria um certo afã de
retorno ao charme aristocrático por meio da palavra trabalhada. A literatura francesa, nesse
período, sendo assim, promove um verdadeiro redimensionamento do romance enquanto
provocador de uma importante etapa de compreensão do homem ocidental dentro de um
torvelinho de valores que se colidia decisivamente em suas contradições1. Sendo assim, no
século XIX, as narrativas construiriam um compromisso de delimitar os campos e os
espaços discursivos por meio de um combate de inscrição, campo este que obrigava um
certo tipo de literatura a ter o compromisso de diálogo com as imensas variáveis sociais de
então. Neste sentido, qualquer classe que se pretendesse hegemônica se via logo
confrontada no cerne dos seus valores e o romance se tornava impressionantemente o
instrumento a desorientar o que fosse estabelecido, não sem mexer com as suas próprias
feridas internas. 1 Obviamente, que outras importantes expressões literárias, como o romance inglês – Dickens, Thackeray –, participam desse processo, mas é particularmente na ficção francesa, num momento estratégico, que se encontra uma via temática que se tornará modelo quase universal dentro do romantismo e mais adiante do que seria conhecido como realismo.
1
1

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01A força do romance no século XIX (que poderíamos chamar de o século do
romance) advém justamente de um processo que o levava a um desafio de superação, ao
confrontar os próprios valores que o alimentavam. A figura da mulher, nesse sentido,
ocupou um papel extremamente interessante como intercessora entre os pontos divergentes
que se construíam em torno de um potencial de criação, ao mesmo tempo que colidia com
uma ânsia de pureza cada vez maior por parte da palavra escrita. O romance, no século
XIX, como é facilmente verificável, sem dúvida, tentou inscrevê-la dentro de um circuito,
mais ou menos programável, de uma moral burguesa sustentada a partir de uma herança
ainda mal resolvida com a era aristocrática. Neste sentido, a partir do crivo romântico-
realista, simbolicamente, ela ocupará o papel de suprir a ausência de uma época que sugere
o seu retorno por meio dos auspícios de uma nova ordem econômica e ideológica.
A figura da morte em algumas narrativas clássicas do século XIX, portanto, impõe
uma espécie de estatuto de redenção pela palavra e, no caso da mulher, de alguma maneira
essa palavra se torna exemplar de um complexo de pureza. Diferentemente do século
XVIII, a morte da mulher, aqui, não significa a aferição de um juízo de valor, ou uma
tentativa de ajuste, mas, sobretudo, um confronto que leva ao esvaziamento do próprio2.
Para tanto, neste artigo, examinarei de perto a relação morte e mulher através de três
romances sintomáticos desse processo limite: A prima Bete, de Honoré de Balzac, Lucíola,
de José de Alencar e Naná, de Emile Zola. Aí, a ambição e a humildade se confrontam de
forma bastante perversa e revelam um jogo de papéis extremamente interessantes para se
conhecer a complexa trama ideológica que sustenta a maioria das narrativas longas do
século XIX.
Em A prima Bete, Balzac utiliza suas reconhecidas técnicas de inserir suas
personagens dentro de um certo contexto e situação social que gritam o tempo todo pelo
limite psicológico onde elas transitam. A maneira deslizante de narrar desse autor tem,
sobretudo, a ver com a forma como ele vai despindo as cascas em que cada uma,
aparentemente, se via obrigada a agarrar. Dessa maneira, as personagens se vêem
2 Num romance alemão, por exemplo, As afinidades eletivas, de Goethe, a morte da mulher é muito mais emblemática e edificante, pois possui um sentido fundamental de recomeço. A moral burguesa, naquele período, está razoavelmente alicerçada a uma tradição e a um desejo de renovação sem maiores traumas. Em A princesa de Clèves, de Madame de La Fayette, isso é ainda mais perceptível, já que a sua morte não é propriamente uma punição, mas o símbolo maior da vontade vencendo o desejo.
2
2

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01iniludivelmente arrastando a carga simbólica de uma época que se quer inteira por meio das
partes mal resolvidas, procurando conciliar inclusive certos interesses entre as classes, mas
que funciona, e é só por isso que existe, sempre pela metade. Não há mais para elas uma
outra saída que não seja a inveja ou a morte, esta última da pior maneira possível. Ao
organizar em torno das suas tramas uma constelação de traços decorativos para um
determinado ambiente, Balzac investe de forma peremptória num quadro que deve capturar
e dar a suas personagens condições de emergirem com todo o direito a suas mesquinharias
e desejos supérfluos. Alimentadas desses elementos, elas revelam conceitos extremamente
imperiosos em torno de um projeto que as jogam numa roda-viva torturante, onde o que é
natural dentro de um código possa parecer absurdo sob um outro ponto de vista. É dessa
articulação que se orienta um narrador onisciente, sempre disposto a ir aos extremos das
questões pessoais, dissecando o desejo como a buscar a origem de um mal. No seio de uma
sociedade altamente competitiva, naquele momento, só um ímpeto catedralesco seria capaz
de reunir tantos enredos que se entrelaçam em torno de um princípio comum de vaidade e
de enriquecimento material, e que contamina a todos, indiferentemente se menos ou mais.
Todos buscam o seu status ou a manutenção deste, seja porque que via for, a ponto da
inocência estar completamente banida, mesmo nos mais “puros” e desinteressados gestos.
Porém o grande problema levantado pela prosa balzaquiana diz respeito à maneira como
essa pureza deverá ser marcada através da morte e como isso foi levado adiante.
Com Balzac, o romance ocidental não disfarça o ímpeto devorador de vidas e
valores em colisão, dessa forma, sugere uma sociedade definitivamente aburguesada e o
gênero literário que melhor se adapta a ela, com direito a um público leitor cada vez mais
ávido e também devorador de enredos capazes de suprir os pontos de intercessão entre o
desejo e a falta dele, o que não significa a ausência, mas sim o obscurecimento em que se
transitam essas forças polares. Com Balzac, o desejo se mantém aliado de uma forma
minúscula de lidar com a miséria humana em seus múltiplos detalhes. Prima Bete, neste
sentido, é sintomático enquanto um romance capaz de se organizar por meio de uma série
de transacionamento interacionais, que promovem um reagrupamento das forças dispersas,
assim como a inevitável saturação dos gestos e espaços medidos.
3
3

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01Entre a elegância de uma aristocracia decadente e os recursos monetários de uma
burguesia ascendente, sobram poucos motivos para se valorizar certos sentimentos nobres,
porém, é sempre buscando uma possível articulação entre o que pode cada personagem a
partir do seu desejo despertado, por meio de um processo de competição, que se rearticulam
as novas normas liberais, na presciência de que o estado, a religião, a indústria e o comércio
se unem em torno de um processo único de progresso, enquanto a farsa das relações sociais,
supostamente o sustento aos projetos individuais, é desmascarada de maneira dolorosa pela
desilusão romântica, e é aí que a mulher e sua “alma” ocupam um papel imprescindível.
A prima Bete é uma personagem exemplarmente transacional desse processo, pois,
atingida pela inveja, traça um percurso de uma casa de “boa família” à casa de uma
“perdida”, de maneira a permitir que toda a trama convirja, nesse romance, para um grande
reconhecimento de terreno dos valores que estão em jogo, dialogicamente se retomarmos o
termo bakhtiniano. Mesmo que seus planos de vingança nunca dêem certo, a prima Bete
proporciona uma escalada de punições dos “inocentes” e “culpados” indiretamente, de certa
forma promovendo uma moral dependente de um julgamento do qual ela não tem das
outras personagens, mas do qual o leitor, àquela altura, sem dúvida, reconhece como o
vetor de força da própria trama narrativa, pois entre vencedores e vencidos sobram poucas
glórias, e nesse caso a própria Bete morre sem ser reconhecida como inimiga tanto de um
lado como de outro, pois não há horizonte que não se redimensione, dentro do próprio
projeto balzaquiano, para o diagnóstico de uma sociedade imersa na sua loucura, de um
passado que não pode ressurgir sem arrastar todas as chagas e manchas de um tempo que
parece paralisado, porque a burguesia ascendeu com tudo que havia de ruim nele. A prima
Bete é um romance modelar, portanto, na trajetória do grande escritor francês e já indica o
que seus epígonos terão de carregar. A morte brutal da adúltera Valéria, purgando por entre
as chagas e a podridão o arrependimento de seus atos, dará bem o tom do que o autor vê
como base de purificação para que alguns princípios sejam mantidos. Flaubert se
encarregará de dar o ingrediente complicador disso tudo, já que a linguagem seria a
maneira fetiche de traduzir a ânsia de pureza num grau ainda mais perverso que o seu
antecessor.
4
4

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01Lucíola, de José de Alencar, inscrito como um dos seus romances urbanos, marca a
presença do realismo Balzaquiano nas letras brasileiras de maneira ainda mais dialética. A
protagonista, na visão do romântico brasileiro, traduz a nossa ânsia de progresso ao mesmo
tempo que tenta legitimar toda uma trajetória de valores que espelha a situação do nosso
Segundo Império e da definição de um país em formação.
Um intelectual do porte de José de Alencar no Brasil, daquele período, já indica a
nossa necessidade de atualização e também uma certa ânsia de superar o nosso
provincianismo, sendo que, por outro lado, o país necessita de ser redescoberto por um
olhar mais atento às nossas diferenças. Lucíola é o protótipo de uma personagem que
representa os dois lados de uma cultura que quer emergir sem maiores traumas. É marcada
pela inscrição dupla de ser prostituta e santa, o que, no correr da narrativa, redimensiona o
seu papel a ponto de torná-la um híbrido em situação agônica. Claro, a falta de saída de sua
condição feminina nada mais justifica que o próprio impasse de indefinição, mas reforça a
condição de fazer da linguagem da incipiente literatura nacional uma questão de urgência.
Claro, menos peremptório que em seus romances indianistas, José de Alencar investe aqui
também na superação de um trauma. Na figura de Maria, irmã de Lucíola, é que está o
segredo de redenção burguesa, aquela que poderá suspender a situação de impasse vivida
pela protagonista. Paulo, seu amado impossível, com isso, está livre para seguir o seu
caminho bem traçado de rapaz com futuro promissor.
A segurança que Lucíola deposita no trajeto da irmã reflete a necessidade de
sublimar perversamente o seu duplo, no caso da linguagem, fazer atravessar o realismo
balzaquiano num idealismo que venha reforçar os valores que precisavam ser,
paradoxalmente, inventados e reforçados. Nasce, praticamente, a nossa literatura desse
esforço, que encontrará eco em outras obras do autor cearense, mas sobretudo na imagem
de uma mulher que se arrepende sinceramente de seus pecados acaba por inscrever uma
certa hipocrisia da qual nosso romantismo teria muitas dificuldades de assumir. Isso nos
levaria mais adiante a uma tradução ainda mais canhestra da nossa ânsia de superação por
meio dos retratos realistas e naturalistas. O Brasil é uma “lucíola” arrependida que tentará
purificar o seu futuro promissor através de muitos outros personagens modelares da nossa
escola romântica.
5
5

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01Na Europa, as coisas, obviamente, teriam outros andamentos, mesmo porque, lá, o
romantismo se impôs principalmente como força remodeladora dos valores, mas o que não
tornou menos complicado a transplantação do modelo balzaquiano, tanto aqui como lá.
Desta forma, a explosão de conflitos internos de uma sociedade em convulsão e que revela,
no plano artístico, uma voragem devoradora de formas, o depósito de acúmulo de traumas,
numa certa altura para a arte do romance, seria parcialmente resolvido pelo Naturalismo à
Zola. Neste sentido, a escola realista, tal como planejada em Balzac, reduz-se a uma espécie
de esperança de denúncia das mazelas sociais, como se a maneira de des-cobrir os véus de
uma sociedade corrupta e injusta se resumisse a um plano onde a arte se tornasse servil ao
referente, com o agravante de não perder de vista a ânsia de purificação inaugurada
anteriormente pela crença cada vez maior na palavra. Isso não seria nenhum problema no
nível de contradição evolutiva da narrativa ocidental se o naturalismo não causasse estragos
impressionantes nas ex-colônias da América. Os modelos literários vão além do
entrecruzamento de obras como ocorria em Alencar, onde se perceberia a presença de
várias fontes, além da principal que era Balzac. O naturalismo emerge como o paladino de
um processo que terá de cessar a qualquer custo um dia. A burguesia encontra nessa
expressão uma boa dose amarga de um remédio, que é, na verdade, um paliativo.
Novamente a mulher surge como o protótipo do qual recairá sobre ela o pesado fardo de
representar a ponta de um iceberg.
Em Naná, romance modelo de Zola, assim como anteriormente Madame Bovary, de
Flaubert, foi para as adúlteras, a figura da prostituta é tratada como uma caricatura, que, de
um ponto a outro, pode ser a mais sublimes das sedutoras ou se tornar a mais desagradável
e obesa das marafonas. Zola investe suas teses científicas para compor um painel de
desolação da Paris de meados do século XIX, mas não disfarça a impressão de varredura e
moralismo que o seu romance-tese apresenta. O fim trágico da protagonista, tomada até a
alma pelas deformações purulentas da varíola (lembrando Valéria de Balzac em A prima
Bete), revela agora um universo em decomposição apocalíptica. A prostituta é o resguardo
de uma época que, agora, tem de passar a todo custo. A mulher surge, mais uma vez, como
símbolo de medida dos valores burgueses que querem se manter de maneira autofágica. O
6
6

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01complexo de pureza aqui responde a um apelo impressionante de cura a qualquer custo, já
que nada tão óbvio como esse tipo de punição àquela altura.
Confrontando os três romances aqui vistos, percebemos, em A prima Bete, a
necessidade de um esvaziamento essencial, onde o romance ocupa um papel de deglutidor
de um processo onde as personagens articulam papéis estratégicos para se auto-regularem.
Os valores burgueses em ascensão dão à figura feminina o direito de escolha, mas não de
salvação ou de felicidade. Em Lucíola, há um evidente filtro à verve balzaquiana, o que não
disfarça muito a sua poderosa influência, mas, por outro lado, se impõe como uma releitura
de um passado que nunca existiu para nós. A mulher, ali, é o protótipo de um valor
emergente que passará tranqüilamente de um estado a outro por meio de uma sublimação
irresistível. O direito à felicidade é possível porque não houve, entre nós, o mesmo
processo doloroso de aburguesamento como na Europa. Em Naná, a provocação se
encontra principalmente na curva de um estado de coisas que não suportará o pêndulo por
muito tempo. À mulher não é dado o direito de um meio-termo ou, como símbolo, nada
mais representará do que um certo estado de decrepitude de uma sociedade imersa em
impensáveis contradições. Em Alencar, ao menos, a prostituta poderia se sonhar santa no
seu duplo. Em Balzac, a adúltera teria o direito ao arrependimento, mesmo que ele
cheirasse tão mal.
O século do romance não foi muito benevolente com as mulheres, pelo menos entre
alguns dos seus principais representantes. Seja em Balzac, Flaubert, José de Alencar, Zola,
Tolstoi ou mesmo em Eça ou Machado de Assis, todas, inevitavelmente, pagaram um preço
doloroso por ocuparem uma posição estratégica dentro da ânsia de pureza despertada,
contraditoriamente, com a ascensão dos valores burgueses. Quanto mais se conquistava um
aspecto da vida social, outro se impunha como uma emergência. Cada grande autor tratou
de confrontar aquilo que lhe interessava, dentro dos seus planos estéticos ou ideológicos,
mas nos autores citados fica patente uma certa dose de sombrio realismo. A morte se torna
sempre uma solução dolorosa, mas inevitável. A mulher, neste sentido, naquele momento,
carrega o peso de ser um dos tesouros mais facilmente decomponível ao olhar analítico de
uma ficção que quer, ávida, debruçar-se sobre o único objeto que ela acredita conhecer por
meio de uma ilusória força de uma maior descrição psicológica.
7
7

REVISTA QUERUBIM ISSN 1809-3264
Revista eletrônica de trabalhos científicos nas áreas de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais.
2006/01
BIBLIOGRAFIA:
AUERBACH, E. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. 2.ed.
São Paulo: Perspectiva, 1987. 507 p.
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo:
Hucitec/Unesp, 1988. 439 p.
BARTHES, R. O grau zero da escritura. São Paulo: Cultrix, 1971. 106 p.
8
8