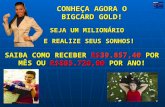0034-8910-rsp-47-00-2-0019 (1)
-
Upload
wander-luiz -
Category
Documents
-
view
222 -
download
3
description
Transcript of 0034-8910-rsp-47-00-2-0019 (1)
-
Rev Sade Pblica 2013;47(Supl 2):19-26 Artigos DOI: 10.1590/S0034-8910.2013047003804
Estela M L AquinoI
Paulo Roberto Vasconcellos-SilvaII,III,IV
Claudia Medina CoeliV
Maria Jenny ArajoI
Simone M SantosVI
Roberta Carvalho de FigueiredoVII
Bruce B DuncanVIII
I MUSA Programa Integrado em Gnero e Sade. Instituto de Sade Coletiva. Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil
II Programa de Ps-Graduao em Ensino em Biocincias e Sade. Instituto Oswaldo Cruz. Fundao Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
III Programa de Ps-Graduao em Sade Coletiva. Escola Nacional de Sade Pblica. Fundao Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
IV Departamento de Medicina Especializada. Escola de Medicina e Cirurgia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
V Instituto de Estudos em Sade Coletiva. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
VI Escola Nacional de Sade Pblica. Fundao Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
VII Programa de Ps-Graduao em Sade Pblica. Faculdade de Medicina. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil
VIII Programa de Ps-Graduao em Epidemiologia. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil
Correspondncia | Correspondence:Estela M. L. AquinoInstituto de Sade ColetivaUniversidade Federal da BahiaR. Baslio da Gama, s/n /2 andarCampus do Canela40110-040 Salvador, BA, BrasilE-mail: [email protected]
Recebido: 5/10/2011Aprovado: 8/8/2012
Artigo disponvel em portugus e ingls em: www.scielo.br/rsp
Aspectos ticos em estudos longitudinais: o caso do ELSA-Brasil
Ethical issues in longitudinal studies: the case of ELSA-Brasil
RESUMO
Historicamente a discusso acerca da eticidade dos atos em pesquisas com seres humanos privilegiou os estudos experimentais, pelo maior potencial de danos aos sujeitos envolvidos. Todavia, os estudos observacionais tambm envolvem riscos e suscitam questes relevantes. Neste artigo pretende-se apresentar e discutir aspectos ticos do desenvolvimento do ELSA-Brasil, um estudo longitudinal e multicntrico, com fi nanciamento pblico, no qual os sujeitos da pesquisa e pesquisadores pertencem s mesmas instituies. So descritos os procedimentos adotados para atender s exigncias e compromissos ticos e a casustica que orientou as aes segundo seus princpios norteadores (benefi cncia, autonomia e justia social). So apresentados alguns problemas morais que exigiram ponderao sobre riscos e benefcios na confl uncia com os objetivos do estudo e comentam-se peculiaridades de um estudo longitudinal e seus potenciais benefcios.
DESCRITORES: tica em Pesquisa. Projetos de Pesquisa Epidemiolgica. Estudos Multicntricos como Assunto, tica. Estudos de Coortes. Estudos longitudinais.
ABSTRACT
The debate about ethics in research with human beings has historically emphasized experimental studies because of their greater potential to harm the subjects involved. However, observational studies also include risks and relevant questions to be discussed. This article aims to present and discuss the ethical aspects involved in the implementation of ELSA-Brasil, a longitudinal multicenter study, with public funding, in which the research subjects and investigators are employees of the same institutions. The procedures adopted to meet the ethical requirements and commitments are described, as well as the casuistics that guided the actions according to their guiding principles (benefi cence, autonomy and social justice). We present some moral problems that required consideration of risks and benefi ts at the confl uence with the studys objectives, and we conclude with comments on the peculiarities and the potential benefi ts of a longitudinal study.
DESCRIPTORS: Ethics, Research. Epidemiologic Research Design. Multicenter Studies as Topic, ethics. Cohort Studies. Longitudinal Studies.
-
20 tica no ELSA-Brasil Aquino EML et al
Historicamente a discusso sobre eticidade em pesquisas com seres humanos privilegiou os estudos experimentais, pelo maior potencial de danos. Todavia, estudos observacionais tambm incluem riscos poten-ciais e suscitam questes a serem debatidas.3
Pesquisas envolvendo seres humanos so cruciais para gerao de novos conhecimentos que melhorem sua sade. Entretanto, devem ser reguladas para assegurar que seus benefcios superem eventuais riscos aos sujeitos da pesquisa. Nas ltimas dcadas, tem crescido o reconhecimento da importncia social das pesquisas epidemiolgicas, o que vem sendo acompanhado do desenvolvimento da compreenso sobre os aspectos ticos nesse campo.8,9
No Brasil, at a dcada de 1980, a regulao de pesquisas com seres humanos voltava-se exclusiva-mente aos ensaios clnicos por meio de comits de tica mdica em hospitais universitrios. Na dcada de 1990, estruturou-se sistema de regulao tica das pesquisas em sade no Pas que tem como principal instrumento normativo a Resoluo 196/96 Pesquisa Envolvendo Seres Humanos.a Fundamenta-se em documentos internacionais, na Constituio Federal de 1988 e na legislao brasileira correlata, buscando assegurar que os princpios ticos de respeito pessoa, autonomia, benefi cncia e justia sejam considerados em todas as etapas de desenvolvimento dos estudos.
O objetivo do presente artigo foi discutir aspectos ticos envolvidos no desenvolvimento do Estudo Longitudinal de Sade do Adulto (ELSA)-Brasil, com fi nanciamento pblico, no qual os sujeitos da pesquisa e pesquisadores pertencem s mesmas instituies. So descritos os procedimentos adotados para atender s exigncias e compromissos ticos. Em seguida, descrita a casu-stica que orientou as aes segundo seus princpios norteadores. So apresentados problemas morais que exigiram ponderao sobre riscos e benefcios na confl uncia com os objetivos do estudo e comentam-se peculiaridades de um estudo longitudinal e seus poten-ciais benefcios.
ELSA-BRASIL: ESTUDO LONGITUDINAL E MULTICNTRICO
Trata-se de estudo de coorte de 15.105 mulheres e homens de 35 a 74 anos, funcionrios pblicos de seis instituies de ensino e pesquisa de diferentes regies do Brasil. O protocolo para produo de dados incluiu entrevistas, medidas e exames, alm do armazenamento de material biolgico.1 O estudo de linha de base foi realizado entre 2008 e 2010. Anualmente os sujeitos da
INTRODUO
a Ministrio da Sade, Conselho Nacional de Sade, Comisso Nacional de tica em Pesquisa. Normas de pesquisa envolvendo seres humanos - Res. CNS 196/96. Biotica. 1996;4(2 Supl):11.
pesquisa so contatados por telefone e a cada trs anos so convidados a realizar novas entrevistas e exames em contatos presenciais para o acompanhamento de seu estado de sade e o monitoramento de desfechos. Os desfechos potenciais so investigados para confi r-mao, sendo necessrio o acesso a registros de sade.
O protocolo do estudo atendeu Resoluo 196/96a e a outras complementares a Resoluo CNS 346/05 Projetos multicntricos e a Resoluo CNS 347/05 Armazenamento de materiais biolgicos. Foi aprovado nos comits de tica em pesquisa das instituies envol-vidas e na Comisso Nacional de tica em Pesquisa do Conselho Nacional de Sade (Conep). Essa tramitao iniciou-se em maio de 2006 e durou pouco menos de cinco meses (com durao mdia de 36 dias em cada centro) at a aprovao fi nal.
Foi criado o Comit de tica, Recrutamento e Comunicao Social, que assessora a coordenao no cumprimento dos aspectos ticos e de comunicao com as instituies envolvidas no estudo e com os participantes da coorte. Fornece ainda subsdios sobre como divulgar os resultados de modo a assegurar a confi dencialidade, o sigilo e a proteo dos sujeitos contra a estigmatizao. Essa instncia foi respon-svel pela consolidao do protocolo e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como do Manual de Recrutamento e Arrolamento.
DIREITO AUTONOMIA E CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O respeito autonomia o principio tico evocado para justifi car o requisito do consentimento livre e esclare-cido.3,14,22 A escolha autnoma pressupe capacidade de deciso voluntria, i.e., livre de coero ou mani-pulao por parte de terceiros, e informao sufi ciente e compreensvel para embas-la.14,22 O consentimento informado cria a oportunidade para que os sujeitos de pesquisa ponderem, segundo suas percepes, os riscos e potenciais benefcios da pesquisa, contribuindo para a reduo de danos potenciais.14,22
Sujeitos da pesquisa devem compreender procedi-mentos, riscos, desconfortos, benefcios e direitos envolvidos na sua participao na pesquisa.11 Entretanto, alguns estudos evidenciaram um conhecimento limi-tado sobre a pesquisa entre indivduos que consentiram em participar,13 o que pode se dever escolha consciente dos sujeitos da pesquisa em desconsiderar informaes, ou a falhas no processo de comunicao.13 Para que a comunicao seja efetiva, necessrio adotar modelo que valorize tanto o contedo transmitido como o ato
-
21Rev Sade Pblica 2013;47(Supl 2):19-26
da fala, ou seja, como os atores envolvidos no ato de comunicao transmitem propostas, as compreendem e respondem a elas.16
sempre um desafi o reunir no TCLE todos os aspectos relevantes de modo claro o sufi ciente para a compre-enso por pblico variado. Ao mesmo tempo almeja-se que a leitura do documento no seja cansativa, j que parte do seu contedo transmitida ao se apresentar a pesquisa pessoa elegvel.
O ELSA-Brasil tem grande complexidade, com vrias medidas, aferies e exames, armazenamento de mate-rial biolgico e demanda por acesso a dados secundrios de sade. Isso tornou a elaborao do TCLE particu-larmente difcil e exigiu muitas rodadas de discusso, com a assessoria de especialistas em comunicao. Foram realizados vrios pr-testes nos seis centros, com funcionrios terceirizados cujo perfi l de idade, sexo e escolaridade eram semelhantes ao da populao do ELSA-Brasil, at que todos os problemas de compre-enso fossem superados e se alcanasse a melhor forma de apresentar o estudo e seus aspectos ticos.
Com esse processo buscou-se alcanar produto claro e objetivo, cujo contedo reuniu: apresentao do estudo, objetivos, instituies envolvidas, participao no estudo, armazenamento de material biolgico, direitos do participante. Esses direitos incluem: no responder a perguntas durante as entrevistas, recusar exames, solicitar a substituio do entrevistador ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. Contudo, foram estabelecidos critrios mnimos de participao na coorte que incluram a realizao de blocos especfi cos do questionrio, eletrocardiograma, coleta de sangue e presso arterial. Na eventualidade de recusa ao cumprimento de algum destes, a pessoa era informada de que assim no participaria do estudo, agradecendo-se seu interesse.
Fontes de dados secundrios em sade tm sido crescen-temente empregadas em pesquisas. O carter sensvel das informaes suscita questes relacionadas ao respeito privacidade e autonomia dos sujeitos. Nesse contexto, a demanda do consentimento para uso de dados secun-drios identifi cados tema muito debatido.15,18,22
O consentimento para acesso a registros funcionais e de sade foi considerado condio imprescindvel participao no estudo, j que essas informaes so essenciais investigao de desfechos2 e, conse-quentemente, ao cumprimento dos objetivos de estudo longitudinal. Desse modo, integrou a declarao fi nal do documento, em sequncia concordncia geral com as condies de participao no estudo:
Declaro autorizar os pesquisadores do Estudo Longitudinal de Sade do Adulto ELSA-Brasil a
obter informaes sobre meu histrico de sade junto a instituies de sade, a partir de pronturios mdicos ambulatoriais, de emergncia e/ou internao, conforme situao especfi ca.
J o consentimento para armazenamento de material biolgico foi considerado opcional, ainda que se assu-misse o compromisso de obter novas autorizaes para a futura realizao de exames genticos. Isso motivou a incluso de espao especfi co para a autorizao formal com assinatura:
Declaro concordar que amostras de sangue sejam armazenadas para anlises futuras sobre as doenas em estudo.
Durante o recrutamento e a constituio da coorte, os sujeitos da pesquisa foram individualmente informados e expressaram sua anuncia na leitura e assinatura do TCLE. Era facultado ao participante levar esse documento para casa, para leitura pormenorizada e consulta de pessoas de sua confi ana, assegurando a compreenso e a anuncia plena com seu contedo.
Alm do contato individual, informaes sobre o estudo foram amplamente divulgadas por meio de materiais impressos, websites e em atividades coletivas. Goldim et al,11 apoiando-se em dados empricos, sugerem que a transmisso coletiva de informaes pode ser efetiva na recordao das informaes necessrias ao consen-timento livre e esclarecido.
Ao incio do estudo foi realizada ampla divulgao para assegurar o direito participao de potenciais elegveis. Procurou-se explicitar claramente os crit-rios de elegibilidade limites etrios e vnculo formal com as instituies de ensino e as metas amostrais, j que nem todos os que se inscrevessem seriam chamados a participar. Apesar disso, aps o alcance das metas, em todos os centros, buscou-se atender totalidade dos inscritos, superando-se as metas amos-trais estabelecidas previamente.
Foram evitadas indicaes de potenciais voluntrios por superiores hierrquicos, de modo a assegurar a deciso livre e que os funcionrios no fossem pressionados pelas chefi as a participar.
O direito informao assegurado por poltica permanente de comunicao social, com produo de impressos, manuteno atualizada de pgina na internetb e informaes nos sites institucionais. Assim, sujeitos da pesquisa tm acesso a todos os esclare-cimentos que desejarem, sempre que necessrio e a qualquer momento.
Sim No
b ELSA-Brasil [citado 5 out 2011]. Disponvel em: www.elsa.org.br
-
22 tica no ELSA-Brasil Aquino EML et al
PRESERVAO DO CONFORTO E DA SEGURANA DOS SUJEITOS DA PESQUISA
Toda pesquisa envolve algum grau de risco de danos fsicos, psicolgicos, sociais ou econmicos. Pesquisas observacionais tm menos riscos, mas podem causar desconforto fsico e psicolgico, que devem ser evitados ou minimizados. Riscos em estudos epide-miolgicos so em geral mais baixos do que em outras reas da biomedicina.3 Contudo, falhas na proteo de dados em ambiente de trabalho podem, por exemplo, causar danos pela estigmatizao dos sujeitos.
No ELSA-Brasil, procurou-se assegurar recursos humanos e materiais para manter o conforto dos sujeitos da pesquisa, a comear pelas instalaes. Foram tomados cuidados em relao aos portadores de defi cincias fsicas, quanto acessibilidade (a exemplo de cadeirantes), ao treinamento da equipe (entrevistas com pessoas com defi cincias auditivas) e produo de material informativo em braille.
Um dos desafi os iniciais foi defi nir o perfi l da equipe operacional em funo do vnculo institucional compar-tilhado pelos pesquisadores principais e sujeitos da pesquisa. O Comit de tica em Pesquisa (CEP) do Instituto de Sade Coletiva da Universidade Federal da Bahia recomendou que eventuais alunos e ex-alunos no entrevistassem ou examinassem professores e tcnicos do seu curso de origem e que as equipes de campo no inclussem funcionrios da mesma instituio. Essas recomendaes foram seguidas em todos os centros, evitando que pessoas conhecidas fossem envolvidas em entrevistas e exames, o que poderia causar constrangimentos. Havia possibilidade de mudana de entrevistador nos casos em que havia conhecimento prvio da pessoa a ser entrevistada.
Durante o treinamento da equipe, foram enfatizados os aspectos ticos e realizadas simulaes de aplicao do TCLE, procurando-se minimizar danos e constran-gimentos nas entrevistas e exames. Nessa ocasio, foi especialmente enfatizado que os integrantes da equipe devem adotar postura de respeito aos valores culturais, morais, religiosos, aos hbitos e costumes.
Cuidados foram tomados para minimizar o desconforto gerado pela puno venosa e a ingesto de dextrosol (substncia usada no teste de tolerncia glicose), incluindo a seleo e treinamento da equipe, as insta-laes confortveis e a distribuio desses exames no fl uxograma de produo de dados durante a visita.
Problemas identifi cados durante a permanncia no Centro de Investigao, que requeressem ateno de urgncia/emergncia, tiveram atendimento assegurado em unidade especifi cada previamente.
Preservao da confi dencialidade e sigilo
A garantia de confi dencialidade dos dados representa aspecto crucial de proteo da privacidade dos sujeitos
da pesquisa pelo risco de acesso por terceiros s infor-maes pessoais e consequente possibilidade de estigma-tizao e prejuzos sociais ou econmicos.3,9 Assegurar a confi dencialidade essencial em estudos epidemiol-gicos pelo nmero muito grande de participantes, grandes equipes e a produo de quantidade imensa de dados de carter privado.3 Em estudos desse tipo a proteo da privacidade essencialmente uma questo de proteo de informaes confi denciais sobre a pessoa.3
Durante o treinamento da equipe, foi enfatizada a necessidade do respeito privacidade dos sujeitos da pesquisa, de confi dencialidade das informaes cole-tadas e o cumprimento das normas visando segurana dos dados.4,17 No presente estudo, no qual os sujeitos da pesquisa e pesquisadores so empregados nas mesmas instituies, cuidados especiais foram tomados para evitar o acesso direto de colegas da equipe a informa-es privadas dos sujeitos da pesquisa.
A produo de dados foi efetuada em salas com isola-mento acstico. Todas as informaes obtidas com entrevistas e exames esto arquivadas sem identifi cao nominal, apenas por cdigo numrico. As amostras biolgicas so identifi cadas por cdigo de barras.
Somente tm acesso s informaes obtidas em confi ana grupo restrito de pesquisadores ou, excepcio-nalmente, profi ssionais de sade que prestem atendi-mento de urgncia/emergncia a intercorrncias clnicas detectadas durante os exames, com autorizao dos sujeitos. No permitido o acesso, em qualquer hip-tese, pelos empregadores ou superiores hierrquicos, e as informaes so usadas exclusivamente para fi ns de pesquisa cientfi ca sem identifi cao nominal.
vedado aos integrantes da equipe qualquer comentrio sobre o contedo das entrevistas ou resultados dos exames, que s podem ser discutidos com a superviso de campo para esclarecer dvidas.
O sistema de dados do ELSA-Brasil inclui rotinas que buscam preservar o sigilo e a segurana dos dados e garantir a integridade das informaes. Destacam-se o uso de conexo segura (HTTPS), o acesso ao sistema restrito a usurios cadastrados com senha, perfi s espe-cfi cos de acesso segundo funcionalidades distintas, sistema de registro de uso e encerramento do acesso aps perodo sem interao. Os identifi cadores pessoais dos participantes so armazenados separadamente dos demais dados do sistema.
As bases de dados so armazenadas pelo Centro de Dados do ELSA-Brasil em servidores do Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o acesso a elas s pode ser realizado por mquinas autorizadas pelo prprio CPD. A extrao de dados do sistema para gerao de bases para anlise realizada apenas por usurios com permisso.
-
23Rev Sade Pblica 2013;47(Supl 2):19-26
Todo processamento dos dados feito sem identifi ca-dores pessoais e o mesmo ocorre com a distribuio das bases de dados. Os nmeros de identifi cao nas bases distribudas aos pesquisadores so diferentes daqueles utilizados na coleta de dados. Cpias de segu-rana da base do sistema so criptografadas. As bases distribudas pela internet, por e-mail ou por DVD so protegidas por senha.
Todos os integrantes das equipes e usurios do sistema e das bases de dados assinam termo de compromisso quanto confi dencialidade dos dados.
SITUAES IMPREVISTAS E ETICAMENTE RELEVANTES: A CASUSTICA DO ELSA-BRASIL
O principal argumento que justifi ca a pesquisa epide-miolgica que seus benefcios sociais so substanciais e que superam eventuais riscos de danos fsicos, psico-lgicos ou sociais.8
O ELSA-Brasil uma pesquisa slida, construda em sucessivas etapas de avaliao por pares, que rene pesquisadores com tradio de investigao cientfi ca, para gerao de conhecimentos cientfi cos nacionais sobre sade de populaes adultas.
Os sujeitos da pesquisa tm como benefcio imediato o acesso a resultados de medidas e exames teis a uma eventual avaliao clnica. So informados sobre diagnsticos incidentais23 com orientaes e encami-nhamento assistncia adequada dentro do que ofere-cido pelas instituies e pelo Sistema nico de Sade. Em que pese a defi nio de protocolo para os achados mais comuns, as implicaes e as circunstncias em que devem ser comunicados diretamente aos sujeitos da pesquisa tm sido objeto de debate permanente no estudo. Grande desafi o tico envolve a necessidade de lidar com os achados clnicos relevantes sade ou reproduo do sujeito pesquisado.23
Para alm de benefcios imediatos, forte motivao para a adeso dos participantes, identifi cada previamente em grupos focais e confi rmada pela declarao explcita ao fi nal de entrevistas e exames, foi a oportunidade de contribuir para a gerao de novos conhecimentos sobre a sade no Brasil. Esses resultados esto de acordo com pesquisas realizadas nos Estados Unidos que mostram que a maioria dos americanos valoriza a pesquisa em sade e aceitaria convite para participar de estudos clnicos.18
Entretanto, discusses preliminares acerca das questes ticas que circundam o estudo, por mais cuidadosas e exaustivas, no esgotam todas as situaes que se apresentam medida que o trabalho de campo se desenvolve. Com base em tal pressuposto, tentou-se aprimorar nas discusses peridicas das equipes uma racionalidade adequada s melhores aes (ou
omisses) perante os desafi os ticos que se apresen-tavam a todo o momento.
A partir dos debates e reflexes intraequipes, foi possvel elaborar a casustica apropriada s decises. Importante enfatizar que, ao contrrio do sentido atri-budo quando utilizado pelos mdicos, a casustica tal como aqui apresentada no se reduz ao apren-dizado por experincias isoladas de um profi ssional experiente em vista da elaborao de receiturio de preceitos. Buscou-se, porm, articular a universalidade de uma norma particularidade de um agir.7
Segundo preceitos comuns tanto na filosofia moral quanto nas cincias jurdicas,20 uma casustica se refere racionalizao de eventos imprevistos e o reconheci-mento do inescapvel peso das contingncias. O desafi o na avaliao tica de um estudo como o ELSA-Brasil no se reduz ao seu enquadramento s matrizes de anlises j consagradas e devidamente normatizadas. As afi rmaes fundamentadas em preceitos fi losfi cos que envolvem compreenso pobre da distino essencial entre tica e moral, tomadas como princpios, mais se assemelham a regras de ao19 e talvez no contemplem plenamente as questes levantadas pelas pesquisas em suas particulari-dades metodolgicas. O genuno desafi o se concentraria, portanto, na compreenso de que cada situao peculiar que se apresenta exige a identifi cao de novas questes a debater. Portanto, faz-se necessria uma sensibilidade tica para identifi c-las e a elas responder com as inter-venes mais esclarecidas.10
Em vista dessas consideraes foram selecionados alguns exemplos (Tabela) de situaes emblemticas, devidamente inseridas em contextos ticos breve-mente explicitados, a partir dos quais se buscou extrair princpios norteadores, mais adequados s peculiari-dades. A discusso sobre a casustica e a eticidade das situaes ultrapassa as dimenses do formato no qual est inserida. No obstante, o objetivo do presente artigo a descrio de um processo e dos debates derivados acerca da sensibilidade tica10 sobre a qual o estudo se instala. O imperativo das limitaes edito-riais restringe aos espaos minimamente sufi cientes a tais discusses, que oportunamente se desdobraro em outros formatos mais adequados.
ESPECIFICIDADES DOS ESTUDOS LONGITUDINAIS: COMENTRIOS FINAIS
Os estudos longitudinais constituem o delineamento no experimental ideal para se detectarem associaes de causa e efeito, para o entendimento sobre a etiopato-genia das doenas crnicas e, consequentemente, para propor medidas de preveno e controle, aperfeioar critrios diagnsticos e protocolos de tratamento.
Tanto a produo quanto a anlise de dados tm carter contnuo, e algumas anlises futuras no tm como
-
24 tica no ELSA-Brasil Aquino EML et al
Tabela. Casustica de eventos imprevistos, seus contextos e as aes ensejadas.
Fatos Contexto tico considerado Resoluo
Muitos participantes procuravam o Centro de Investigao para consultas mdicas ou solicitao de pareceres em vista de situaes clnicas pretritas.
O ELSA-Brasil foi subsidiado por rgos pblicos de fomento para produzir pesquisa. O suporte assistencial completo, alm de redundante com o que oferecido pelas instituies, exigiria estrutura muito mais complexa e tornaria os custos proibitivos. O princpio da Justia Social (norteador do projeto) antecede o princpio da Benefi cncia individual (desde que fora de situaes de urgncia).
Aps os resultados dos exames, os mdicos envolvidos no estudo se limitavam a orientar sobre a necessidade ou no de procura por especialistas ou qualquer outro tipo de suporte relacionado ao problema apresentado.
Alguns participantes recusaram-se a se submeter a determinados exames ou entrevistas. Outros se recusaram a disponibilizar amostras de sangue para estocagem.
O ELSA-Brasil obedece a um protocolo que visa obter de cada participante aferies e informaes sufi cientes aos objetivos do projeto. Caso o participante se negasse ou no pudesse oferecer um conjunto mnimo de informaes, sua contribuio no poderia ser aproveitada. Novamente, o princpio da justia social (norteador do projeto) antecede o princpio da benefi cncia individual nesses casos.
O estudo no poderia aproveitar a participao daqueles que se negassem (ou no conseguissem) a se submeter ao conjunto mnimo de exames. Tal interdio NO se aplica recusa ao fornecimento de material biolgico para estocagem.
Resultados de exames causavam dvidas e ansiedade perante informaes no contextualizadas clinicamente (geralmente obtidas pela internet ou por terceiros).
O princpio da no malefi cncia, em face das informaes geradoras de angstia, implica a responsabilidade pelo pleno esclarecimento acerca dos resultados divulgados.
Todas as dvidas apresentadas foram direta e plenamente esclarecidas pelos mdicos envolvidos no projeto.
Em alguns casos, o prazo assumido para devoluo de exames no foi cumprido, sobretudo por conta de difi culdades tcnicas e logsticas.
A omisso de informaes quanto natureza dos atrasos poderia ser considerada como malefi cncia alguns participantes, talvez sintomticos, poderiam estar contando com eles para consultar seus mdicos.
As contingncias geradoras dos atrasos foram esclarecidas aos participantes. As limitaes derivadas da estrutura no assistencial e multicntrica do projeto tambm foram explicitadas. Os participantes eventualmente sintomticos, mas devidamente informados, poderiam realizar exames mais atualizados fora do ELSA-Brasil.
Os resultados de alguns exames retratavam condies graves (uremia, isquemia miocrdica ainda desconhecida, anemia grave) que, se no informadas imediatamente, exporiam os participantes a riscos de graves complicaes.
Nesse caso, o princpio da no malefi cncia ligado omisso quanto ao estado de sade do participante antecederam privacidade e confi dencialidade ligadas ao princpio da autonomia.
As condies de alarme foram previamente estipuladas. Ao chegarem ao Centro de Investigao os exames eram avaliados em seu conjunto pelos mdicos que entravam em contato direto e imediato com os participantes para orient-los sobre seus problemas.
Os participantes que confi denciavam ideao suicida (identifi cada pelo questionrio CIS-R) precisariam de suporte psiquitrico imediato.
A confi dencialidade da entrevista deveria ser contrariada. O princpio da no malefi cncia ligado omisso antecede a privacidade e a confi dencialidade ligadas ao princpio da autonomia.
Os especialistas orientaram a equipe no reconhecimento dos casos mais urgentes, que exigiriam suporte psiquitrico imediato. Tal suporte era acionado prontamente sempre que necessrio.
Havia participantes nos quais eram identifi cadas alteraes eletrocardiogrfi cas que sugeriam doena com risco de morte sbita. Deveriam ser encaminhados imediatamente ao suporte cardiolgico, rompendo com a confi dencialidade do processo.
Da mesma forma, a benefi cncia e segurana individuais so anteriores privacidade e confi dencialidade.
Os tcnicos aferidores foram treinados a reconhecer tais alteraes e entravam em contato imediato com o cardiologista de apoio ao Centro de Investigao para que orientasse o participante e a prpria equipe.
Continua
-
25Rev Sade Pblica 2013;47(Supl 2):19-26
ser antecipadas. Desse modo, necessria a constante avaliao sobre a pertinncia da obteno repetida de consentimento informado para novos exames, medidas e entrevistas.
O principal desafi o de manter a adeso dos participantes e minimizar perdas ao longo do tempo traz consigo a necessidade de decises ticas e metodolgicas profundamente imbricadas. Isso porque podem ocorrer mudanas na motivao dos sujeitos tanto na direo da desistncia defi nitiva quanto temporria, o que coloca a questo: at que ponto se pode insistir no convite participao sem ferir o direito recusa que nem sempre se manifesta de forma de explcita.
A segurana e a confi dencialidade dos dados um grande desafio em estudos que continuamente os esto produzindo e onde a incluso de identifi cadores individuais, tais como nome e endereo de contato, imprescindvel para o acompanhamento do estado de sade dos participantes.
Ainda que no seja adotado exclusivamente em estudos longitudinais, o armazenamento de material biolgico considerado, atualmente, elemento essencial para se testar uma srie de hipteses, integrando as principais pesquisas com esse desenho e representando novos desafi os ticos e legais.5,6,12
No ELSA-Brasil, o armazenamento de material gentico e celular, possibilitando o acesso a cdigos em DNA e padres de expresso de RNA e de protenas, permitir o teste de associaes entre alteraes de nvel celular e molecular que precedem o aparecimento de uma srie de doenas. Novos campos da cincia que no momento comeam a se descortinar, denominados de genmica e protemica, podero, em futuro no distante, permitir melhor predio de doenas crnicas que constituem problemas de sade pblica em vrios pases, incluindo
o Brasil.21 Os avanos nessas reas podero possibilitar o tratamento de certas doenas em estgios pr-clnicos.
Pela natureza do projeto, as amostras estocadas no podero ser destrudas em cinco anos. Sua utilizao deve estar de acordo com os procedimentos descritos nos protocolo originalmente aprovado pelos CEPs e pela Comisso Nacional de tica em Pesquisa (Conep), e ser aprovada pelo Comit Diretivo. Qualquer estudo cujas questes no estejam previstas entre os objetivos originais deve ser submetido nova-mente ao sistema CEP/Conep.
Por definio, pesquisas epidemiolgicas devem avanar o conhecimento cientfico, mas tambm contribuir para a proteo e a recuperao da sade de populaes pela aplicao desses conhecimentos.3 Por ser o primeiro grande estudo de coorte sobre sade de adultos no Pas, o ELSA-Brasil tem imenso poten-cial de gerao de conhecimentos cientfi cos sobre o desenvolvimento e a progresso de doenas crnicas no transmissveis cuja importncia crescente pelo envelhecimento populacional. O fi nanciamento pblico da pesquisa forte motivo para a ampla disseminao de seus achados, antes de tudo na comunidade cien-tfi ca, pela comunicao em congressos e publicao em peridicos indexados. Entretanto, ao produzir conhecimentos que consideram as caractersticas biolgicas, tnicas, culturais e sociais de populaes brasileiras, pode-se no apenas enriquecer o debate cientfi co nacional e internacional. A divulgao dos resultados para gestores permitir embasar polticas e aes de preveno, diagnstico, tratamento e controle de doenas adequadas realidade do Pas. No menos importante, preciso manter uma permanente difuso de conhecimentos para a prpria sociedade de modo a orientar a tomada de decises na vida cotidiana e o controle social das polticas pblicas.
ContinuaoFatos Contexto tico considerado Resoluo
A listagem completa de exames e aferies foi disponibilizada previamente aos participantes. Somente os resultados de aferies teis avaliao clnica foram entregues. As aferies experimentais, ainda no consagradas pela prtica clnica, no foram entregues a todos. Alguns participantes exigiam acesso integral a todos os exames.
O acesso pleno aos resultados de exames (ligado benefi cncia e autonomia), mesmo aqueles ainda no usados na prtica clnica (sem faixas de normalidade evidentes e, portanto, sem correlao evidente com condies patolgicas), poderia gerar dvidas entre os participantes, assim como entre seus mdicos assistentes. Julgou-se que a no malefi cncia antecede a autonomia nesse contexto.
Sempre que solicitadas as aferies no usadas na prtica clnica eram entregues o que atenderia ao princpio da autonomia. Explicaes suplementares tambm foram fornecidas, o que poderia evitar a malefi cncia advinda de dvidas entre participantes e seus mdicos.
CIS-R: Clinical Interview Schedule Revised
-
26 tica no ELSA-Brasil Aquino EML et al
1. Aquino EM, Barreto SM, Bensenor IM, Carvalho MS, Chor D, Duncan BB, et al. Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil): objectives and design. Am J Epidemiol. 2012;175(4):315-24. DOI:10.1093/aje/kwr294
2. Barreto SM, Ladeira RM, Bastos MSCBO, Diniz MFHS, Jesus EA, Kelles SMB, Luft VC, Melo ECP, Oliveira ERA. Estratgias de identifi cao, investigao e classifi cao de desfechos incidentes no ELSA-Brasil. Rev Saude Publica. 2013;47(Supl 2):79-86.
3. Beauchamp TL. Moral foundations. In: Coughlin SS, Beauchamp TL, Weed DL, editors. Ethics and epidemiology. 2.ed. New York: Oxford University Press; 2009. p.22-52.
4. Buckovich SA, Rippen HE, Rozen MJ. Driving toward guiding principles: a goal for privacy, confi dentiality, and security of health information. J Am Med Inform Assoc. 1999;6(2):122-33. DOI:10.1136/jamia.1999.0060122
5. Cambon-Thomsen A, Rial-Sebbag E. Aspects thiques des banques d'chantillons biologiques. Rev Epidemiol Sante Publique. 2003;51(1 Pt 2):101-10. DOI:RESP-02-2003-51-1-C2-0398-7620-101019-ART3
6. Cambon-Thomsen A, Rial-Sebbag E, Knoppers BM. Trends in ethical and legal frameworks for the use of human biobanks. Eur Respir J. 2007;30(2):373-82. DOI:10.1183/09031936.00165006
7. Dicionrio de tica e fi losofi a moral. So Leopoldo: Editora da Unisinos; 2003. Casustica. p.207.
8. Coughlin SS, Beauchamp TL, Weed DL, editors. Ethics and epidemiology. 2.ed. New York: Oxford University Press; 2009.
9. Council for International Organizations of Medical Sciences. International ethical guidelines for epidemiological studies. Geneva: CIOMS; 2009.
10. Diniz D. tica na pesquisa em cincias humanas: novos desafi os. Cienc Saude Coletiva. 2008;13(2):417-26. DOI:10.1590/S1413-81232008000200017
11. Goldim JR, Pithan CF, Oliveira JG, Raymundo MM. O processo de consentimento livre e esclarecido em pesquisa: uma nova abordagem. Rev Assoc Med Bras. 2003;49(4):372-4. DOI:10.1590/S0104-42302003000400026
12. Hansson MG. Ethics and biobanks. Br J Cancer. 2009;100(1):8-12. DOI:10.1038/sj.bjc.6604795
13. Helgesson G, Ludvigsson J, Gustafsson Stolt U. How to handle informed consent in longitudinal studies when participants have a limited understanding of the study. J Med Ethics. 2005;31(11):670-3. DOI:10.1136/jme.2004.009274
14. Khan JP, Mastroianni AC. Epidemiology and informed consent. In: Coughlin SS, Beauchamp TL, Weed DL, editors. Ethics and epidemiology. 2.ed. New York: Oxford University Press; 2009. p.71-83.
15. Kho ME, Duffett M, Willison DJ, Cook DJ, Brouwers MC. Written informed consent and selection bias in observational studies using medical records: systematic review. BMJ. 2009;338:b866. DOI:10.1136/bmj.b866
16. Manson NC, ONeill O. Rethinking informed consent in bioethics. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.
17. Myers J, Frieden TR, Bherwani KM, Henning KJ. Ethics in public health research: privacy and public health at risk: public health confi dentiality in the digital age. Am J Public Health. 2008;98(5):793-801. DOI:10.2105/AJPH.2006.107706
18. Nass SJ, Levit LA, Gostin LO, editors. Beyond the HIPAA privacy rule: enhancing privacy, improving health through research. Washington (DC): National Academies Press; 2009.
19. Neves MP. A fundamentao antropolgica da biotica. Bioetica. 1996;4(1):10.
20. Pizzi J. tica e ticas aplicadas: a reconfi gurao do mbito moral. Porto Alegre: EDIPUCRS; 2006.
21. Schmidt MI, Duncan BB, Azevedo e Silva G, Menezes AM, Monteiro CA, Barreto SM, et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet. 2011;377(9781):1949-61. DOI:10.1016/S0140-6736(11)60135-9
22. Sheehan M. Can broad consent be informed consent? Public Health Ethics. 2011;4(3):226-35. DOI:10.1093/phe/phr020
23. Wolf SM, Lawrenz FP, Nelson CA, Kahn JP, Cho MK, Clayton EW, et al. Managing incidental fi ndings in human subjects research: analysis and recommendations. J Law Med Ethics. 2008;36(2):219-48. DOI:10.1111/j.1748-720X.2008.00266.x
REFERNCIAS
O Estudo Longitudinal de Sade do Adulto (ELSA-Brasil) foi fi nanciado pelo Ministrio da Sade (Decit Departamento de Cincia e Tecnologia) e Ministrio de Cincia e Tecnologia (Finep Financiadora de Estudos e Projetos e CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfi co e Tecnolgico Processos Ns 01 06 0010.00 RS, 01 06 0212.00 BA, 01 06 0300.00 ES, 01 06 0278.00 MG, 01 06 0115.00 SP, 01 06 0071.00 RJ).Os autores declaram no haver confl ito de interesses.Artigo submetido ao processo de julgamento por pares adotado para qualquer outro manuscrito submetido a este peridico, com anonimato garantido entre autores e revisores. Editores e revisores declaram no haver confl ito de interesses que pudesse afetar o processo de julgamento do artigo.