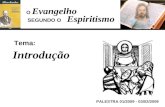13 - Introdução ao Evangelho
-
Upload
izabel-cristina-martins-de-souza -
Category
Documents
-
view
521 -
download
1
Transcript of 13 - Introdução ao Evangelho
CENTRO ESPRITA ISMAEL DEPARTAMENTO DE ENSINO DOUTRINRIO AV. HENRI JANOR, 141, JAAN - S. P. FONE: 6242-6747
APOSTILA DE APONTAMENTOS
DO
CURSO DE INTRODUO AO EVANGELHO
(org. por Srgio Biagi Gregrio)
NDICEDeus A Gnese A Bblia Jesus Cristo O Evangelho Os Discpulos Bem-Aventurados os Pobres de Esprito Bem-Aventurados os Aflitos Bem-Aventurados os Misericordiosos Casamento e Divrcio Violncia Meios de Comunicao Social Atos dos Apstolos Epstolas de Paulo O Apocalipse de Joo Parbola do Bom Samaritano Parbola do Semeador Parbola do Trigo e do Joio F Esperana Caridade Pena de Morte Desigualdade das Riquezas Toxicomania Bibliografia Consultada 04 09 13 16 20 24 27 30 33 36 39 42 47 50 54 57 60 64 67 70 74 77 80 84 87
2
INTRODUO
O objetivo destes apontamentos fornecer contedo bsico para a formulao do pensamento crtico e reflexivo luz do Evangelho e dos princpios codificados por Allan Kardec.
3
DEUSSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito: 2.1. A Origem da Idia de Deus; 2.2. Etimologia; 2.3. Significado de Deus. 3. Deus e a Divindade: Monotesmo e Politesmo. 4. A Revelao de Deus. 5. Provas da Existncia de Deus. 6. Deus da F e Deus da Razo. 7. Atributos da Divindade. 8. Imagem de Deus. 9. Concluso. 10. Bibliografia Consultada.
1. INTRODUO O objetivo deste estudo buscar uma compreenso mais abrangente da idia de Deus. Embora seja difcil no s definir Deus como tambm provar a sua existncia, temos condies de senti-Lo e de intui-Lo em nossa mente e em nossos coraes. o que faremos neste ensaio sinttico. 2. CONCEITO DE DEUS 2.1. A ORIGEM DA IDIA DE DEUS A origem da idia de Deus pode ser concebida: 1) atravs da antiga doutrina crist, que afirma que Deus se revelou aos antepassados do povo de Israel por meio das comunicaes pessoais que lhes deram uma noo verdadeira, porm incompleta do Deus nico, infinito e eterno; depois, no decurso de sua histria, foi o povo alcanando gradualmente uma idia mais adequada e estvel acerca da natureza e dos atributos de Deus; 2) como resultado de um desenvolvimento puramente natural. Enquanto o homem se manteve no nvel meramente animal no houve nele a idia de Deus, se bem que existisse uma tendncia para a religio. As suas necessidades e aspiraes no encontravam satisfao no Mundo ambiente; conheceu as dificuldades e a dor. Em tais circunstncias, surgiram no seu esprito "por necessidade psicolgica" a idia de encontrar auxlio que de algures lhe viesse, bem como a de algum poder ou poderes capazes de lho ministrar. Uma vez introduzida a idia de Deus, observa-se a tendncia para a multiplicao dos deuses ( e da o politesmo). Com o alargamento da famlia para a nao, a esfera de deus tambm ia se ampliando, e as vitrias sobre outras naes, assim como um mais largo entendimento no que concerne ao Mundo, teriam produzido enfim a idia de um deus nico alm do qual todos os outros deuses seriam somente pretensos deuses, sem existncia real (Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira). 2. 2. ETIMOLOGIA Deus um dos conceitos mais antigos e fecundos do patrimnio cultural da humanidade. Deriva do indo-europeu deiwos (resplandecente, luminoso), que designava originariamente os celestes (Sol, Lua, estrelas etc.) por oposio aos humanos, terrestre por natureza. Psicologicamente corresponde ao objeto supremo da experincia religiosa, no qual se concentram todos os caracteres do numinoso ou sagrado (Enciclopdia Verbo da Sociedade e do Estado).
4
2.3. SIGNIFICADO DE DEUS Tomou esta palavra a significao de princpio de explicao de todas as coisas, da entidade superior, imanente ou transcendente ao mundo (cosmos), ou princpio ou fim, ou princpio e fim, ser simplicssimo, potentssimo, nico ou no, pessoal ou impessoal, consciente ou inconsciente, fonte e origem de tudo, venerado, adorado, respeitado, amado nas religies e nas diversas cincias. Deste modo, em toda a parte onde est o homem, em seu pensamento e em suas especulaes, a idia de Deus aflora e exige explicaes. objeto de f ou de razo, de temor ou de amor, mas para ele se dirigem as atenes humanas, no s para afirmar a sua existncia, como para neg-la (Santos, 1965). Para o Espiritismo, Deus a inteligncia suprema, causa primria de todas as coisas. 3. DEUS E A DIVINDADE: MONOTESMO E POLITESMO Os termos monotesmo e politesmo surgem no processo de identificao ou de distino entre Deus e a divindade. No politesmo h uma hierarquia de deuses, de modo que no h uma identidade entre Deus e Divindade. A no observncia dessa distino acaba por confundir muitas mentes. Plato, Aristteles e Bergson, por exemplo, so qualificados como monotestas, quando na realidade no o so. No Timeu de Plato, o Demiurgo delega a outros deuses, criados por ele prprio, parte de suas funes criadoras; o Motor de Aristteles, pressupe a existncia de outros motores menores. Em outros termos, a substncia divina participada por muitas divindades. Convm, assim, no confundir a unidade de Deus com um reconhecimento da unicidade de Deus. A unidade pressupe a multiplicidade. Quer dizer, Deus sendo uno, ele pode multiplicar-se em vrios deuses, formando uma hierarquia. Mas justamente por isso no nico: a unidade no elimina a multiplicidade, mas a recolhe em si mesma. Obviamente a multiplicidade de deuses em se multiplica e se expande a divindade, no exclui a hierarquia e a funo preemintente de um deles (o Demiurgo de Plato, o Primeiro Motor de Aristteles, o Bem de Plotino); mas o reconhecimento de uma hierarquia e de um chefe da hierarquia no significa absolutamente a coincidncia de Divindade e Deus e no , portanto, monotesmo. O monotesmo caracterizado no pela presena de uma hierarquia, mas pelo reconhecimento de que a divindade possuda s por Deus e que Deus e divindade coincidem. Nas discusses Trinitrias da Idade Patrstica e da Escolstica, a identidade de Deus e da divindade foi o critrio dirimente para reconhecer e combater aquelas interpretaes que se inclinavam para o Tritesmo. Certamente, a Trindade apresentada constantemente como um mistrio que a razo mal pode roar. Mas o que importa relevar que a unidade divina s considerada abalada quando, com a distino entre Deus e a divindade, se admite, implcita ou explicitamente, a participao da mesma divindade por dois ou mais seres individualmente distintos (Abbagnano, 1970). Para o Espiritismo, Deus o Criador do Universo. Portanto, admite a tese monotesta. Contudo, os Espritos por Ele criado, conforme o grau de evoluo alcanado, podem ser classificados como Espritos Co-Criadores em plano maior e Espritos Co-Criadores em plano menor. De acordo com o Esprito Andr Luiz, em Evoluo em Dois Mundos, os Espritos Co-Criadores em plano maior "tomam o plasma divino e convertem-no em habitaes csmicas, de mltiplas expresses, radiantes e obscuras, gaseificadas ou slidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milnios e milnios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o Esprito Criado pode formar ou co-criar, mas s Deus o Criador de Toda a Eternidade"..."Em anlogo alicerce, as Inteligncias humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido csmico, em permanente circulao no Universo, para a Co-Criao em plano menor, assimilando os corpsculos da matria com a energia espiritual que lhes prpria, formando assim o veculo fisiopsicossomtico em que se exprimem ou cunhando as civilizaes que abrangem no mundo a Humanidade Encarnada e a Humanidade Desencarnada" (Xavier, 1977, p.20 a 23). 5
4. A REVELAO DE DEUS A revelao de Deus aos homens pode ocorrer de trs modos: 1) a que atribui iniciativa do homem e ao uso das capacidades naturais de que dispe, o conhecimento que o homem tem de Deus; 2) a que atribui iniciativa de Deus e sua revelao o conhecimento que o homem tem de Deus; 3) a que atribui mescla das duas anteriores: a revelao no faz seno por concluir e levar plenitude o esforo natural do homem de conhecer a Deus. Desses trs pontos de vista, o primeiro o mais estritamente filosfico, os outros dois so predominantemente religiosos. O segundo ponto de vista pode ser visto em Pascal, quando afirma que " o corao que sente a Deus, no a razo". O terceiro ponto de vista foi encarnado pela Patrstica, que considerou a revelao crist como complemento da filosofia grega (Abbagnano, 1970). De acordo com o Espiritismo, o que caracteriza a revelao esprita o ser divina a sua origem e da iniciativa dos Espritos, sendo sua elaborao fruto do trabalho do homem. E como meio de elaborao, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as cincias positivas, aplicando o mtodo experimental: formula hipteses, testa-as e tira concluses (Kardec, 1975, cap. 1, it. 13, p. 19 e 20). 5. PROVAS DA EXISTNCIA DE DEUS A prova da existncia pode ser encontrada no axioma que aplicamos cincia: no h efeito sem causa. Se o efeito inteligente, a causa tambm o . Diante deste fato, surge a questo: sendo o homem finito, pode ele perscrutar o infinito? Santo Tomas de Aquino dnos uma explicao, que aceita com muita propriedade. A desproporcionalidade entre causa e efeito no tira o mrito da causa. Se s percebemos parte de uma causa, nem por isso ela deixa de ser verdadeira. Allan Kardec, nas perguntas 4 a 9 de O Livro dos Espritos, diz-nos que para crer em Deus suficiente lanar os olhos s obras da Criao. O Universo existe; ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existncia de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa, e avanar que o nada pode fazer alguma coisa. A harmonia que regula as foras do Universo revela combinaes e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formao primria ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso cego e no pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente j no seria acaso. 6. DEUS DA F E DEUS DA RAZO Descartes, no mago da sua lucubrao racionalista, descobre Deus atravs da razo. Pascal, por outro lado, fala-nos que s podemos conhecer Deus atravs da F. A dicotomia entre f e razo sempre existiu ao longo do processo histrico. Aceitar Deus pela razo um atitude eminentemente filosfica; enquanto aceitar Deus pela f uma atitude preponderantemente religiosa. De acordo com o Espiritismo, a f inata no ser humano, ou seja, ela um sentimento natural, que precisa, contudo, ser raciocinado. No adianta apenas crer; preciso saber porque se cr. nesse sentido que Allan Kardec elaborou a codificao. Observe que junto ao ttulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Codificador colocou uma frase lapidar: "No h f inabalvel seno aquela que pode encarar a razo face a face, em todas as pocas da Humanidade". Quer dizer, nunca aceitar nada sem o crivo da razo.
6
7. ATRIBUTOS DA DIVINDADE Allan Kardec, nas perguntas 10 a 13 de O Livro dos Espritos, explica-nos que se ainda no compreendemos a natureza ntima de Deus, porque nos falta um sentido. Esclarece-nos, contudo, que Deus deve ter todas as perfeies em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que no fosse de grau infinito, no seria superior a tudo, e por conseguinte no seria Deus. Assim: DEUS ETERNO. Se Ele tivesse tido um comeo, teria sado do nada, ou, ento, teria sido criado por um ser anterior. assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e eternidade. IMUTVEL. Se Ele estivesse sujeito a mudanas as leis que regem o Universo no teriam nenhuma estabilidade. IMATERIAL. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matria, pois de outra forma Ele no seria imutvel, estando sujeito s transformaes da matria. NICO. Se houvesse muitos Deuses, no haveria unidade de vistas nem de poder na organizao da matria. TODO-PODEROSO. Porque nico. Se no tivesse o poder-soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou to poderosa quanto Ele, que assim no teria feito todas as coisas. E aquelas que ele no tivesse feito seriam obra de um outro Deus. SOBERANAMENTE JUSTO E BOM. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria no nos permite duvidar da sua justia nem da sua bondade. 8. IMAGEM DE DEUS Imaginar Deus como um velhinho de barbas brancas, sentado em um trono, tom-Lo como um Deus antropomrfico. Damo-Lhe a extenso de nossa viso. Quer dizer, quanto mais primitivos formos, mais associamo- Lo s coisas palpveis, como trovo, tempestade, bosque etc. medida que progredimos no campo da espiritualidade, damo-Lhe a conotao de energia, de criao, de infinito, de coisa indefinvel etc. O homem cria Deus sua imagem e semelhana. No se trata de criar Deus, mas sim uma imagem de Deus nossa imagem e semelhana. Observe que a imagem oriental uma imagem de aniquilao. No Espiritismo, devemos lembrar sempre que Deus no tem forma, pois difere de tudo o que material. Devemos, sim, intu-Lo, simplesmente, como a causa primria de todas as coisas. 9. CONCLUSO Lembremo-nos de que encontramos Deus em nossa experincia mais ntima. Quer sejamos crentes ou ateus estamos sempre procurando transcender-nos rumo a metas cada vez mais novas e nunca completamente realizveis. Nesse sentido, a experincia superficial alienante. Somente num constante esforo de aprofundamento de tudo o que nos rodeia que podemos alcanar a riqueza da vida. Desse modo, convm sempre nos dirigirmos a Deus alicerados na humildade e simplicidade de corao, com o bom nimo de atender primeiramente Sua vontade e no nossa.
7
10. BIBLIOGRAFIA CONSULTADAABBAGNANO, N. Dicionrio de Filosofia. So Paulo, Mestre Jou, 1970. Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopdia, s.d. p. KARDEC, A. A Gnese - Os Milagres e as Predies Segundo o Espiritismo. 17. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1975. KARDEC, A. O Livro dos Espritos. 8. ed., So Paulo, FEESP, 1995. Polis - Enciclopdia Verbo da Sociedade e do Estado. SANTOS, M. F. dos. Dicionrio de Filosofia e Cincias Culturais. 3. ed., So Paulo, Matese, 1965. XAVIER, F. C. e VIEIRA, W. Evoluo em Dois Mundos, pelo Esprito Andr Luiz, 4. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977.
8
A GNESESrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Gnese: Aspectos Gerais. 4. Gnese Planetria. 5. Gnese Moisaica. 6.Gnese Orgnica. 7. Gnese Espiritual. 8. Concluso. 9. Bibliografia Consultada.
1. INTRODUO A inquietao do homem leva-o a perquirir sobre a origem da vida e do universo. Pergunta: o que estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual a finalidade da minha vida? A Bblia e a Cincia fornecem-lhe algumas explicaes. Nosso propsito analis-las sob a tica da Doutrina dos Espritos 2. CONCEITO Gnese - do gr genesis. Sistema cosmognico; a gerao; sucesso dos seres; conjunto dos fatos que concorrem para a produo de qualquer coisa. Biol. Formao, produo ou desenvolvimento de uma clula, um rgo, um indivduo ou uma espcie. Fisiol. Modo de formao dos elementos anatmicos, de acordo com o qual se formam, mais ou menos rapidamente, corpos slidos ou semi-slidos, a partir das substncias lquidas (Enciclopdia Brasileira Mrito). 3. GNESE: ASPECTOS GERAIS A gnese se divide em duas partes: a histria da formao do mundo material e da Humanidade considerada em seu duplo princpio, corporal e espiritual. A Cincia se tem limitado pesquisa das leis que regem a matria. Mas a histria do homem, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de idias, que no so do domnio da Cincia propriamente dita e das quais, por esse motivo, no tem ela feito objeto de suas investigaes. A filosofia, a cujas atribuies pertence, de modo mais particular, esse gnero de estudos, apenas h formulado, sobre o ponto em questo, sistemas contraditrios, que vo desde a mais pura espiritualidade, at a negao do princpio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as idias pessoais de seus autores (Kardec, 1975, cap. 4, it. 11, p. 90). 4. GNESE PLANETRIA De acordo com a Cincia, a origem do Universo pode ser descrita da seguinte forma: no princpio no havia absolutamente nada. Mas antes do Big Bang da criao, no havia sequer nenhum espao vazio. O espao e o tempo bem como a matria e a energia, criaram-se nessa exploso, e no havia um "fora" para onde o Universo explodisse, pois no momento mesmo em que acabava de nascer iniciava a sua grande expanso, o Universo continha tudo, inclusive todo o espao vazio (Gribbin, 1983, p. 5). No que tange origem da Terra, a coisa mais importante que sabemos que o nosso planeta nativo se formou ao mesmo tempo que o Sol e o resto do Sistema Solar pela condensao de uma nuvem de gs no espao interestelar (Gribbin, 1983, p. 107). O Espiritismo, na Gnese planetria, compatibiliza-se com a Cincia, entendendo que o procedimento cientfico a forma pela qual ele pode construir o conhecimento, com o acrscimo apenas de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos so planejados, iniciados e guiados no plano extraterreno (Curti, 1980, p. 17). Assim, segundo o Esprito Emmanuel, Jesus recebeu o orbe terrestre, desde o momento em que se desprendia da massa solar e, junto a uma legio de trabalhadores, presidiu 9
formao da lua, solidificao do orbe, formao dos oceanos, da atmosfera e estruturao do globo nos seus aspectos bsicos, estatuindo os regulamentos dos fenmenos fsicos da Terra, organizando-lhe o equilbrio futuro na base dos corpos simples da matria (Xavier, 1972, cap. 1). O amor de Jesus foi o verbo da criao do princpio. "Atingido o momento, Jesus reuniu nas alturas os intrpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, ento, descer sobre a Terra, das amplides dos espaos ilimitados, uma nuvem de foras csmicas, que envolveu o imenso laboratrio planetrio em repouso. Da a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existncia de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lanara Jesus superfcie do mundo o germe sagrado dos primeiros homens" (Xavier, 1972, p. 22 e 23). 5. GNESE MOISAICA Segundo a Bblia, no princpio dos tempos Deus criou, simultaneamente, todas as plantas e animais superiores, a partir da matria inerte. Deus, do p da terra, forma o primeiro homem - Ado -, sopra-lhe as narinas e lhe d vida. Retira-lhe uma de suas costelas e cria a Eva. Esta tentada pela serpente e come, juntamente, com Ado o fruto proibido - a ma. Literalmente considerada esta noo mitolgica e antropomrfica. D-se a impresso que Deus um ceramista que manuseia os seres criados por Ele. Allan Kardec, no captulo XII de A Gnese, esclarece-nos com preciso a linguagem figurada da Bblia. Ado e Eva no seria o primeiro e nico casal, mas a personificao de uma raa, denominada admica; a serpente o desejo da mulher de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo esprito de adivinhao; a ma consubstancia os desejos materiais da humanidade. 6. GNESE ORGNICA A Cincia ainda no sabe como a vida se originou. A hiptese mais aceite a de que a vida evoluiu a partir da existncia de matria orgnica inerte dissolvida na gua. No incio, h 5 bilhes de anos, as temperaturas eram quentes demais para permitir a existncia de protoplasma, a matria prima das clulas vivas. A gua, um dos principais componentes do protoplasma, s estava presente como vapor, um entre muitos gazes na quente e escura atmosfera. Depois de arrefecida, formou-se a gua e com ela a vida. O primeiro passo na evoluo foi a formao de clulas vivas, o segundo foi a expanso da vida, a partir do lodo e pntano. Assim, O protoplasma evolui para as bactrias, as bactrias para os vrus, os vrus para as amebas, as amebas para as algas, as algas para as plantas, as plantas para os animais at chegar formao do homem. Em termos do tempo: H 4.500 milhes de anos - as mais antigas rochas conhecidas; H 4.000 milhes de anos - a gua condensa-se; H 3.800 milhes de anos - aparecimento das molculas orgnicas; H 3.500 milhes de anos - aparecimento das molculas de polmero; H 3.300 milhes de anos - aparecimento das bactrias anaerbias; H 2.900 milhes de anos - aparecimento das bactrias anaerbias com fotossntese; H 2.000 milhes de anos - aparecimento das algas, dos protozorios e das bactrias; H 800 milhes de anos - aparecimento das plantas e dos animais (Taylor, 1983, p. 18 e 19).
10
O surgimento do Homem (estudos fsseis) H 25 milhes de anos - o Pliopithecus, um pequeno primata que conseguia andar s em dois ps; H 14 milhes de anos - o Ramapithecus, o primeiro primata que se assemelha mais ao homem do que aos smios; H 5 milhes de anos - o Australopithecus, criatura de corpo muito humano semelhante ao chimpanz na cabea e na cara; H 750.000 anos - o Homo erectus. O Homo erectus andou pela Terra pelo menos durante um milho de anos fazendo descobertas to importantes como o domnio do fogo para se aquecer e preparar alimentos. Depois deus origem ao homem moderno, o Homo sapiens. Alguns fsseis do homem moderno datam de h 250.000 anos. Quando o Homo sapiens aparece em cena, em maior nmero, (150.000 a 160.000 anos), no com um s tipo mas, pelo menos, dois. O de testa mais curta destes "antigo-modernos" o Homo sapiens neanderthalis ou Homem de Neanderthal. Provavelmente, desapareceu h cerca de 30.000 anos, deixando s o seu primo de fronte majestosa, o Homo sapiens sapiens, herdeiro da Terra (Taylor, 1983, p. 34 e 35). Sintetizando: o tomo evolui para a molcula simples, a molcula simples para a molcula complexa, a molcula complexa para a molcula protica, a molcula protica para molcula de ADN, a molcula de ADN para o organismo unicelular e o organismo unicelular para o organismo pluricelular (Enciclopdia Combi). H um problema no solucionado: como da evoluo qumica se passa evoluo biolgica? Segundo o Espiritismo, a vida, tambm, o resultado desta complexa evoluo comprovada pela Cincia. Allan Kardec em A Gnese, Andr Luiz em Evoluo em Dois Mundos e Emmanuel em A Caminho da Luz atestam para a formao da camada gelatinosa, depois das altas temperaturas e resfriamento pelo qual passou o nosso planeta, na poca de sua constituio, h cinco bilhes de anos. H o aparecimento do protoplasma e toda a cadeia evolutiva. A diferena entre Cincia e Espiritismo que o segundo faz intervir a ao dos Espritos no processo de evoluo. 7. GNESE ESPIRITUAL Vimos toda a cadeia evolutiva orgnica. Mas o que d vida matria inerte? Allan Kardec diz-nos que o princpio inteligente que anima a matria. Como entender esse raciocnio? Deus a causa primria de tudo. DELE vertem-se dois PRINCPIOS: PRINCPIO ESPIRITUAL E PRINCPIO MATERIAL. Para que possamos entender essa trilogia esprita, necessitamos incluir a noo de fluido universal, elemento primordial da matria. Condensando-se o Fluido Universal, teremos os vrios tipos de matria: matria bruta, corpo fsico, perisprito, fluido vital etc. O Esprito, como essncia, difere de tudo o que conhecemos por matria. Questo: como se processa a unio do princpio espiritual matria? No ato da concepo, o perisprito se contrai at a dimenso de uma molcula, que se liga ao PRINCPIO VITO-MATERIAL DO GRMEN. Desenvolve-se unindo molcula por molcula ao novo corpo em formao. O Esprito fica ligado no unido ao corpo fsico. Somente quando a criana vem luz que se une por completo, quando se d o fenmeno 11
do esquecimento do passado e a tomada da conscincia da nova existncia terrena. (Kardec, 1975, cap. 9, it. 18, p. 214) Os Espritos, para o Espiritismo, foram criados simples e ignorantes com a determinao de se tornarem perfeitos. Para isso necessitam do contato com a matria. Andr Luiz em Evoluo em Dois Mundos cita que o princpio inteligente estagiando na ameba adquire os primeiros automatismos do tato; nos animais aquticos, o olfato; nas plantas, o gosto; nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vrios reinos da natureza. Assim, no reino mineral adquirimos a atrao; no reino vegetal, a sensao; no reino animal, o instinto; no reino hominal, o livre-arbtrio, o pensamento contnuo e a razo. (Xavier, 1977, cap. 4) 8. CONCLUSO Embora no tenhamos condies de explicar a origem do Universo e da vida, nada nos impede de reverenciar a Deus, causa primeira de tudo, pela magnanimidade de sua obra. Que os bons Espritos possam tirar-nos o vu do orgulho, a fim de que a humildade esteja sempre presente em nossas aes. 9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADACURTI, R. Espiritismo e Evoluo. So Paulo, FEESP, 1980. Enciclopdia Brasileira Mrito. GRIBBIN, J. Gnese: As Origens do homem e do Universo. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1983. KARDEC, A. A Gnese - Os Milagres e as Predies Segundo o Espiritismo. 17. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1976. TAYLOR, R. A Evoluo. Lisboa, Verbo, 1983. XAVIER, F. C. A Caminho da Luz - Histria da Civilizao Luz do Espiritismo, pelo Esprito Emmanuel. Rio de Janeiro, FEB, 1972. XAVIER, F. C. e VIEIRA, W. Evoluo em Dois Mundos, pelo Esprito Andr Luiz, 4. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977.
12
A BBLIASrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Antigo Testamento: 3.1. A lei; 3.2. Deus nico; 3.3. Os Profetas; 3.4. O Messianismo. 4. Novo testamento: 4.1. Os Quatro Evangelhos; 4.2 O Quinto Evangelho. 6. Concluso. 7. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo deste estudo sintetizar, dentro da tica esprita, a viso geral do Antigo e do Novo Testamento. 2. CONCEITO O termo Bblia provm do plural grego ta biblia (os livros), que, pelo menos a partir do sculo XII, usada para significar o conjunto dos vrios escritos do Antigo e do Novo Testamento. O uso de um singular para designar vrios livros sagrados tem uma explicao teolgica. No obstante a diversidade dos autores humanos, estes livros constituem uma unidade, um livro, ou o livro por excelncia, cujo autor principal Deus (Enciclopdia Verbo da Sociedade e do Estado). A palavra Testamento tem, na Bblia, o significado de pacto, de aliana. A figura jurdica do Testamento era desconhecida dos antigos hebreus. A herana entre eles, estava regulada pelo costume e, posteriormente, pela lei (Nm., 27, 8-11), no havendo a hiptese de herdeiros designados pelo testador. Mas nos tempos helensticos, os rabinos introduziram a instituio jurdica dos gregos relativa ao Testamento e o termo diatheke que a designava. A Vulgata, ao traduzir a Bblia para o latim, em vez de traduzir diatheke por foedus usou o termo testamento, que uma das acepes de diatheke, mas no corresponde ao vocbulo original berit (Enciclopdia Luso-Brasileira de Cultura). Antigo Testamento - conjunto dos livros dos judeus, ou histria dos judeus at Jesus Cristo. Divide-se em trs partes: 1.) Thora, ou Lei (compreendendo o Gnesis, o xodo, o Levtico, os Nmeros e o Deuteronmio); 2.) Nebium, ou Profetas (compreendendo Josu, Juzes, Samuel, Reis etc.); 3.) Ketubrim, ou hagigrafos (compreendendo os salmos e os livros histricos). Novo Testamento - conjunto de livros dos cristos, ou histria de Jesus Cristo. 3. ANTIGO TESTAMENTO A Bblia, segundo os judeus e cristos em geral, tida como o repositrio da palavra de Deus, ditada ou inspirada por Ele. "O Conclio de Trento, em 1546, proibiu por em dvida a inspirao divina da Bblia, inclusive o Antigo Testamento. (Challaye, 1981, p. 142) No estudo da Histria, entendida como Cincia, desenvolveu-se, como mtodo cientfico prprio, o que se denomina de crtica histrica. Esta, ao analisar o contedo bblico, conclui que nele h a contribuio de vrias escolas, acrscimos posteriores e autorias diferentes daquelas a quem so atribudas as passagens escritas. E que, portanto, a Bblia, como tantos outros textos religiosos, obra humana. O Espiritismo entende que ela constituda de Revelaes Medinicas, entretecidas de narrativas, interpretaes e inferncias humanas, revelaes estas que lhe estruturam os fundamentos religiosos e morais de forma progressiva (Curti, 1981, p. 21).
13
3.1. A LEI Moiss, salvo da matana pela filha do Fara e educado na corte, aps ter matado um egpcio que maltratava um judeu, refugiou-se no deserto, onde lhe apareceu Deus numa sara ardente, incumbindo-o da misso de tirar seu povo do Egito e estabelec-lo na "terra prometida" no pas de Cana. Conta-se que, antes da fuga, o Anjo da Morte passa por sobre as casas dos israelitas, ferindo de morte os primognitos dos egpcios. Pragas, passagem pelo Mar Vermelho, a submerso de carros e soldados egpcios, que perseguiam os fugitivos, sucedem-se at a chegada deles no Sinai No monte, Moiss recebe de Deus a Lei o Declogo "base de todo direito no mundo, sustentculo de todos os cdigos da justia terrestre" Moiss unifica as tribos num povo, f-las adotar Iav como seu Deus, constituindo uma religio nacional, na qual o povo se une divindade num pacto de Aliana, que constitui uma unidade tnico-religiosa, uma nao-religio (Curti, 1981, p. 24). 3.2. DEUS NICO A crena no Deus nico constituiu-se uma monolatria, no sentido de que os israelitas at o sculo VII e VI a. C. admitiam outros deuses nacionais, alm de Iav. Este era o seu deus nacional. Pouco a pouco, entendem-no de forma animista e antropomrfica, com corpo espiritual comparado ao homem e com anlogo sentimentos A f no Deus nico conduziu este povo a condenar prticas mgicas e o culto aos mortos. O prprio Moiss, no Deuteronmio, recomenda no se interrogar os mortos. "Enquanto a civilizao egpcia e os iniciados hindus criavam o politesmo para satisfazer os imperativos da poca, contemporizando com a versatilidade das multides, o povo de Israel acreditava somente na existncia de Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injrias e a tolerar todos os martrios"... "Todas as raas da Terra devem aos judeus esse benefcio sagrado, que consiste na revelao do Deus nico, Pai de todas as criaturas e Providncia de todos os seres (Xavier, 1972, p. 68 e 69). 3.3. OS PROFETAS Moiss no penetra nas terras de Cana; morre antes, o que, alis, lhe teria sido dito antes por Iav. Em 1200 a. C. seu grupo o faz, guiado por Josu e, na nova terra, sob a liderana dos juzes, chefes militares, conselheiros e magistrados, induz outras tribos a aceitarem o Iavesmo. Este, entretanto, se defronta com a Religio Canania, com as crenas dos habitantes da regio, que provoca um sincretismo pelo qual lhe adotam o sistema ritual, os stios sagrados, os santurios, a organizao sacerdotal, assimilando-lhe a religio e cultura. A funo dos profetas insurgir-se contra esse sincretismo. Elias, Ams, Osias, Isaas etc. so esses profetas (Curti, 1981, p. 28 e 29). 3.4. O MESSIANISMO A idia de um messias geralmente atribuda ao Judasmo, historicamente anterior e encontra-se em outras crenas, entre vrios povos. Ela explicada, porm, com base na concepo de um passado remoto em que os homens teriam vivido situao melhor e que voltaria a existir pela mediao entre os homens e a divindade, de um Salvador. Emmanuel entretanto explica que os Capelinos, ao serem recebidos por Jesus, teriam guardado as reminiscncias de seu planeta de origem e das promessas do Cristo, que as fortalecera ao longo do tempo, "enviando-lhe periodicamente os seus missionrios e mensageiros. Os enviados do infinito falaram na china milenar, no Egito na Prsia etc. Entre os judeus a idia do Messias Salvador surge entre os sculos IV e III a. C. pela literatura proftica. o ungido, o enviado de Iav com a misso de instaurar o reino de Deus 14
no mundo (Curti, 1981, p. 35). 4. NOVO TESTAMENTO Deus, no Velho Testamento, havia comunicado os seus anncios de alegria aos patriarcas, a Moiss e aos profetas do seu povo; no Novo Testamento, d o maior dos anncios, o anncio de Jesus. Jesus no s contedo do anncio, mas tambm o primeiro portador e arauto. Ele apresenta a si mesmo e a sua obra como o Evangelho de Deus, isto , a boa-nova que Deus envia ao mundo que espera (Battaglia, 1984, p. 21 e 22). O Novo Testamento composto de 4 Evangelhos, os Atos dos Apstolos, as Epstolas e o Apocalipse de Joo. 4.1. OS QUATRO EVANGELHOS Os Evangelhos comearam a ser redigidos somente cerca de quarenta anos ou cinqenta depois dos eventos por ele narrados, embora j houvesse, alm da tradio oral, textos escritos de que os Evangelistas se valeram. O Evangelho Segundo Mateus, o Evangelho Segundo Marcos e o Evangelho Segundo Lucas so classificados como Evangelhos Sinticos, pois h muita concordncia em seus escritos. O Evangelho Segundo Joo difere dos trs anteriores pelo seu estilo, sua estrutura e seus objetivos. mais uma interpretao teolgica da vida e obra de Cristo do que uma biografia. O estilo rude do autor desenvolve um enredo progressivo e dramtico dos acontecimentos. O autor utilizou-se das mesmas fontes dos sinticos, mas desenvolveu de maneira toda prpria certos acontecimentos e destacou outros em funo do seu objetivo maior: anunciar a divindade e a supremacia de Jesus (Enciclopdia Miraror Internacional). 4.2 O QUINTO EVANGELHO Os Atos dos Apstolos e as Cartas Apostlicas dispostos cronologicamente formariam um quinto evangelho. O Nascimento de Jesus, por exemplo, poderia ser encontrado em Gl 4,4; Rm 1,4; At 3, 18-24; At 1,14. Sua atividade missionria em At 10,36; At 2,22; At 1,13; At 1, 21-22; 2 Pd 1, 16-18; 1 Jo 1, 1-3. Este mesmo exerccio poderia ser feito com relao s condies de sua vida, o incio da vida pblica, a ltima ceia, a traio de Judas etc. (Battaglia, 1984, p. 32 a 36). 5. CONCLUSO A leitura do Antigo e Novo Testamento deve ser feita no em funo da letra, mas em funo do Esprito, a fim de que possamos captar toda a simbologia que est por trs das palavras. 6. BIBLIOGRAFIA CONSULTADABATTAGLIA, 0. Introduo aos Evangelhos Um Estudo Histrico-crtico. Rio de Janeiro, Vozes, 1984. CHALLAYE, F. As Grandes Religies. So Paulo, IBRASA, 1981. CURTI, R. Monotesmo e Jesus. So Paulo, FEESP, 1980. Enciclopdia Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa, Verbo, s. d. p. Enciclopdia Mirador Internacional. So Paulo, Encyclopaedia Britannica, 1987. Polis - Enciclopdia Verbo da Sociedade e do Estado. XAVIER, F. C. A Caminho da Luz - Histria da Civilizao Luz do Espiritismo, pelo Esprito Emmanuel. Rio de Janeiro, FEB, 1972.
15
JESUS CRISTOSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Etimologia. 3. O messias. 4. O Nascimento de Jesus Cristo. 5. A Infncia de Jesus. 6. Joo Batista e o Batismo. 7. A Pregao. 8. Jesus e o Estado. 9. A Perspectiva da Cruz. 10. A misso de Jesus. 11. Concluso. 12. Bibliografia Consultada.
1. INTRODUO O objetivo deste estudo analisar a vida e obra de Jesus Cristo, no sentido de melhor compreender a nobre misso desse eminente Esprito reencarnado entre ns. 2. ETIMOLOGIA Jesus Cristo (de Jesos, forma grega do hebraico Joxu, contrao de Jehoxu, isto , "Jeova ajuda ou salvador", e de Cristo, do grego Christs, corresponde ao hebraico Moxi, escolhido ou ungido). 3. O MESSIAS A idia de um messias geralmente atribuda ao Judasmo, historicamente anterior e encontra-se em outras crenas, entre vrios povos. Ela explicada, porm, com base na concepo de um passado remoto em que os homens teriam vivido situao melhor e que voltaria a existir pela mediao entre os homens e a divindade, de um Salvador. Emmanuel entretanto explica que os Capelinos, ao serem recebidos por Jesus, teriam guardado as reminiscncias de seu planeta de origem e das promessas do Cristo, que as fortalecera ao longo do tempo, "enviando-lhe periodicamente os seus missionrios e mensageiros. Os enviados do infinito falaram na china milenar, no Egito na Prsia etc. Entre os judeus a idia do Messias Salvador surge entre os sculos IV e III a. C. pela literatura proftica. o ungido, o enviado de Iav com a misso de instaurar o reino de Deus no mundo (Curti, 1980, p. 35). 4. O NASCIMENTO DE JESUS CRISTO Jesus nasceu em Belm e morreu no ano 30 de nossa era. O ms e o ano do nascimento de Jesus Cristo so incertos. A era vulgar, chamada de Cristo, foi fixada no sc. VI por Frei Dionsio, que atribui o Natal ao ano de 754 da fundao de Roma. O texto evanglico correspondente ao seu nascimento : "Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua me, prometida por esposa a Jos, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grvida pelo Esprito Santo. Mas Jos, seu esposo, sendo justo, e no a querendo infamar, resolveu deix-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: Jos, filho de Davi, no temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado do Esprito Santo. Ela dar luz um filho e lhe pors o nome de Jesus, porque ele salvar o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu, para que lhe cumprisse o que fora dito pelo senhor por intermdio do profeta: Eis que a virgem conceber e dar luz um filho, e ele ser chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco) (Mateus, 1, 18 a 23). Comentrio: o nascimento de Jesus por uma virgem engravidada pelo Esprito Santo, Deus na terceira pessoa, figura mitolgica, que se prende a concepes filosficas sincreticamente associadas mais tarde interpretao da Revelao Crist. 16
A idia de concepo por um Deus prende-se concepo aristotlica da substncia, em que qualquer substncia deve derivar dela mesma. Assim, o homem deve derivar do homem, a planta da planta e o animal do animal. Assim sendo, atribuindo a Jesus, substncia divina, por entenderem-no Deus, na pessoa do filho, encarnado, ele s poderia ter sido concebido por um Deus, o Esprito Santo, porque de um homem no poderia ter nascido Deus (Curti, 1980, p. 38 e 39). 5. A INFNCIA DE JESUS A histria de Jesus, tal como se processou sua vida, muito difcil de se reconstituir hoje, porque os Evangelhos so praticamente a nica fonte existente a fornec-la, e eles descrevem muito mais o que Jesus vem a significar, aps a sua morte para a Igreja, do que os fatos tal como aconteceram. O Evangelho nos diz que para fugir matana das crianas, a Sagrada Famlia julgou conveniente fugir para o Egito. Depois da morte de Herodes regressou do exlio e estabeleceu-se em Nazar, na Galilia. A passou Jesus a infncia e a juventude, exalando pelo exemplo, como operrio na oficina de Jos, a dignidade do trabalho, no qual a Antigidade vira unicamente a funo prpria do escravo. Alm disso, pouco ou nada se sabe acerca de sua infncia. Lucas limita-se a dizer que "...crescia e se fortalecia cheio de sabedoria; e a graa de Deus estava sobre Ele". (Lucas, 2, 40) Narra-se que certa vez, na Pscoa, quando contava 12 anos, seus pais o perderam, reencontrando-o s aps trs dias "...assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a Sua inteligncia e respostas" (Lucas, 2, 46 e 47). 6. JOO BATISTA E O BATISMO "Joo, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operaes iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho Verdade, ele precedeu a lio da misericrdia e da bondade". (Xavier, 1977, p. 24) Dizia s pessoas que deviam se arrepender porque estava prximo o reino dos cus. E todos dirigiam-se ao rio Jordo para ser batizado por ele. Dizia tambm: "Eu vos batizo com gua, para arrependimento; mas aquele que vem depois de mim mais poderoso do que eu, cujas sandlias no sou digno de levar. Ele vos batizar com o Esprito Santo e com o fogo" (Mateus, 3, 11). Lemos em Mateus, 2, 13 a 17; em Marcos, 1, 9 a11; em Lucas, 3, 21 e 22, que Jesus foi batizado por Joo Batista. A respeito do batismo, o Esprito Emmanuel, na pergunta 298 do livro O Consolador, comenta que o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu corao ao Pai de misericrdia para a cristianizao dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicao. 7. A PREGAO Contava trinta anos quando comeou a pregar a "Boa Nova". Compreende a sua vida pblica um pouco mais de trs anos (27 a 30 da era crist). Utilizou-se, na sua pregao, o apelo combinado razo e ao sentimento, por meio de parbolas ilustrativas das verdades morais. As duas regies de sua pregao: 1) Galilia (Nazar) - as cercanias do lago de Genesar e as cidades por ele banhadas, e principalmente Cafarnaum, centro a atividade messinica de Jesus; 2) Jerusalm - que visitou durante quatro vezes durante o seu apostolado e sempre por ocasio da Pscoa. Na Galilia, percorrendo os campos, as aldeias e as cidades, Jesus anunciava s turbas que o seguem o Reino de Deus; a, tambm, que recruta os seus doze apstolos e os prepara para serem as suas testemunhas. Ao mesmo tempo, vai realizando milagres. 17
Em Jerusalm, continuamente perseguido pela hostilidade dos fariseus (seita muito considerada e muito influente, que constitua a casta douta e ortodoxa do judasmo), ataca a hipocrisia deles e esquiva-se s suas ciladas. Como prova de sua misso divina, apresentalhes a cura de um cego de nascena e a ressurreio de Lzaro (Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira). 8. JESUS E O ESTADO Rejeitando transformar-se em chefe poltico, conforme o desejo de muitos dos seus seguidores, Jesus, desde o incio do seu ministrio, teve de enfrentar a ordem estabelecida, pois o Estado contrariava as suas prdicas do Sermo do Monte. A execuo de Jesus pelos romanos, sob o letreiro Rei dos Judeus, indicava que fora legalmente condenado morte como rebelde contra o Estado romano, isto , como se fora um zelota. Certas afirmaes suas ("no vim trazer a paz, mas a espada"), a expulso dos vendilhes do templo, as crticas violentas corte em geral e a Herodes pessoalmente, a que chama "raposa", pareciam colocar Jesus na linha do radicalismo poltico. A esfinge da moeda no nega a realidade do poder constitudo; mas o que reala, a preeminncia de Deus na vida humana. Dai "a Csar o que de Csar e a Deus o que de Deus" significa, antes de tudo, a recusa de dar a Csar o que de Deus. Jesus parece defender no a separao das esferas de poder, mas a submisso de todos os poderes vontade de Deus, a que tambm Csar deveria submeter-se (Enciclopdia Mirador Internacional). 9. A PERSPECTIVA DA CRUZ Se quisermos adotar, na perspectiva da crtica histrica atual, o ponto de partida mais slido, para o conhecimento de Jesus Cristo, teremos de escolher os acontecimentos ligados sua priso, julgamento e execuo na cruz. Da, tiramos concluses hermenuticas para a sua correta interpretao. Por que aquele desfecho e no outro? A terceira razo, a execuo na cruz, recomenda uma cristologia da cruz: a cruz permite-nos entender como o significado e ministrio de Jesus Cristo salvao deste mundo atravs de um julgamento que abrange todos os responsveis pela sua morte e se exerce, no pela fora das armas que matam, mas pelo testemunho da verdade e do amor que leva doao da prpria vida (martyria) (Enciclopdia Verbo de Sociedade e Cultura). 10. A MISSO DE JESUS Moiss trouxe a 1. revelao; Jesus a segunda. A primeira revelao d relevncia ao olho por olho e dente por dente; a segunda fala do amor incondicional, estendendo-o at ao amor ao inimigo. "Jesus no veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus; ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolv-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, e apropri-la ao grau de adiantamento dos homens; por isso, se encontra nessa lei o princpio dos deveres para com Deus e para com o prximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto s leis de Moiss propriamente ditas, ao contrrio, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma; combateu constantemente o abuso das prticas exteriores e as falsas interpretaes, e no poderia faz-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: "Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao prximo como a si mesmo". E dizendo: est a toda a lei e os profetas" (Kardec, 1984, cap. 1, it. 3, p. 35) 11. CONCLUSO Jesus, embora no tenha deixado nada escrito, o modelo enviado por Deus para nos ensinar a lei do amor. A sua vida de obedincia ao Pai, renunciando a prpria vida, deve constituir-se, para todos os cristos, um estmulo constante prtica do bem na Terra. 18
12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADACURTI, R. Monotesmo e Jesus. So Paulo, FEESP, 1980. Enciclopdia Mirador Internacional. So Paulo, Encyclopaedia Britannica, 1987. Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopdia, s.d. p. KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 39. ed., So Paulo, IDE, 1984. Polis - Enciclopdia Verbo da Sociedade e do Estado. XAVIER, F. C. Boa Nova, pelo Esprito Humberto de Campos. 11. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977.
19
O EVANGELHOSrgio Biagi Gregrio SUMRIO 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Conotaes do Termo Evangelho. 4. Contexto Histrico do Evangelho: 4.1. Ambiente Poltico-Religioso; 4.2. O Judasmo Palestinense no Tempo de Cristo; 4.3. De Cristo a Kardec. 5. Kardec e o Evangelho Segundo o Espiritismo. 6. Evangelho e Educao. 7. Concluso. 8. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo central deste estudo enaltecer os esforos constantes de evangelizao das criaturas. Para que possamos atingir tal desideratum, preparamos o seguinte roteiro: conceito, conotaes do termo Evangelho, Evangelho no contexto histrico, o Evangelho Segundo o Espiritismo e Evangelho e Educao. 2. CONCEITO O uso freqente de uma palavra pode provocar, com o tempo, a perda do seu significado original. Isto aconteceu com muitos de ns que dizemos e ouvimos pronunciar tantas vezes o termo Evangelho. De acordo com Battaglia em Introduo aos Evangelhos, o primeiro significado lembrado pelo som desta palavra o de um livro, um dos quatro que foram legados pela era apostlica e que contm a vida e a doutrina de Jesus. A palavra Evangelho suscita em muitos cristos uma vaga idia de respeito e solenidade ligada liturgia da Missa dominical, quando o som deste termo faz-nos ficar todos de p para ouvi-lo devota e respeitosamente. Mas normalmente, tudo pra a. Evangelho a traduo portuguesa da palavra grega Euangelion que foi notavelmente enriquecida de significados. Para os gregos mais antigos ela indicava a gorjeta que era dada a quem trazia uma boa notcia. Mais tarde passou a significar uma boa-nova, segundo a exata etimologia do termo. Falava-se de evangelho, nas cidades gregas, quando ecoava a notcia de uma vitria militar, quando os arautos noticiavam o nascimento de um rei ou de um imperador. Ao termo estava unida a idia de festa com cnticos, luzes e cerimnias festivas. Era, em suma, o anncio da alegria, porque continha uma certeza de bem-estar, de paz e salvao. (1984, p. 19 e 20) 3. CONOTAES DO TERMO EVANGELHO O Evangelho de Jesus Deus, no Velho Testamento, havia comunicado os seus anncios de alegria aos patriarcas, a Moiss e aos profetas do seu povo; no Novo Testamento, d o maior dos anncios, o anncio de Jesus. Jesus no s contedo do anncio, mas tambm o primeiro portador e arauto. Ele apresenta a si mesmo e a sua obra como o Evangelho de Deus, isto , a boa-nova que Deus envia ao mundo que espera (Battaglia, 1984, p. 21 e 22). O Evangelho dos Apstolos Desde o momento da ascenso de Jesus, a palavra Evangelho designou a pregao oral dos apstolos, pregao que tinha como argumento a pessoa e atividade de seu Mestre divino (Battaglia, 1984, p. 23). Os Quatro Evangelhos Desde os primeiros anos do cristianismo preferiu-se falar de Evangelho, no singular, tambm quando se referia aos livros. isto porque os escritos dos apstolos traziam todos o mesmo e idntico alegre anncio proclamado por Jesus e difundido oralmente. Quando se desejou, porm, indicar de maneira especfica cada um dos 20
quatro livros, encontrou-se uma frmula particularmente eficaz e significativa: Evangelho Segundo Lucas, Evangelho Segundo Mateus, Evangelho Segundo Marcos e Evangelho Segundo Joo. Desse momento em diante, o singular e o plural se alternam para indicar, um a identidade do anncio, o outro a diversidade de forma e redao. Ficar, porm, sempre viva a convico de que o Evangelho um s: o alegre anncio de Jesus (Battaglia, 1984, p. 25 e 26). O Quinto Evangelho Os Atos dos Apstolos e as Cartas Apostlicas dispostos cronologicamente formariam um quinto evangelho. O Nascimento de Jesus, por exemplo, poderia ser encontrado em Gl 4,4; Rm 1,4; At 3, 18-24; At 1,14. Sua atividade missionria em At 10,36; At 2,22; At 1,13; At 1, 21-22; 2 Pd 1, 16-18; 1 Jo 1, 1-3. Este mesmo exerccio poderia ser feito com relao s condies de sua vida, o incio da vida pblica, a ltima ceia, a traio de Judas etc. (Battaglia, 1984, p. 32 a 36). Evangelhos Apcrifos Muitas informaes acerca de Jesus esto arroladas nos evangelhos apcrifos (escondidos) e nas grafas (ensino oral). 4. CONTEXTO HISTRICO DO EVANGELHO 4.1. AMBIENTE POLTICO-RELIGIOSO O povo judeu, ao qual Jesus e os apstolos pertenciam, fazia parte do grande imprio romano que estendia as asas das suas guias do Atlntico ao ndico. O jugo romano, porm, pesava de modo especial sobre a Palestina ao contrrio dos outros povos. O poder poltico-religioso na Palestina, naquela poca, era exercido pelo procurador romano, pelo sumo sacerdote e pelo senado judeu. O procurador romano era sobretudo um chefe militar, encarregado de vigiar, com 3.000 homens sua disposio. Competia-lhe cobrar os tributos a serem enviados ao errio imperial. Administrava a justia s nos casos em que era prevista a pena de morte, pena que o tribunal ordinrio do sindrio, ou os tribunais locais das vrias regies e cidades no podiam executar. Por esse motivo Jesus, embora tivesse sido condenado morte pelo sindrio, teve de comparecer diante de Pilatos para responder por delito capital. O sumo sacerdote era assistido, no governo poltico e religioso da nao, por uma espcie de senado judeu, o sindrio. Pertenciam ao sindrio trs categorias de pessoas: - prncipes dos sacerdotes (chefes das famlias e das classes sacerdotais e os sumos sacerdotes depostos do cargo) - ancios (membros das famlias nobres e ricas de Jerusalm). - escribas ou doutores da lei (mestres judeus peritos na Lei e na tradio). Todos esses membros pertenciam s duas seitas principais do judasmo: a dos saduceus e a dos fariseus (Battaglia, 1984, p. 105 a 107). 4.2. O JUDASMO PALESTINENSE NO TEMPO DE CRISTO O ambiente histrico-religioso em que o Evangelho nasceu o do judasmo formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, condicionado pelos acontecimentos histricos, pelas instituies nas quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que o especificaram. Embora o cristianismo seja uma religio revelada, diferente da judaica, apareceu historicamente como continuao e aperfeioamento da revelao dada por Deus ao povo de Israel. Jesus era um judeu, que nasceu e viveu na Palestina. Os apstolos eram todos da sua gente e da sua religio. Por isso, nos Evangelhos encontramos descries, aluses e referncias a pessoas, instituies, idias e prticas religiosas do ambiente judaico, frente s quais Jesus e os apstolos tomaram posio, aceitando-as ou rejeitando-as (Battaglia, 1984, p. 118). 21
4.3. DE CRISTO A KARDEC A divulgao do Evangelho, desde as suas primeiras manifestaes, no foi tarefa fcil. A comear pela construo desses conhecimentos realizada sob um clima de opresso , pois o jugo romano, como vimos anteriormente, pesava de maneira especial sobre a Palestina. As mortes dos primeiros cristos, nos circos romanos, ainda ecoa de maneira indelvel em nossos ouvidos. Alm disso, tivemos que assistir ingerncia poltica em muitas questes de contedo estritamente religioso. Fomos desfigurando o Cristianismo do Cristo para aceitarmos o Cristianismo dos vigrios, como disse o Padre Alta. A f, o principal alimento da alma, torna-se dogmtica nas mos de polticos e religiosos inescrupulosos. Para ganhar os cus, tnhamos que confessar as nossas culpas, pagar as indulgncias e obedecermos aos inmeros dogmas criados pela Igreja. dentro desse quadro de f dogmtica que surge o Espiritismo, dando f uma direo racional, no sentido de iluminar a vida espiritual de toda a humanidade. 5. KARDEC E O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO O Evangelho Segundo o Espiritismo o 3. Livro da Codificao. O Livro dos Espritos surgiu em 18/04/1857, seguido pelo O Livro dos Mdiuns, em 1861. Somente em 1864 Kardec publicou O Evangelho Segundo o Espiritismo. Isso para no chocar a crena catlica da penas eternas. Allan Kardec na Introduo de O Evangelho Segundo o Espiritismo diz que as matrias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em cinco partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as quatro primeiras partes foram objeto de controvrsia, a ltima manteve-se inatacvel. Este o terreno onde todas as crenas podem se reencontrar, porque no motivo de disputas, mas sim regras de conduta abrangendo todas as circunstncias da vida, pblica e privada. Kardec, para evitar os inconvenientes da interpretao, reuniu nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um cdigo de moral universal, sem distino de culto. Nas citaes conservou tudo o que era til ao desenvolvimento do pensamento, no eliminando seno as coisas estranhas ao assunto. Como complemento de cada preceito, ajuntou algumas instrues escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espritos em diversos pases, e por intermdio de diferentes mdiuns. Cabe lembrar que o Espiritismo no tem nacionalidade, est fora de todos os cultos particulares e no foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instrues de seus parentes e de seus amigos de alm-tmulo. Ele veio dar uma nova luz moral do Cristo (1984, Introduo, p. 8 a 12). 6. EVANGELHO E EDUCAO No mbito do Espiritismo, o Evangelho deixou de ser apenas a fonte de meditao e orao para a ligao do homem com um Deus antropomrfico, no insulamento, para transformarse num instrumento de aperfeioamento do indivduo, de renovao ntima constante e continuada; de adequao, adaptao vida, no torvelinho de suas modalidades, na incessante variao de suas manifestaes. Em sntese, o objetivo do Espiritismo transformar o Evangelho de crena em conhecimento conhecimento das leis que governam o Esprito. Com o Evangelho, a idia de Educao se transforma. Ela continua sendo a transmisso de cultura de uma gerao a outra, mas com a finalidade de estimular a criatividade, de adaptar o indivduo vida, de conduzi-lo integrao na sociedade, atravs do trabalho produtivo, das realizaes conjuntas, de forma ordenada e pacfica (Curti, 1983, p. 85 a 87). A vinda do Mestre modificou o cenrio do mundo. Emmanuel em Roteiro diz-nos que antes de Cristo, a educao demorava-se em lamentvel pobreza, o cativeiro era consagrado por lei, a mulher aviltada qual alimria, os pais podiam vender os filhos etc. Com Jesus, 22
entretanto, comea uma era nova para o sentimento. Iluminados pela Divina influncia, os discpulos do Mestre consagram-se ao servio dos semelhantes; Simo Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados; instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelizao para o esprito popular etc. (Xavier, 1980, cap. 21). Emmanuel diz ainda em Emmanuel que O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrar, por algum tempo, a resistncia das trevas. A m-f, a ignorncia, a simonia, o imprio da fora conspiraro contra ele, mas tempo vir em que a sua ascendncia ser reconhecida. Nos dias de flagelo e de provaes coletivas, para a sua luz eterna que a Humanidade se voltar, tomada de esperana (Xavier, 1981, p. 28). 7. CONCLUSO O Evangelho (segundo o Espiritismo) deixa de ser fonte de meditao e orao e passa a ser um instrumento de aperfeioamento do indivduo. um guia insubstituvel para a adaptao do homem s crescentes formas de vida. Refletindo sobre os seus contedos morais, o homem comea a evangelizar-se, ou seja, comea a criar novos hbitos e atitudes, a tornar operante a sua f, a exercitar mais e mais vezes a pacincia. Adquire, assim, uma nova postura com relao vida e ao seu prximo, porque aprendeu que o nico evangelho vivo aquele em que os outros o observam. 8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADABATTAGLIA, 0. Introduo aos Evangelhos Um Estudo Histrico-crtico. Rio de Janeiro, Vozes, 1984. CURTI, R. Espiritismo e Questo Social (Problemas da Atualidade I). So Paulo, FEESP, 1983. KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 39. ed., So Paulo, IDE, 1984. XAVIER, F. C. Emmanuel (Dissertaes Medinicas), pelo Esprito Emmanuel. 9 ed., Rio de Janeiro, FEB, 1981. XAVIER, F. C. Roteiro, pelo Esprito Emmanuel. 5. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1980.
23
OS DISCPULOSSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo; 2. Conceito. 3. Escolha dos Doze Apstolos. 4. O Relacionamento entre Jesus e os Apstolos. 5. As Instrues para os Doze: 5.1. As Admoestaes; 5.2. Os Estmulos; 5.3. As Dificuldades; 5.4. As Recompensas. 6. O Financiamento da Pregao. 7. A fidelidade a Deus. 8. Concluso. 9. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo deste estudo analisar a relao entre Jesus e seus discpulos no tempo de seu apostolado e suas repercusses ao longo do tempo, inclusive nos dias de hoje. 2. CONCEITO Discpulo - Aquele que, com um mestre, aprende alguma cincia ou arte, dele recebe os conhecimentos de uma doutrina etc. O que segue, que adotou certos princpios, sentimentos, idias, e por eles atua, ainda que no conhea o seu autor: seguidor, partidrio, sectrio: os discpulos de Plato. Discpulos do Senhor - Os Evangelhos chamam discpulos aqueles que seguiam de perto a Cristo: em primeiro lugar, os 12 Apstolos; depois, os outros 72 que mandava adiante de si aos lugares onde tencionava pregar (Luc., 10). Em sentido geral, tambm eram chamados discpulos os que acreditavam em Cristo e se propunham seguir sua doutrina, instrudos por ele ou pelos apstolos e evangelistas (Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira). 3. ESCOLHA DOS DOZE APSTOLOS "Ora, os nomes dos doze apstolos so estes: primeiro, Simo, por sobrenome Pedro, e Andr, seu irmo; Tiago, filho de Zebedeu, e Joo, seu irmo; Felipe e Bartolomeu; Tom e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simo o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi tambm quem o traiu" (Mateus, 10, 2 a 4). Jesus Recrutou-os entre os que ouviam as pregaes de Joo Batista. "Freqentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o Mestre reunia grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. No tardou, porm que ele compusesse o seu reduzido colgio de discpulos. Depois de uma pregao do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde ento, seriam os intrpretes de suas aes e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples de lago de Genesar" (Xavier, 1977, p. 38). 4. O RELACIONAMENTO ENTRE JESUS E OS APSTOLOS Em muitos aspectos, a relao entre Jesus e seus discpulos era semelhante s relaes entre o rabino hebreu e seus discpulos. Os rabinos ou doutores da Lei reuniam em torno de si muitos discpulos, aos quais transmitiam a sua doutrina. Esses discpulos, por seu turno, podiam tornar-se rabinos e continuar a tradio que tinham recebido. Os hebreus consideravam o prprio Jesus como um rabino que tinha os seus discpulos. As relaes entre Jesus e seus discpulos no eram exatamente iguais s relaes que havia entre um rabino e seus discpulos. Jesus pedia uma adeso pessoal mais completa do que aquela que era pedida pelos rabinos. O seu discpulo deveria estar disposto a abandonar pai, me, filho e filha, a tomar a sua cruz e dar a vida no seguimento de Jesus. Como seu mestre, os discpulos deveriam abandonar suas casas, ficando sem ter onde repousar a cabea (Mackenzie, 1984). 24
5. AS INSTRUES PARA OS DOZE "A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instrues: No tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas, de preferncia, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel; e, medida que seguirdes, pregai que est prximo o reino dos cus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, repeli demnios; de graa recebestes, de graa dai. No vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos; nem de alforje para o caminho, nem de duas tnicas, nem de sandlias, nem de bordo: porque digno o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles digno; e a ficai at vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a; se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz; se, porm, no o for, torne para vs outros a vossa paz. Se algum no vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o p dos vossos ps" (Mateus, 10, 5 a 14). 5.1. AS ADMOESTAES "Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos; sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas... Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porm, que perseverar at ao fim, esse ser salvo. Quando, porm, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo que no acabareis de percorrer as cidades de Israel, at que venha o Filho do homem" Mateus, 10, 16 a 23). 5.2. OS ESTMULOS "O discpulo no est acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discpulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domsticos? Portanto, no os temais: pois nada h encoberto, que no venha a ser revelado; nem oculto, que no venha a ser reconhecido. O que vos digo s escuras, dizei-o a plena luz; o que se vos diz ao ouvido , proclamai-o sobre os telhados; no temais os que matam o corpo e no podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cair em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vs outros, at os cabelos todos da cabea esto contados. No temais pois! Bem mais valeis vs do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, tambm eu o confessarei diante de meu Pai que est nos cus; mas aquele que me negar diante dos homens, tambm eu o negarei diante de meu Pai que est nos cus" (Mateus, 10, 24 a 33). 5.3. AS DIFICULDADES "No penseis que eu vim trazer paz terra; no vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar diviso entre o homem e seu pai; entre a filha e sua me e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem sero os da sua prpria casa. Quem ama seu pai ou sua me mais do que a mim, no digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, no digno de mim; e quem no toma a sua cruz, e vem aps mim, no digno de mim. Quem acha a sua vida, perd-la-; quem, todavia, perde a vida por minha causa, achla-" (Mateus, 10, 34 a 39). 5.4. AS RECOMPENSAS "Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no carter de profeta, receber o galardo de profeta; quem recebe um justo, no carter de justo, receber o galardo de justo. E quem der a beber ainda que seja um copo de gua fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discpulo, 25
em verdade vos digo que de modo algum perder o seu galardo" (Mateus, 10, 40 a 42). 6. O FINANCIAMENTO DA PREGAO Judas, depois de ouvir todas essas recomendaes do Mestre, indaga: "Senhor, os vossos planos so justos e preciosos; entretanto, razovel considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuio de algum dinheiro". "Jesus contemplou-o serenamente e redargiu: Ser que Deus precisou das riquezas precrias para contribuir as belezas do mundo? Em mos que saibam domin-lo, o dinheiro um instrumento til, mas nunca ser tudo, porque, acima dos tesouros perecveis, est o amor com os seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: No entanto, Judas, embora eu no tenha qualquer moeda no mundo, no posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuiro comigo para a edificao do reino de meu Pai no esprito das criaturas. Pe em prtica a tua lembrana, mas tem cuidado com a tentao das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperao e guarda-a contigo; nunca, porm, procures o que ultrapasse o necessrio" (Xavier, 1977, p. 43). 7. A FIDELIDADE A DEUS Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Sua dedicao nos cerca os espritos, desde o primeiro dia. Ainda no o conhecamos e j ele nos amava. Tudo na vida tem o preo que lhe corresponde. Se vacilamos receosos ante as bnos do sacrifcio e as alegrias do trabalho, medit.os nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer no costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagaro, em flagelaes ntimas, o vaidoso e o avarento? Qual o preo que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Mas se escolhermos o caminho reto, a porta estreita, tambm teremos percalos, contudo o resultado diferente. Nesse sentido no devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa; no no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeioa. Da se segue que nossa batalha pela redeno tem de ser perseverante e sem trgua (Xavier, 1977, cap. 6). 8. CONCLUSO O discpulo deve crer na misericrdia infinita de Deus. Sem essa confiana no Divino Poder do amor nada conseguir na escalada evolutiva, porque sempre estar defendendo os seus interesses particulares em detrimento dos interesses do Criador. 9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADAGrande Enciclopdia Portuguesa e Brasileira. Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopdia, s.d. p. MACKENZIE, J. L. (S. J.) Dicionrio Bblico. So Paulo, Edies Paulinas, 1984. XAVIER, F. C. Boa Nova, pelo Esprito Humberto de Campos. 11. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977.
26
BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPRITOSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Os Pobres de Esprito. 4. Simplicidade de Corao. 5. Mistrios Ocultos aos Sbios. 5. Misso do Homem Inteligente. 6. A Lei do Trabalho. 7. Concluso. 8. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo deste estudo analisar, segundo a tica esprita, os "pobres de esprito", a primeira bem-aventurana do Sermo do Monte, no sentido de captar a real mensagem que Jesus dirigiu aos seus seguidores. 2. CONCEITO Sermo do Monte - Tambm chamado Sermo da Montanha ou Sermo das BemAventuranas, foi pronunciado por Jesus na fralda de um de um monte, em Cafarnauem, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele Jesus faz uma sntese das leis morais que regem a humanidade (Vrios Autores, 2000). Bem-Aventurana - Termo tcnico para indicar uma forma literria que se encontra quer no Antigo quer no Novo Testamento. A Bem-Aventurana uma declarao de bno com base em uma virtude ou na boa sorte. A frmula se inicia com "bem-aventurado aquele..." Com Jesus toma a forma de um paradoxo: a bem-aventurana no proclamada em virtude de uma boa sorte, mas exatamente em virtude de uma m sorte: pobreza, fome, dor, perseguio (Mackenzie, 1984). Pobreza - Do lat. paupertas - significa falta do necessrio vida. Confunde-se, em geral, com misria, em que h falta at do essencial. Na pobreza, h carncia do relativamente suprfluo. Diz-se relativamente porque a pobreza em um estado pode ser misria em outro, e o que suprfluo a uns pode ser j o necessrio para outro (Santos, 1965). Pobres de Esprito - O sentido de "pobres de esprito" ou "pobres em esprito" muito discutido. No significa desapego, mas refere-se s classes humildes, cujo esprito oprimido pela necessidade e pelo abatimento. Ela substitui maldio da pobreza e a bemaventurana consiste no reino do cu, que excede toda riqueza. O termo no significa que somente os pobres entram no reino dos cus, mas tambm os pobres (Mackenzie, 1984). 3. OS POBRES DE ESPRITO Por pobres de esprito Jesus no entende os homens desprovidos de inteligncia, mas os humildes: ele disse que o reino dos cus deles e no dos orgulhosos. Os homens de cincia, compenetrados de si mesmos, elevam-se de tal maneira que acabam por negar a divindade; e os que admit.-na, contestam-lhe a ao providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que s eles bastam para govern-lo. A negao divindade muito mais fruto do orgulho do que da convico: isto poderia faz-los descer do pedestal em que se encontram. "Em dizendo que o reino dos cus para os simples, Jesus quer dizer que ningum nele admitido sem a simplicidade de corao e a humildade de esprito; que o ignorante que possui essas qualidades ser preferido ao sbio que cr mais em si do que em Deus" (Kardec, 1984, cap. 7, it. 2, p. 101 e 102) 27
4. SIMPLICIDADE DE CORAO "Nesse mesmo tempo, os discpulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem o maior no reino dos cus? Jesus, tendo chamado uma criana, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se no vos converterdes, e se no vos tornardes crianas, no entrareis no reinos dos cus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criana ser o maior no reino dos cus, e todo aquele que recebem em meu nome uma criana, tal como acabo de dizer a mim que recebe". (Mateus, 18, 1 a 5) O smbolo da criana diz respeito quele que no tem nenhuma pretenso de superioridade e de infalibilidade. Quando se compara a simplicidade de corao criana, porque esta, sem defesas pessoais, no age com segundas intenes. Esse mesmo pensamento fundamental encontra-se nessa outra mxima: "Todo aquele que se rebaixa ser elevado, e todo aquele que se eleva ser rebaixado". uma dura lio para os orgulhosos, que pensam ser os donos da verdade e do mundo, fazendo e desfazendo ao seu belo prazer. (Kardec, 1984, cap. 7, it. 3 a 6, p. 102 a 104) 5. MISTRIOS OCULTOS AOS SBIOS "Ento Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glria, meu Pai, Senhor do cu e da Terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sbios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos" (Mateus, 11, 25). Nessa passagem Jesus est querendo realar a importncia da humildade. Quer dizer, aquele que se humilha diante do Deus descobre as coisas da alma; quem se orgulha, dificulta esse conhecimento superior. "O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas; ele no coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundncia por toda parte; cegos, pois, aqueles que no a vem. Deus no quer lhes abrir os olhos fora, uma vez que lhes apraz t-los fechados. Sua vez vir, mas preciso primeiro que sintam as angstias das trevas e reconheam Deus, e no o acaso, na mo que atinge o seu orgulho" (Kardec, 1984, cap. 7, it. 9, p. 105). 6. MISSO DO HOMEM INTELIGENTE No nos orgulhemos do que sabemos. Se Deus, nos seus desgnios, nos fez nascer num meio onde pudssemos desenvolver a inteligncia, porque Ele quer ajudemos as inteligncias retardatrias. "A inteligncia rica de mritos para o futuro, mas com a condio de ser bem empregada; se todos os homens dotados, se servissem dela segundo os desgnios de Deus, a tarefa dos Espritos seria fcil para fazer a Humanidade avanar; infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdio para si mesmos. O homem abusa da inteligncia como de todas as outras faculdades e, entretanto, no lhe faltam lies para adverti-lo de que uma poderosa mo pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu" (Kardec, 1984, cap. 7, it. 13, p. 111 e 112). 7. A LEI DO TRABALHO Na Antigidade o trabalho era considerado uma punio. O pobre deveria trabalhar enquanto as classes polticas e religiosas usufruam da sua produo. Era contra esse falso conceito de trabalho que Jesus pregava, ou seja, contra essa idia que o apresenta como castigo, punio, exaltando a contemplao. "Bem-Aventurados os pobres de esprito, os deserdados da sorte, porque compelidos ao trabalho. Enquanto vs, aproveitadores de toda a espcie, estais a regalar-vos com os produtos dos humildes, estes esto a desenvolver em si a inteligncia, a capacidade de subsistir; esto aprendendo a dominar a natureza e a prpria inferioridade; a conhecer os meios de obter riquezas, de dominar a arte, a cincia, as foras que tm dentro de si e que 28
os far crescer na eternidade" (Curti, 1982, p. 26). 8. CONCLUSO Humilhemo-nos diante de Deus. Por pior que seja a nossa situao, mantenhamos acesa a luz da esperana, a fim de que possamos trilhar o verdadeiro caminho de nossa evoluo espiritual. 9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADACURTI, R. Bem-Aventuranas e Parbolas. So Paulo, FEESP, 1982. KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 39. ed., So Paulo, IDE, 1984. MACKENZIE, J. L. (S. J.) Dicionrio Bblico. So Paulo, Edies Paulinas, 1984. SANTOS, M. F. dos. Dicionrio de Filosofia e Cincias Culturais. 3. ed., So Paulo, Matese, 1965.
29
BEM-AVENTURADOS OS AFLITOSSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Causa das Aflies. 4. Fatos Geradores de Dor e Sofrimento. 5. Estados da Alma. 6. O Problema da Dor. 7. Bem-Aventurana na Dor. 8. Concluso. 9. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo deste estudo analisar a dor e o sofrimento, tanto na forma de expiao como de evoluo, tendo em vista um caminho mais consciente para os nossos Espritos. 2. CONCEITO Aflio - do latim afflictione. 1. Agonia, atribulao, angstia, sofrimento. 2. Tristeza, mgoa, pesar, dor. 3. Cuidado, preocupao, inquietao, ansiedade. 4. Padecimento fsico; tormento, tortura (Dicionrio Aurlio). Aflio, na essncia, o reflexo intangvel do mal forjado pela criatura que o experimenta, e todo mal representa vrus de alma suscetvel de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora (Equipe FEB, 1997). Freqentemente, aflio a nossa prpria ansiedade, respeitvel mas intil, projetada no futuro, mentalizando ocorrncias menos felizes que, em muitos casos, no se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir (Equipe FEB, 1997). 3. CAUSA DAS AFLIES As causas das aflies devem ser procuradas tanto no presente (atual encarnao) como numa existncia passada. Devemos partir do princpio de que elas so justas. Se assim no pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo o que se nos acontece tem um motivo, embora nem sempre o saibamos explicar com clareza. Assim sendo, toda vicissitude pode ser vista sob dois ngulos: 1) em vista da encarnao atual Aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagaes a respeito. Em caso de anemia ser que me descuidei da alimentao? No caso do filho escolher o caminho do vcio dei-lhe a devida educao, os cuidados necessrios? No caso de uma querela familiar ser que no fui injusto para com tal pessoa? "Que todos aqueles que so atingidos no corao pelas vicissitudes e decepes da vida, interroguem friamente sua conscincia; que remontem progressivamente fonte dos males que os afligem, e vero se, o mais freqentemente, no podem dizer: Se eu tivesse, ou no tivesse, feito tal coisa eu no estaria em tal situao" (Kardec, 1984, cap. 5, it. 4, p. 72). 2) em vista de uma encarnao passada No encontrando uma resposta satisfatria na presente encarnao, devemos nos reportar encarnao passada. "Os sofrimentos por causas anteriores so, freqentemente, como o das causas atuais, a conseqncia natural da falta cometida; quer dizer, por uma justia distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem; se foi duro e desumano, ele poder ser, a se turno, tratado duramente e com desumanidade; se foi orgulhoso, poder nascer em uma condio humilhante; se foi avarento, egosta, ou se fez mal uso da fortuna, poder ser privado do necessrio; se foi mal filho, poder sofrer com os prprios filhos etc." (Kardec, 1984, cap. 5, it. 7, p. 74).
30
4. FATOS GERADORES DE DOR E SOFRIMENTO Suicdio e loucura cujas causas esto no descontentamento com relao vida. Os maiores excitantes ao suicdio so a incredulidade, a simples dvida sobre o futuro e as idias materialistas. Ao contrrio, a calma e a resignao, hauridas na maneira de encarar a vida terrestre, e na f no futuro, do ao Esprito uma serenidade que o melhor preservativo contra a loucura e o suicdio (Kardec, 1984, cap. 5, it. 14 a 17, p. 79 a 81). Mortes prematuras ao morrer um jovem e no um velho, dizemos que Deus injusto, e nos revoltamos contra Ele. Esquecemo-nos de que a morte prefervel aos desregramentos vergonhosos que desolam as famlia honradas, partem o corao da me, e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais (Kardec, 1984, cap. 5, it. p. 85 a 87). Demos esses dois exemplos, mas poderamos arrolar muitos outros, como por exemplo, as doenas prolongadas, as tuberculoses, a Aids etc. 5. Estados da Alma Melancolia Por que uma vaga tristeza se apodera de nossos coraes e achamos a vida to amarga? que o nosso Esprito aspira felicidade e liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de priso, se extenua em vo esforos para dele sair. Mas vendo que so inteis, cai no desencorajamento e na languidez (Kardec, 1984, cap. 5, it. 25, p. 90). Infelicidade Vemo-la na misria, no fogo sem lume, no credor ameaador... Mas a infelicidade a alegria, o prazer, a fama, a agitao v, a louca satisfao da vaidade, que fazem calar a conscincia (Kardec, 1984, cap. 5, it. 24, p. 88 e 89). Alm desses dois estados, podemos acrescentar: remorso, tormentos, apatia... 6. O PROBLEMA DA DOR Dor e Sofrimento a simples reflexo sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles tm uma razo de ser muito profunda. A dor um alerta da natureza, que anuncia algum mal que est nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se no fosse a dor sucumbiramos a muitas doenas sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento, mais profundo do que a simples dor sensvel e que afeta toda a existncia, tambm tem a sua razo de ser. atravs dele que o homem se insere na vida mstica e religiosa (Idgoras, 1983). O processo de crescimento espiritual est associado dor e ao sofrimento. De acordo com o Esprito Andr Luiz, a dor pode ser vista sob trs aspectos: 1) Dor-expiao que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos sculos, detendo-a em complicados labirintos de aflio, para regener-la, perante a justia. conseqncia de nosso desequilbrio mental, ou proceder desviado da rota ascensional do esprito. Podemos associ-la s encarnaes passadas. Muitas vezes o resgate devido ao mau uso de nosso livre-arbtrio. 2) Dor-evoluo que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual no existiria progresso. Na dor-expiao esto associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa etc. Na dor-evoluo esto associados o esforo e a resistncia ao meio hostil. Enquanto a primeira conseqncia de uma ato mau, a segunda um fortalecimento para o futuro. 3) Dor-Auxlio so as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltrio fsico, seja 31
para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais freqentemente, para o servio preparatrio da desencarnao, a fim de que no sejamos colhidos por surpresas arrasadoras, na transio para a morte. O enfarte, a trombose, a hemiplegia, o cncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgnica constituem, por vezes, dores-auxlio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existncia do corpo denso, habilitando-se, atravs de longas reflexes e benficas disciplinas, para o ingresso respeitvel na vida espiritual (Xavier, 1976, p. 261 e 262). 7. BEM-AVENTURANA NA DOR A dor no castigo: contingncia inerente vida, cuja atuao visa a restaurao e o progresso. A dor-expiao crmica, de restaurao, libertao de carga que nos entrava a caminhada; reajuste perante a vida, reposio da alma no roteiro certo. Passageira, nunca perene. A dor-evoluo, tem existncia permanente, embora varivel segundo as experincias vividas pelo esprito. Ela acompanha o desenvolvimento, sua indicao, sinal de dinamizao, inevitvel manifestao de crescimento. a dor, na sua essncia, uma vez que as outras so passageiras e evitveis, mesmo que o Esprito se envolva em suas malhas, por sculos, s vezes. Jesus, quando falava de dor, sede e fome, referia-se dor-evoluo, dor insita no crescimento do Espirito impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber (Curti, 1982, p. 39). 8. CONCLUSO "Saibamos sofrer e sofreremos menos". Eis o dstico que devemos nos lembrar em todos os estados depressivos de nossa alma, a fim de nos fortalecermos para o futuro. 9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADACURTI, R. Bem-Aventuranas e Parbolas. So Paulo, FEESP, 1982. EQUIPE DA FEB. O Espiritismo de A a Z. Rio de Janeiro, FEB, 1995. FERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, s/d/p. IDGORAS, J. L. Vocabulrio Teolgico para a Amrica Latina. So Paulo, Edies Paulinas, 1983. KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 39. ed., So Paulo, IDE, 1984. XAVIER, F. C. Ao e Reao, pelo Esprito Andr Luiz. 5. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1976.
32
BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOSSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Histrico sobre o Perdo. 3. Os Inimigos: 3.1. O Perdo de Deus; 3.2. Reconciliar-se com os Adversrios; 3.3. No Julgueis para no Serdes Julgados. 4. O Problema da Ofensa. 5. Esquecimento da Ofensa. 6. Ao e Reao. 7. As Leis da Vitria. 8. Concluso. 9. Bibliografia Consultada
1. INTRODUO O objetivo deste estudo, baseado no captulo X de O Evangelho Segundo o Espiritismo, analisar o perdo e suas conseqncias para a nossa vida de relao em sociedade. 2. CONCEITO Misericrdia - do lat. misericordia. 1. Compaixo suscitada pela misria alheia. 2. Indulgncia, graa, perdo. Misericordioso - Aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. (Dicionrio Aurlio) Perdoar - do lat. med. perdonare significa desculpar, absolver, evitar. o estado de nimo, em que se encontra algum, agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado. O pecado, na Religio, um agravo a Deus, e o perdo consiste em no considerar-se Deus agravado; ou seja, desagravado (Santos, 1965). Ofensa - do lat. offensa significa injria, agravo, ultraje, afronta, leso, dano. Causar mal fsico a; ferir suscetibilidades. 3. HISTRICO SOBRE O PERDO Na antigidade clssica grega pouco se escreveu acerca do perdo. Entende-se que esses filsofos estavam mais preocupados com a questo do conhecimento racional e da prtica de conduta. Contudo, nas entrelinhas das filosofias de Scrates e de Plato, considerados os precursores do Cristianismo e das idias espritas, encontramos muitas acepes sobre as virtudes, a questo do bem e do mal, a justia etc. No preciso jamais retribuir injustia por injustia, nem fazer o mal a ningum, qualquer mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitiro este princpio, e as pessoas que esto divididas no devem seno se desprezar umas s outras. No est a o princpio da caridade, que nos ensina a no retribuir o mal com o mal, e de perdoar aos inimigos? (Kardec, 1984, p. 29). lugar comum no AT que Iahweh perdo, entendido em termos antropomrficos. As oraes para obter o perdo so comuns, embora desprovidas de razo explcita. O carter misericordioso de Iahweh suficiente para conceder o perdo. H dizeres referentes confisso do perdo, converso do pecador e ao pedido de perdo (Mackenzie, 1984). Joo Batista pregava o Batismo do arrependimento para a remisso dos pecados. Jesus mesmo reivindicava e exercia o poder de perdoar pecados. O perdo da pecadora. O Cristo conhece a salvao atravs do perdo dos pecados. A diferena entre o VT e NT que neste ltimo o perdo vem atravs do Cristo. Todos os pecados vos sero perdoados menos o cometido contra o Esprito Santo. 4. OS INIMIGOS 4.1. O PERDO DE DEUS "Se vs perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vs, vosso Pai celestial vos perdoar tambm vossos pecados, mas se vs no perdoardes aos homens quando eles vos ofendam, vosso Pai, tambm, no vos perdoar os pecados" (Mateus, 6, 14 e 15). 33
Deus perdoa? Como? Deus no derroga as suas leis. "A oportunidade de resgatar a culpa j constitui em si mesma, um ato de misericrdia divina, e, da o considerarmos o trabalho e o esforo prprio como a luz maravilhosa da vida" (Xavier, 1977, pergunta 336). por isso que Jesus recomenda-nos perdoar no sete mas setenta vezes sete vezes. E recomenda-nos, porque sabe que vivemos num mundo de provas e expiaes, sujeitos aos mesmos erros cometidos pelos outros. Perdoar os outros perdoar a ns mesmos. 4.2. RECONCILIAR-SE COM OS ADVERSRIOS Reconciliai-vos, o mais depressa, com vosso adversrio, enquanto estais com ele a caminho, a fim de que vosso adversrio no vos entregue ao juiz, e que o juiz no vos entregue ao ministro da justia, e que no sejais aprisionado. Eu vos digo, em verdade, que no saireis de l, enquanto no houverdes pago at o ltimo ceitil (Mateus, 5, 25 e 26). A orientao de nos reconciliarmos com o adversrio enquanto estivermos a caminho porque no perdo, alm do efeito moral, h tambm um efeito material, ou seja, mesmo depois da sua morte, o Esprito continua vivo. Caso tenha partido com o corao cheio de mgoa contra ns, as suas vibraes de dio atingir-nos-o com mais facilidade, devido sua invisibilidade. 4.3. NO JULGUEIS PARA NO SERDES JULGADOS "No julgueis para no serdes; porque vs sereis julgados segundo tiverdes julgado os outros; e se servir para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles" (Mateus, 7, 1 e 2). Nesta passagem evanglica, Jesus no est nos exortando passividade enquanto o mal cresce; recomenda-nos o dever da indulgncia, porque no h ningum que dela no tenha necessidade para si mesmo. A mulher pega em adultrio um nobre exemplo: quando todos queriam apedrej-la, Jesus diz "Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra". O Evangelista Joo conta que depois de ouvirem esta admoestao as pessoas foram se retirando uma aps a outra, as velhas saindo primeiro; e assim Jesus permaneceu s com a mulher e disse-lhe: Mulher, onde esto os vossos acusadores? Ningum vos condenou? Ela lhe disse: No, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu tambm no vos condenarei. Ide, e, no futuro, no pequeis mais (Joo, 8, 3 a 11). 5. O PROBLEMA DA OFENSA A ofensa algo que nos machuca. Diz-se, inclusive, que a ofensa de um amigo fere mais do que a do inimigo. Contudo, ela depende muito mais de nosso estado de esprito do que dela objetivamente. Ghandi, no fim de sua vida, pde responder pergunta se perdoou todas as ofensas recebidas com a declarao sincera: Nada tenho que perdoar a ningum, porque nunca ningum me ofendeu. Ego ofensor e ofendido. Mas quando o ego humano substitudo pelo Eu divino, no pode mais haver ofensor nem ofendido (Rohden, 1982, p. 160). A Ofensa objetiva, considerar-se ofendido ou no subjetivo. Ghandi simplesmente no considerou a ofensa como ofensa. Aquele que tiver suportado o maior dos ultrajes, alm das recompensas celestes da outra vida, ter a paz de corao nesta e uma alegria incompreensvel por haver duas vezes respeitado a obra de Deus. 6. ESQUECIMENTO DA OFENSA H esquecimento da ofensa? O que significa esquecer o ultraje? Em nosso modo de entender, significa no lhe dar guarida em nosso pensamento. O pensamento como uma bola de neve. Quanto mais pensamos mais ficamos enovelados em nosso modo de ser. uma fixao mental que precisa ser extinta com o auxlio da vigilncia e da prece. 34
As explicaes do Mestre Jesus no livro Boa Nova complementam as nossas idias. Ele diz: "No ser vaidade exigirmos que toda a gente faa de nossa personalidade elevado conceito? ... Pedro, o perdo no exclui a necessidade de vigilncia, como o amor no prescinde da verdade" (Xavier, 1977, p. 61 e 62). 7. AO E REAO Nosso destino a perfeio; nossa caminhada a evoluo em sentido positivo. Determinismo e Livre- Arbtrio so as faces do mesmo plano que nos sustenta a caminhada. o Livre-Arbtrio consiste na liberdade que temos de poder dar impulso s nossas aes contra ou a favor das leis divinas. No nos esqueamos de que a lei do progresso inexorvel. O que fizermos de mal tem que ser refeito. Quem sabe se a pessoa que nos ofende no ser aquela mesma que ensinamos a atirar uma pedra? Se praticarmos atos bons, o resultado ser atos bons; se praticarmos atos maus, o resultado ser os atos maus, mas com o condicionante de que teremos de recapitular a ao, quer nesta ou em outras encarnaes, para transform-la em um ato bom. 8. AS LEIS DA VITRIA "Quando Jesus nos pede cultivar a misericrdia, o perdo das ofensas, o no julgar, o focalizar as virtudes em nosso semelhante, no nos incita passividade diante do mal contra o benefcio coletivo. Inclusive d demonstrao de energia benfica, quando exprobra o comercialismo que humilha o tempo, quando profliga os erros de sua poca" (Curti, 1982, p. 64). Como a ofensa est ligada ao ofensor e ao ofendido, a vitria sobre o perdo implica num conhecimento de ns mesmos. Tomando conscincia de nossos defeitos e de nossas potencialidades, conseguiremos aquilatar o quanto somos imunes em ofender e em sermos ofendidos. Tornando um hbito essa reflexo, aguaremos a nossa percepo e evitaremos muitos desagravos na sociedade. 9. CONCLUSO Estamos sempre querendo vencer o mundo, ou seja, sobressair nos afazeres materiais. ser o primeiro em determinado esporte, o melhor em determinada arte. Mas como precisar a vitria sobre ns, a capacidade de perdoarmos queles que foram colocados ao nosso derredor para serem motivos de nossa melhoria interior? Humilhemo-nos, dobremo-nos, mortifiquemo-nos. Renunciarmo-nos nossa prpria personalidade, culparmo-nos antes de culparmos o nosso prximo, suportarmos as injunes do destino, sem reclamaes e sem outro mvel que no seja a obedincia aos ditames do Deus, criador do mundo e das coisas que nos cercam. 10. BIBLIOGRAFIA CONSULTADAFERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, s/d/p. KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 39. ed., So Paulo, IDE, 1984. MACKENZIE, J. L. (S. J.) Dicionrio Bblico. So Paulo, Edies Paulinas, 1984. ROHDEN, H. Mahatma Gandhi - Idias e Ideais de um Poltico Mstico. 6. Ed., So Paulo, Alvorada, 1982 SANTOS, M. F. dos. Dicionrio de Filosofia e Cincias Culturais. 3. ed., So Paulo, Matese, 1965. XAVIER, F. C. Boa Nova, pelo Esprito Humberto de Campos. 11. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977. XAVIER, F. C. O Consolador, pelo Esprito Emmanuel. 7. ed., Rio de Janeiro, FEB, 1977.
35
CASAMENTO E DIVRCIOSrgio Biagi Gregrio SUMRIO: 1. Introduo. 2. Conceito. 3. Histrico: 3.1. Casamento; 3.2. Divrcio. 4. Casamento e Divrcio: Estatstica. 5. Casamento e Divrcio sob a tica Esprita: 5.1. A Indissolubilidade do Casamento; 5.2. O Divrcio. 5.3. A Desagregao Familiar: Comentrio. 6. Concluso. 7. Bibliografia Consultada.
1. INTRODUO O objetivo deste estudo analisar a desagregao familiar, ocorrida ao longo do tempo, e a instituio "casamento e divrcio", sob a tica esprita. 2. CONCEITO Casamento - do lat. medieval casamentu. Ato solene de unio entre duas pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas, com legitimao religiosa e/ou civil (Dicionrio A