1312760206 ARQUIVO ArtigoanpuhAntonioJose.final.doc[1][1]
description
Transcript of 1312760206 ARQUIVO ArtigoanpuhAntonioJose.final.doc[1][1]
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 1
Antnio Jos da Silva, teatro, religio e literatura no Antigo Regime Portugus.
Dbora El-Jaick Andrade
Antnio Jos da Silva foi muito popular na dcada de 30 do sculo XVIII em
Lisboa, por redigir, dirigir e produzir peas de teatro de bonecos, chamadas peras. A
pea do escritor brasileiro do sculo XIX, Domingos Jos Gonalves de Magalhes
narra os acontecimentos que levaram sua captura e execuo na fogueira da inquisio
portuguesa em 1739. Entretanto, aps a morte do dramaturgo pouco se sabia sobre sua
existncia material, a no ser sua obra e as circunstncias que cercaram sua morte. Cem
anos de silncio em torno do seu nome e legado, possivelmente provocados pela censura
inquisitorial e tambm pelo ofuscamento da literatura portuguesa pelo teatro clssico
francs, apenas seriam superados no decorrer do sculo XIX, especialmente na segunda
metade, com as pesquisas pioneiras e com a publicao do seu processo.
Panorama poltico e social em Portugal no reino de D. Joo V
O reinado de D. Joo V (1707-1750) marcado pela afirmao da dinastia de
Bragana, pela superao da conjuntura econmica interna de escassez devido a
chegada do ouro que vinha do Brasil, assim como pelos acordos com a Inglaterra,
potncia martima dominante, como o Tratado de Methuen (1703), que resultaram em
uma aliana, atravs da qual o pas se preservava da integrao poderosa Espanha
aps a Guerra de Sucesso espanhola. Disto redunda que a ateno poltica voltou-se
para o Brasil e para a disputa colonial na Amrica do Sul, uma vez que, com tais
acordos, se garante as possesses portuguesas na Amrica, notadamente a soberania
sobre a Amaznia e a restituio da colnia de Sacramento.
Nos primeiros cinqenta anos setecentistas, a administrao pblica do reino
tambm sofreu mudanas no sentido da maior centralizao. At os anos de 1720, a
aristocracia reunida nos conselhos de Estado era quem tomava as decises, ao assistirem
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 2
ao rei, como seus secretrios e membros do alto clero1. A partir das primeiras dcadas
deste sculo, acentuava-se a tendncia de separao da antiga nobreza, encastelada nas
suas moradas, e aquela que orbitava em torno da Corte com sede em Lisboa, que era
estimulada a faz-lo pela realeza. Era esta grande aristocracia que recebia comendas e
ttulos, assim como cargos de vice-reis na India e no Brasil.
A historiografia caracteriza o reino de Joo V pela pompa que emanava da Corte
portuguesa, muito embora, se comparada a outras cortes europias mais suntuosas onde
circulavam os membros da aristocracia, especialmente as cortes espanhola e francesa, a
Corte portuguesa podia ser considerada at mesmo modesta. No entanto, no auge do
barroco, protagonizava a centralidade cultural, com a importao sistemtica de artistas
e msicos italianos e na encomenda direta de trabalhos2. Em consequncia do
entesouramento promovido pela entrada do ouro brasileiro, D. Joo V tornara-se
tambm mecenas das artes. Ele deu incio construo do Aqueduto das guas Livres
para regular o abastecimento de gua de Lisboa, da Capela de So Joo Baptista, na
Igreja de So Roque de Lisboa e do Real Convento de Mafra, grande expresso da arte
barroca joanina, para a qual mandou vir milhares de operrios, arquitetos e artfices
estrangeiros que se tornaram mestres de uma gerao de artistas portugueses.
Em seu reino surgiram academias literrias, das quais participava a aristocracia,
e a ascendncia da cultura e literatura castelhana que se fez presente durante tantas
dcadas, comea a disputar espao com os autores e referncias francesas. D. Joo
mandou construir a Academia Real da Histria Portuguesa em 1720, com a inteno de
fortalecer as reivindicaes dinsticas e absolutistas da famlia de Bragana3. Foi na
primeira metade do sculo XVIII que primeiro as idias filosficas da Ilustrao
comearam a alcanar o reino, apesar da presena da Inquisio e da tradio
escolstica das universidades jesutas. Assim, o que foi chamado de Iluminismo catlico
de Joo V, combinava a tradio catlica e a abertura aos progressos da cincia aplicada
e filosofia experimental, no sentido de reformar o tipo de ensino e cultura destinado
fidalguia. Mandou erigir uma escola cirrgica no hospital real e uma Academia
1 MONTEIRO, Nuno G. F."A consolidao da dinastia de Bragana e o apogeu de Portugal barroco."In:
TENGARRINHA, Jos Manuel. Histria de Portugal. Bauru, So Paulo:Unesp, 2000. p.139.
2 Idem.Ibidem.p139.
3 MAXWELL, Kenneth. Marqus de Pombal e o paradoxo do Iluminismo.Rio de Janeiro: Paz e
Terra,1996.p.4
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 3
Cirrgica Prottipo-Lusitnica Portuense no Porto, assim como academias militares em
algumas localidades. Preocupou-se particularmente em renovar estes estudos atravs da
aquisio de acervo atualizado, equipando as bibliotecas desguarnecidas com modernos
livros de filosofia e medicina. Patrocinava a impresso de escritos de autores pobres e
mandava importar de fora do reino colees de obras raras para sua biblioteca. Comprou
obras para a Academia Real da Histria Portuguesa sem submet-las ao crivo da
censura, empenhou-se em restabelecer a Livraria Real onde reuniria mais de 70 000
volumes, que pretendia converter em biblioteca pblica. Proveu a biblioteca do Palcio-
Convento das Necessidades com 30 000 volumes, supriu a biblioteca do Pao da
Ribeira, a do Real Edifcio de Mafra, que sonhava transformar em uma "universidade de
todas as cincias", assim como a biblioteca da Universidade de Coimbra, que fora toda
reformada, adornada e seu acervo renovado com fundamentos cientficos para o ensino
ministrado na instituio de modo a alcanar as principais universidades da Europa4.
Contudo, a reforma curricular nas universidades portuguesas s seria efetivada durante
o reino de D. Jos I, quando o racionalismo e utilitarismo do Marqus de Pompal e de
seu ministrio tornaram funo da universidade a formao de quadros dirigentes para
administrao do Imprio colonial ultramarino. A reforma pombalina trataria de fazer
recuar o enorme poder dos jesutas sobre o ensino e sobre o Estado a partir de sua
expulso do reino, deslocando o ensino da esfera religiosa para a esfera da interveno
do Estado5.
importante frisar, entretanto, que o papel da Igreja na educao e na
evangelizao dos sditos em uma poca anterior a Pombal era proeminente. Como
constata Antnio Manuel Hespanha, a Igreja participava do cotidiano, sendo uma das
poucas instituies na sociedade que exerceu com eficcia e autonomia administrativa e
jurdica, exercendo seus poderes tanto nas esferas familiar, comunitria at o mbito
internacional.6 Fez-se presente nas confrarias, nas pequenas comunidades por meio da
organizao paroquial, mas tambm no nvel das dioceses e dos reinos, sobre os quais
4 Site da Biblioteca Joanina. Disponvel em :
http://bibliotecajoanina.uc.pt/a_biblioteca/d_joao_v/programacao_cultural?pag=1#t Acesso em 8 de
abril de 2011.
5 CARDOSO, Ciro F S. O Trabalho na Colnia In: Histria geral do Brasil.9 Ed, Rio de Janeiro: Campus, 1990. p114-119.
6 HESPANHA,A. M. "A Igreja" In : CARDIM, Pedro et al. (dir) Jos Mattoso. Histria de Portugal (O
Antigo regime). Lisboa: Editorial Estampa, 1993.p.287.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 4
exercitavam o controle atravs de registros paroquiais, manuais de confessores,
catecismos, tratados teolgicos e de direito cannico, das formas de devoo
teatralizadas como procisses e festas, missas, autos de f, da censura aos livros, das
misses evangelizadoras, da pregao dos grandes oradores no plpito e da ao
persecutria da Inquisio. Como percebe Hespanha, o enquadramento episcopal do
clero e dos fiis interessava igualmente ao rei, com a criao de uma cultura religiosa
controlada pelos eclesisticos como parte de um trabalho disciplinar conduzido ao longo
Antigo Regime7.
A dedicao especial do rei D. Joo V para com a religio se expressa na
construo de capelas e monteiros, na doao de altas somas para conventos e igrejas,
no dispndio com missas, com seminrios para o ensino de msica, com a contratao
de msicos, arquitetos e artfices, pintores para ornar as capelas, cantores, professores
italianos para tocar msica pia e tambm profana, com peras e peas teatrais ornadas
de msica nos saraus do pao ou em ocasies festivas. O teatro e a pera italiana no seu
reino lucraram muito com a grande devoo do rei Santa S. D. Joo V mandou
construir um teatro no palcio de Belm, que tinha comprado em 1726 ao conde de
Aveiras e se tornou o primeiro teatro rgio, inaugurado em 1739.
Assim, a idia de que no Antigo Regime ocorria a teatralizao do poder do qual
fala Georges Balandier8, aparece muito claramente no perodo barroco, desde as
manifestaes pias e de devoo coletiva, passando pelos rituais cortesos de
subordinao da nobreza famlia real, at os verdadeiros espetculos que eram as
execues dos conspiradores e hereges em praa pblica. A punio espetacular
atravessava toda a sociedade que aceita o exemplo como a forma legtima de educar9.
A Igreja catlica era a principal protagonista desta ritualizao do sagrado. A
represso da heresia em grandes dias festivos e jbilo religioso cumpre importante papel
ao lado da divulgao de hagiografias exemplares e procisses que exteriorizam a f e
os dogmas. A extravagncia destes eventos abarrotados de gente nas ruas, da arte sacra
e arquitetura das capelas barrocas, do Te Deum e do culto dos santos e da virgem, tm
7 Idem. Ibidem. p.292.
8 BALANDIER, Georges. O poder em cena.Braslia: Editora da Universidade de Braslia, 1982. p.5
9 HESPANHA, A. M.Op. cit.p.295.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 5
igualmente funo pedaggica que manifestam seu poder em um mundo de cultura
predominantemente oral.
Nos sculos XVII e XVIII as ordens religiosas proliferaram, com especial
destaque para a ordem jesutica. Ela continuou com enormes privilgios e autonomia
jurdica e administrativa, embora Hespanha constate uma progressiva subordinao da
Igreja ao Estado Absolutista efetivado no perodo pombalino. A limitao deste poder
pode ser constatado na evidncia de que os tribunais eclesisticos no tinham a
possibilidade de dispor de meios coativos temporais e devia recorrer ao brao secular
para execuo de penas10
, conforme normativa das Ordenaes Filipinas.
O Tribunal do Santo Ofcio da Inquisio toma o lugar dos bispos no sculo XVI
para investigar e julgar as heresias e desvios da "verdadeira religio". Criado em 1536
pelo Papa Paulo III, em Portugal e em vrias partes do Imprio ultramarino, o tribunal
sentenciou nos seus primeiros cinqenta anos principalmente cristo-novos,
compulsoriamente convertidos na Pennsula Ibrica ao final do sculo XV. O crime de
judaizar tinha primazia sobre os crimes sexuais, morais e de feitiaria, blasfmia e
heresias, sobretudo aps meados do sculo XVI. O Brasil, em que a Inquisio no
marcou presena nesta poca, recebeu muitas famlias crists-novas que fugiam das
perseguies em Portugal, que se estabeleceram especialmente nas capitanias da Bahia e
Pernambuco e passaram a desenvolver atividades econmicas como agricultura e
comrcio11
.
A primeira visitao do Santo Ofcio no Brasil teve lugar em 1591, sob a Unio
Ibrica, como parte da iniciativa de alastrar a Inquisio para as colnias portuguesas.A
segunda visitao ocorreu em 1618 e 1619 na Bahia realizada no contexto da invaso
holandesa e em 1620 no Esprito Santo, Rio de Janeiro, Santos e So Paulo. Os
processos revelam que os suspeitos confessavam e delatavam outros. Contudo,
processados e julgados, muitas vezes sem critrio, os acusados no foram executados no
Brasil, mas foram levados de volta a Portugal para aplicao da sentena.
Ainda que por volta da metade do sculo XVIII os historiadores percebam que
a atividade do Santo Ofcio tenha entrado em declnio, sua presena constitua em uma
10 Idem.ibidem.p.289.
11 VAINFAS, Ronaldo.Confisses da Bahia: santo ofcio da inquisio de Lisboa.So Paulo: Companhia
das Letras, 1997.p.6-7
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 6
ameaa perene para intelectuais racionalistas e cristos novos. Exemplo disto que
quando o monarca portugus pretendeu realizar a reforma do ensino mdico em 1730,
consultaria o mdico e judeu portugus Jacob de Castro Sarmento, exilado em Londres
por fora da Inquisio. Os dois irmos cristos novos do ministro Alexandre de
Gusmo foram perseguidos pela Inquisio, sendo inclusive um deles padre. Muitos
cristos novos eram sditos que possuam dignidade e pertenciam classe dirigente,
apesar da distino entre cristos novos e cristos velhos e das interdies que exigiam
limpeza de sangue para ocupar cargos no governo. Portanto, a suspeita pairava sobre os
descendentes de judeus convertidos, mesmo que no houvesse provas definitivas da
retomada das tradies parentais. A inquisio foi responsvel por muitos autos-de-f,
abjuraes, delaes e degredos de muitas famlias, que acabaram por se estabelecer nas
colnias portuguesas na India, frica e Brasil. Este foi o caso da famlia de Antonio
Jos da Silva, cuja histria familiar e ascendncia hebraica colocaram-no na mira do
tribunal e cujo destino aps o degredo foi o Brasil, onde nasceu o dramaturgo.
A Inquisio e Antnio Jos
No Brasil do incio do sculo XVIII a perseguio atingiu muitas provncias,
especialmente as economicamente mais importantes, as capitanias do nordeste, Minas
Gerais, Rio de Janeiro. Em verdade os cristos novos estavam em todos os territrios
brasileiros, estavam inseridos em muitas atividades econmicas, eram mdicos,
advogados, senhores de engenho lavradores, artesos e principalmente comerciantes,
formavam comunidades extensas pelas redes de parentesco e compadrinho.
No Rio de Janeiro, considerado um porto seguro, para o qual convergiram
muitos cristos novos no sculo XVII, conviviam e residiam no centro da cidade,
prximos dos cristos velhos. Possuam muitos bens e terras, participavam da classe
dirigente local, frequentavam as missas, igrejas e portavam-se externamente como
cristos. Perfaziam um total de 1.116 pessoas dentre os quais 24 por cento da populao
livre tinham ascendncia judaica. Foi precisamente no Rio de Janeiro onde o Santo
Ofcio investiu com maior fora nas primeiras dcadas do sculo XVIII12
. O tribunal
12 Ao todo no sculo XVIII foram presos 663 brasileiro , sendo 484 cristos novos na colnia.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 7
prendeu e condenou 325 acusados de crime de heresia judaizante, eram 159 homens e
167 mulheres presos entre 1703 e 1740 e confiscou imediatamente seus bens13
.
Em razo do estatuto social ser transmitido pelo sangue, o alto nmero de
mulheres revela tambm que elas desempenhavam papel fundamental na transmisso da
tradio e memria do judasmo familiar. Os casamentos endgenos dentro da
comunidade assim como as redes de parentesco e clientelismo entre as famlias tambm
favoreciam que, ao investirem contra a heresia, os inquisidores arrolassem vrias
geraes da mesma famlia como rus e estimulassem a denncia de cnjuges, filhos e
netos durante os interrogatrios.
Portanto, as mulheres foram cruciais ao longo de todo o processo contra o
dramaturgo. Sua av, Brites Cardoso, nascera em Lisboa, mas foi trazida pelo pai,
Manuel Cardoso, casado com uma cristo velha, para o Brasil, provavelmente aps o
degredo. Ela casou-se com Baltasar Rodrigues Coutinho, tambm parte de cristo-novo,
que era senhor de engenho, possua o engenho da Covanca em So Joo de Meriti,
avaliado em 25 mil cruzados, 23 escravos e gado, administrados por sua viva aps sua
morte14
. Portanto, era de famlia tradicional do Rio de Janeiro e casou sua filha com o
cristo velho, Joo Mendes da Silva, advogado, o que constitua certo perigo para ele,
pois "maculava o sangue" e lanava sua famlia sob a suspeita dos visitadores. Ambas
as mulheres da mesma famlia atraram as suspeitas dos visitadores de que praticavam o
cripto judasmo. Assim, Brites aos 67 anos e a filha, Lourena Coutinho, aos 30 anos
foram presas na mesma data, no dia 11 de outubro de 1712, seus bens igualmente
confiscados e enviadas para Lisboa para cumprir a sentena de participar do auto-de-f
em julho de 1713, em que abjuraram e sofreram penitncias espirituais. Era comum para
grande parte dos sentenciados que aps a confisso inquisitorial, a denncia de
herticos, o auto de f, e o retorno a comunidade crist, continuassem a ser visados e re
encarcerados ao longo da vida. Foi o que ocorreu com D. Lourena Coutinho, que
quando trazida para Lisboa tinha um filho, Antnio Jos, ento com sete anos de idade,
que trinta anos depois juntar-se-ia a ela no auto-de- f em que seria executado.
13 GORENSTEIN, Lina. "Um Brasil subterrneo:cristos novos no sculo XVIII"In: GRINBERG, Keila.
(org.) Judeus no Brasil.Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.p,144.
14 GORENSTEIN, Lina. Op. cit.p.148.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 8
O "Judeu" e o teatro no Antigo regime
Por fora da severidade da inquisio, um dos mais importantes dramaturgos
portugueses do sculo XVIII nasceu brasileiro. Antnio Jos da Silva nasceu no Rio de
Janeiro em 1705 em uma famlia de cristos novos radicada no Brasil para fugir da
intolerncia religiosa. Retornam a Portugal seguindo a me que foi presa pela
inquisio. D. Lourena foi presa uma vez aos 30 anos, e novo aos 40 anos e uma ltima
vez quando j era viva, aos 51, junto com seu filho Antnio Jos. Tal qual o pai, o
escritor estudou direito cannico em Coimbra e tornou-se advogado. Foi preso e
torturado duas vezes pela inquisio sob acusao de judasmo e relapsia em judasmo,
a primeira vez aos 21 anos acabou convertido em um auto de f15
.
Aps a primeira priso em 1726, pouco se sabe de suas atividades. Escreveu
peas teatrais entre 1733 e 1737 dirigiu e produziu peas como A vida do Grande D
Quixote de la Mancha e do Gordo Sancho Pana (1733), Ensopaida (1734), Encantos
de Medeia (1735), Anfitrio e Alcmena, Labirinto de Creta (1736), Guerras do Alecrim
e Manjerona, As Variedades de Proteu (1737) e Precipicio de Faetonte (1738)
encenada em teatro armado no Bairro Alto.
Em 1837 foi preso sem denncia e sofreu processo inquisitorial e foi relaxado ao
brao secular e morto em auto-de-f em outubro de 1739 em Lisboa 16
no mesmo auto-
de- f em que participou a esposa, Leonor Maria de Carvalho, moa de 25 anos, filha de
um negociante cristo novo.
Depois de sua morte, nos anos 1740, as peras foram reunidas pelo amigo do
escritor, o impressor Francisco Lus Ameno, um dos mais influentes da corte, sob o
ttulo de Theatro Comico Portuguez ou Colleco das Operas Portuguezas que se
representara na Casa do Theatro publico do Bairro Alto de Lisboa, offerecidas mui
nobre Senhora Pecunia Argentina por ***. Foram dois tomos, sados do prelo da Regia
Officina Sylviana, e da Academia Real, em 1744. O Tomo I trazia Vida de D. Quixote
de la Mancha; Esopaida ou Vida de Esopo; Os encantos de Media; Amphitrya, ou
Jupiter e Alcmena. No Tomo II vinham Labyrintho de Creta; Guerras do Alecrim e
15 Ver processos de Brites Cardoso, Lourena Coutinho, Antnio Jos da Silva, Leonor Maria Carvalho
do fundo da Inquisio de Lisboa no Arquivos da Torre do Tombo.
16 SARAIVA, Antnio Jos & LOPES, Oscar. Histria da Literatura Portuguesa.Porto:Porto Editora,
2000.pp.495-496.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 9
Mangerona; Variedades de Protheo; Precipcio de Faetonte. Nenhuma destas peas foi
publicada em vida do autor, e tudo leva a crer que talvez no tivessem sido at ele
tivesse falecido. Como explica Roger Chartier, os prprios autores no apreciavam que
suas obras fossem registradas, publicadas e comercializadas porque acreditavam que a
passagem da encenao, do texto dinmico, improvisado, ao texto esttico e rgido
retirava da obra sua vivacidade. Eram, porm, obrigados a permitir o registro, em
funo do grande nmero de textos apcrifos, no autorizados, que eram copiados
durante os espetculos e vendidos independente da participao dos autores nos lucros.
Apesar de se ter alguns dados sobre sua biografia, o valor da obra para o teatro
portugus ainda controvertido.O historiador do teatro portugus Jos Oliveira Barata,
por exemplo, no acredita que a dura sentena da inquisio sobre "o Judeu" tenha
relao direta com suas peas e seu pretenso carter subversivo. Para ele, a execuo
coincide com a diminuio dos autos-de-f e desarticulao da Inquisio por volta de
1720 e 1730 e que a priso de toda a famlia de hereges convergia para os objetivos do
tribunal neste momento histrico.
Barata sugere que equivocada a idia consagrada pela historiografia de que
Antonio Jos fora uma espcie de "mrtir da inquisio". Seu teatro, longe de ter um
contedo de crtica social, poltica ou religiosa perigosa ao sistema, seria estreitamente
vinculado e condicionado aos valores contemporneos17
. Nesta perspectiva, Antnio
Jos no seria revolucionrio, no apresentaria modelos alternativos, suas comdias
seriam compostas segundo a fixidez das normas aceitas no sculo XVIII. Alm disto,
acrescenta que Antnio Jos no era um autor popular, longe disto, o teatro do Bairro
Alto era local escolhido pelos nobres e intelectuais para residir, em cujos palcios foram
fundadas academias literrias e onde se estabeleceram as sedes das principais ordens
religiosas18
.
Corroboram com a avaliao de Barata, a ausncia do nome de Antnio Jos no
ndex de livros proibidos por Roma, assim como o parecer favorvel publicao do Fr.
Francisco de S. Toms qualificador do Santo Ofcio e depois do Fr. R. de Alencastre
Teixeira Silva Soares Abreu, da censura do ordinrio que considerou que "porque no tem cousa
17BARATA, Jos Oliveira.Histria do Teatro Portugus. Lisboa, Univ. Aberta, 1991. p.225.
18 Idem. Ibidem. pp.225-226.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 10
alguma contra a F ou bons costumes" .19
A publicao do seu teatro com o patrocnio da
Senhora Pecnia Argentina (que aludia a falta de patrocnio s artes) para ser lido pelos
letrados do reino, corroboram para a verso de que no eram as obras propriamente, mas
a pessoa do escritor non grata pela Inquisio. Provavelmente porque era popular entre
membros da Corte e moradores abastados de Lisboa, a execuo de Antnio Jos seria
exemplar e impactante para permanecer na memria da comunidade de cristos novos e
desviantes do Reino.
No entanto, circunstncias apontadas pelo prprio Barata apiam nossa tese de
que, se por um lado, a obra no afrontava propriamente a doutrina oficial, nem por isto
seus temas diziam respeito exclusivamente ao universo das classes dirigentes e
abastadas e, portanto, trazia em si a aguda crtica social presente na cultura das classes
subalternas durante sculos. Em uma sociedade hierarquizada, porm, largamente
fundamentada na oralidade o teatro demonstrava ter um potencial comunicativo e
pedaggico muito grande. Roger Chartier vai alm, percebe que no Antigo regime o
teatro por ser encenado publicamente adquire um carter subversivo que precisava ser
controlado pelas autoridades20
. Barata reconhece este carter, muito embora minimize o
potencial da crtica pelo riso:
A pera joco-sria cumpria sua funo crtica a alguns dos valores
da sociedade joanina extremamente hierarquizada onde cada um valia
exclusivamente pelo status, profundamente ritualizado, a crer nos
comportamentos individuais e coletivos, rigorosamente codificados21
.
Esta funo crtica no deve ser desconsiderada, pois o texto cmico, embora
destinado a recepo de um pblico abastado, comporta, rel e subverte elementos tanto
da cultura erudita quanto da cultura subalterna. Carlo Ginzburg, por exemplo, mostra
que a cultura letrada e a tradio oral no so universos isolados e intransponveis,
antes, se interpenetram, so retro alimentadas mutuamente e por vezes se confrontam,
principalmente em momentos de conflitos entre os grupos sociais. Personagens
histricos annimos como o moleiro Menocchio de O Queijo e os vermes, partilham
19TEATRO DE ANTNIO JOS DA SILVA (O JUDEU) Disponvel em :
http://www.fclar.unesp.br/centrosdeestudos/ojudeu/textos_introdutorios.pdf. p.16.
20 CHARTIER, Roger. A Pgina e o palco.Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2002.p
21 BARATA . Op. cit.p.226.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 11
tanto da crena camponesa, quanto tomam conhecimento dos textos escritos, deles se
apropriam e os deformam, atribuindo-lhes leituras heterodoxas e sentidos particulares
dentro da constelao de significados da sua viso de mundo. Estas vises de mundo os
orientam nas aes prticas da vida e nas estratgias de sobrevivncia frente a figuras
que representam autoridade ou em situaes de opresso22
.
Nas peas encenadas h aluso a textos literrios de outros autores, franceses e
espanhis, como a Cervantes, em Vida de D. Quixote de la Mancha por exemplo, mas
igualmente ocorre a vulgarizao destas referncias e adaptao ao gosto os
espectadores.No perodo em que Antnio Jos escrevia, a forte influncia literria das
formas castelhana, aps oitenta anos de dominao espanhola, era muito forte inclusive
entre intelectuais. J autores do classicismo francs comeavam a ser lidos por alguns
membros cosmopolitas da aristocracia portuguesa. Racine, Molire, um pouco menos
Corneille, passaram pouco a pouco a ser traduzidos e adaptados aos palcos da Corte e a
dividir opinies sobre qual literatura seria superior. Na primeira metade do sculo
XVIII, no podemos esquecer, na ausncia de um negcio teatral de gnero empresarial,
os espetculos eram patrocinados pela Corte, que mandavam vir as companhias
italianas e artistas e apreciavam a pera que passa ento gradualmente ao gosto popular.
Impressionava a abundncia de manifestaes culturais que tomam forma de
espetculo e em que h a marca da teatralidade, tanto nas encenaes teatrais privadas,
nas apresentaes pblicas quanto nas procisses religiosas suntuosas em que sagrado e
profano se misturavam23
. A centralidade do teatro em todos os aspectos da sociedade
implica que o mundo era teatro dos homens e tambm de Deus :
[] o palco onde se jogam essas tenses. O espetculo barroco, variado,
rico em metamorfoses, equilibrado na teatralidade que propunha, assumia-se
como momento eminentemente social, onde, por um pacto ldico, o espetacular
esquecia (ou substitua) a desarmonia do mundo pela ilusria e bizarra
organizao das comdias, das peras joco-srias, da monumentalidade dos
espetculos dos jesutas24
.
Este "pacto ldico" a partir do qual o espetacular substitui a desarmonia do
mundo, remete-nos a interpretao de Mikhail Bakthin em A Cultura popular na Idade
22 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
23 BARATA, Op. cit. p.209.
24 Idem.Ibidem.p.211.
-
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 12
Mdia e no Renascimento, em que demonstra como no carnaval, festa popular, as
hierarquias so momentaneamente suspensas: "Toda a hierarquia abolida no mundo do
carnaval. Todas as camadas sociais, todas as idades so iguais"25
. A coletividade ento se
prepara para um renascimento, para a morte do antigo, e o riso o princpio degradante
que, banido nos ritos oficiais medievais, retornou no Renascimento na alta literatura e s
perderia seu posto com a separao entre cultura letrada e cultura popular entre os sculos
XVII e XVIII. O riso tornou-se, como explica Bakthin, a expresso da conscincia nova,
livre, crtica e histrica da poca26
. A brincadeira, o bom humor e o riso, a sensibilidade
popular, permitem uma liberdade que de outra forma no seria tolerada; representa um
interregno no tempo normal em que imperam as formas de controle social.
A permanncia das festas populares adverte que na sociedade classista e
desigual, mantm-se a funcionalidade do riso. Quando as manifestaes da cultura
popular, na forma oral so vertidas sob a forma literria este princpio se mantm, haja
visto as mltiplas reapropriaes entre cultura dirigente e subalterna fenmeno que
Ginzburg denominou de "circularidade cultural".
Portanto, percebemos a funcionalidade do riso em temas que rodeavam o
imaginrio popular, como o do cavaleiro andante D. Quixote de La Mancha e Sancho
Pana na pea Vida de D. Quixote de la Mancha, em que inventava novas situaes
baseado na obra original, destacando-se principalmente o episdio em que Sancho
Pana governador da Ilha dos Lagartos, em que critica a justia. Ou ainda na pea
Guerras do Alecrim e da Mangerona que, com apoio de marionetes e de msica,
Antnio Jos satirizava a rivalidade existente entre ranchos carnavalescos, o "Alecrim"
e a "Manjerona", que animavam Lisboa na poca e conta a histria de dois moos, caa
dotes que desejam se casar com duas irms ricas, filhas de um pai avarento.
Apreciado pela Corte e at mesmo pelo rei D. Joo, que ia assistir suas peas,
Antnio Jos gozou de enorme popularidade, driblando a censura, os rivais, no
escrevia s para a classe dirigente. Contudo, apesar do prestgio, no conseguiu
esquivar-se da grande ameaa aos intelectuais em seu tempo, o brao temporal que lhe
assombrara toda a vida.
25 BAKTHIN, Mikhail. A Cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento.So Paulo: Hucitec,1999
p.219.
26 Idem.Ibidem.p.62-63.









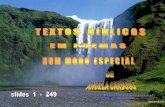
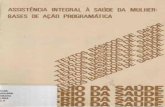




![Arquivo 3[1] (3)](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55a49a731a28ab66758b4706/arquivo-31-3.jpg)



