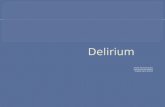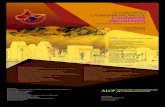#17 - Delirium
-
Upload
desumbiga-fml -
Category
Documents
-
view
264 -
download
0
description
Transcript of #17 - Delirium


2 d e s u m b i g a
auLa de aNaTOmia
ediTORiaLP3
TemaP5
JaNeLa de eXPRessÃO
P15
TRaNsmissÃO ORaL
P21
babiLÓNiaP33
esTÓRias CLÍNiCasP39
aRTes e aFiNsP24 e 25
PeRegRiNaÇÃOP45
dÉFiCes COgNiTiVOsmaRCadOs.

3 d e s u m b i g a
desumbiga
- Bernardo, a Emília disse que era boa ideia sermos nós a escrever o
editorial. Eu não estou assim tão certa disso, mas parece que somos os
mais velhos.
- Qual é que é o tema da revista Salomé?
- Delirium.
- Delirum? A girl’s band portuguesa?
- Não, Delirium como estado de perturbação da consciência, algo
semelhante ao estado que experienciaste no último jantar da malta.
- Ah claro, algo semelhante ao próprio des1biga.
- Ou semelhante à ideia de serem duas pessoas a escrever um edi-
torial.
- Acabei de chegar de Erasmus, tens que me pôr a par dos textos
que vão constar da revista.
- Então… Para além dos textos que dizem respeito ao tema, temos
uma entrevista a um médico fora do convencional, duas páginas true
colours, um novo projecto para expor trabalhos artísticos na faculdade
e claro todas as secções habituais.
- Uma exposição do Desumbiga? Estou a ver que este nosso peque-
no delírio colectivo está a ganhar contornos palpáveis!
- Esperemos que seja um delírio contagiante…
- Já entrevistaram um médico? Não era mais adequado ir falar lá
com as gajas da girl’s band? Eu delirava. Mas agora é pra fazer um edi-
torial, né? Que achas duns cogumelos mágicos para a inspiração?
- Concordo plenamente, afinal para a despedida tem que ser tudo
em grande.
- Pensando bem, acho que o Harrison já tem um teor alucinogénico
bem forte. Fico-me por aí.
- Então bora lá desumbigar e respirar um pouco de ar livre e real.
- Ok. Editorial, vamos a isso.
bERNARDO mOURAsAlOmÉ sIlVA
ediTORiaL
FiCHa TÉCNiCa
RedaCÇÃO*alexandre Freitas
ana Teresa Prata [email protected]
antónio Caetano [email protected]
bernardo Moura [email protected]
bianca Branco
carlos Pereira
david Moreira [email protected]
daniela Alves
dré Bemol
francisco Vale [email protected]
luísa Lopes
maria Emília Pereira [email protected]
mário Mi-Siccarosi
salomé Silva [email protected]
tiago Miranda
vítor Magno
CaPa e CONTRa-CaPabernardo Moura
salomé Silva
gRaFismOantónio Caetano
samuel Fialho
[Digital Impulse]
TiRagem400 exemplares
imPRessÃOeditorial aefml
CONTaCTOsrevista desumbiga
associação de estudantes da faculdade de medicina de
lisboa, hospital santa maria, piso 01
avenida prof. egas moniz
1649-035, lisboa
#17
ARm
AN
* O cOnteúdO dOs textOs publicadOs é da exclusiva respOnsabilidade dOs seus autOres

4 d e s u m b i g a

5 d e s u m b i g a
Tema
eXCeRTO Nº 410 da COLeCTâNea desCONHeCida e iNêdiTa uVidas CONTuRbadas, meNTes bRiLHaNTes O deLiRium OCuLTO u Pá CeNas TiPO Nada a VeR u O deLiRium dO TemPO u POema deLiRaNTe u deLiRium
AN
tON
y g
ORm
lEy
- FIR
mA
mEN
t

6 d e s u m b i g a
Tema
Porque é que odeio escuteiros? Não sei! Em geral odeio fardas... ou seja bom-beiros, polícia, tropa, militares, PSP, membros de empresas de segurança como a SECURITAS, PROSEGUR, GRU-
PO 8, etc, mas também odeio bombeiros, GNR, corpo de intervenção, etc... não sei se é por desrespeitar as autoridades ou por ser quase anarquista... não sei! Talvez seja apenas porque muita desta gente usa a farda sem saber muito bem porquê! Usam-na como se fossem muito importantes! Nasce-lhes uma arrogância, uma impertinência inacreditável, inadmissível! Repa-rem naquelas coisas verdes que passam multas ilegais nas ruas de lisboa aos carros em cima do passeio... aquele lodo verde que tem umas letras a dizer EMEL... essa é a mais nojenta da escumalha de farda... ah como gosto da PJ... essa polícia judiciária... inteligente, eficiente, discreta, traiçoeira, elegante mas ainda assim mais honesta que a PSP, que mais não faz por-que o magistrado não deixa, o político não quer e o povo não merece... essa é a única polícia
que tolero, talvez por não usar farda (não dou por eles quando nos cruzamos na rua)!.... a arrogância de um polícia ou de um bombeiro fardado só é comparável à sua ignorância e à sua preguiça!.... e mais não escrevo senão fazia um livro só disto e isto tem mais piada escrito assim de rajada sem pontuação sem nada!
escrito por carlos pereira algures em lisboa, portugal (feze europeia, terceiro calhau a contar do sol, sistema solar, estrada de santiago, uni-verso) no início do quinto mês no ano da graça de vosso senhor jesus cristo de dois mil e cinco.
cARlOs pEREIRA
Excerto nº 410da colectânea des-conhecida e inédita“666 (re)flexões no soalho do rés do chão duma mente acabada (de chegar) ou os incríveis 111 pensamentos por cada um desta meia dúzia de anos”

7 d e s u m b i g a
Tema
De uma demência
líquida, a condi-
ção de existentes
aplaude-nos.
Quantas percep-
ções nos inauguram a mente
e, ainda assim, talvez a lucidez
seja escassa.
Este não é o mundo dos
lúcidos; mas dos que o tentam
ser. Sob leis factuais e possí-
veis, sob as pesadas arcadas
dos conceitos sociais, sob a
imobilidade das carcaças das
construções psicológicas, sob
a mendicidade inerente à
satisfação das emoções. Uma
lucidez forçadamente conser-
vada, similar a um dogma que
teima congruir ileso, mes-
mo em fricção com cenários
agudos. Tudo justificado por
esse ganho maior: o estatuto
lúcido, forjado por um conjunto
de idealizações insatisfatórias
e incompletas. Nem sabemos
onde em nós nasceram, ou
se as não temos, onde em
nós nasceriam. Mas são elas
que nos rasam jusantes aos
sentidos, aos pensamentos e
às acções.
A nossa tentativa de lucidez
é menos do que aquilo que so-
mos. Pois o impacto do âmago
do ser, é apenas superfície,
na poética dos demais. Como
pode, a metasubstância da
profundidade do ser, metamor-
fosear-se no seu trajecto de tal
modo, que ao alcançar o outro
é uma aragem ré?
A crítica, mimetizada pela
concepção de lucidez que
herdámos, não nos liberta. É
a criação que constitui o acto
final e máximo deferido à
humanidade. O único que nos
desenlaça as pernas dos mean-
dros ásperos da terra e nos ca-
tapulta de um só rasgo para os
tectos das constelações. Tudo
o resto é sobrevivência, uma
luz baça e insegura na bucólica
noite dos nossos sonhos.
Tudo o que não somos,
integra a remota beleza da
inconsciência que é o pecado
da mente. Devido ao objecto se
encontrar oculto, atribuímos-
-lhe a inexistência. Nesta ma-
téria somos nascituros cegos à
procura de formas definíveis.
É como as florestas sus-
pensas no ar, oníricas na sua
materialização. Se as víssemos
por dentro dos troncos e das
folhas, não restariam dúvidas
que a manifestação dos entes
é um conhecimento que parte
de um lugar específico. Seria
a dendrolatria do intrínseco e
da plenitude. Só que encontrá-
-la articula o corpo e a mente
numa frenética suspensão
de sentidos e emoções, para
evadi-lo de sonhos. Pois se não
é o sonho ou a paixão, somos
patacoadas ilógicas da criação.
A lucidez plagiada é um
valor que sustenta um tempo
presente eterno. A germinação
do futuro até pode ser conce-
bida em meios brandos, mas a
sua derradeira exteriorização é
a loucura. Existe aqui um radi-
calismo, pois o novo é sempre
um afrontamento e justificá-lo
implica o sangue de quem o
vislumbra.
Que se passe ileso pela
vida… Mas por nós mesmos?!
Isso constitui um rastejo de
inocuidade, uma sucessão exe-
cutiva, triste e monótona, de
gestos e frases pré herdados.
A dança até ao suor e a mú-
sica ritmada e os gritos agudos
e o calor da labareda e a cren-
ça num sincretismo da nature-
za e a mística da inconsciência
e o caldo das ervas e por fim o
delírio orgástico.
O conhecimento não se
obteve da ausência de conhe-
cimento, mas da alucinação
necessária para expulsá-lo do
seu trono oculto.
O delirium é a lucidez
oculta.
O amor é o delirium oculto.
E o oculto, o que será reve-
lado.
mARIA EmílIA [email protected]
O DELIRIUM OCULTO

8 d e s u m b i g a
Tema
VIDAS CONTURBADAS, MENTES BRILHANTES
É com bastante frequência que verifico que grandes génios da humanidade, mais ou me-nos conhecidos, eram oriun-dos de famílias disfuncionais,
violentas, demasiado rígidas ou não tinham família de todo. Cresceram sem estrutura, sem suporte, com uma inte-ligência que transbordava as regras da suposta normalidade. Não compreendi-dos, nunca desenvolveram sentimento de pertença aos que os rodeavam, nem sequer à sua era de existência.
Desde cedo, era significativo o tem-po que despendiam sozinhos. Sempre tiveram dificuldade em desenvolver amizades e, dos amigos que tinham, os que realmente interessavam e eram interessados, nunca ultrapassaram os dedos de uma mão. Na juventude, dominados pela timidez e insegurança, mas com vontade de experienciar tudo o que já tinham lido há muito tempo em livros, usavam drogas, álcool ou ambos para atingirem um estado que de alguma forma, real ou subjectiva, os auxiliava no relacionamento com os outros ou, pelo menos, a suportar o tempo em que estavam sozinhos, aca-bando invariavelmente dependentes.
Alguns não tinham relacionamentos
amorosos de todo. Para outros os rela-cionamentos fortuitos eram frequentes, bem como os múltiplos, mas sempre com um sentimento de vazio presen-te, pois a busca idealista pelo amor intenso e completo só mais tarde vêm a entender como impossível, devido à ausência do componente principal, o amor próprio.
As mudanças de emprego, local de habitação e até mesmo de estilo de vida são igualmente frequentes, como se o único sentimento resultante do que realizavam fosse a insaciável insatisfação.
A família nunca esteve com eles; os amigos, mais cedo ou mais tarde, desistem de os tentar moldar à sua imagem, porque finalmente percebem que seria impossível; as drogas e o álcool produzem, em última análise, ressaca; o amor de uma vida inteira nunca apareceu, nem o local ou tempo ideais para criar raízes.
Vem a doença prolongada e, muito comummente, o suicídio.
O que torna estas histórias verda-deiramente extraordinárias é o facto de, no meio deste emaranhado de vida, terem surgido descobertas essenciais, teorias complexas, quadros de beleza
infinita, músicas intemporais, textos e poemas com sentimentos universais, que foram, nada mais nada menos, delírios, fugas da realidade, que nunca teriam sido alcançados no seio de uma história de vida banal, que pela pobreza de desafios, não impele à mudança, criatividade ou flexibilidade.
No seu tempo foram muitas ve-zes considerados loucos, com vidas consequentemente conturbadas. Eu vejo génios com mentes fascinantes das quais podemos tirar uma grande aprendizagem: estas pessoas no meio de desilusões, fraquezas, falhas, frus-trações vividas e observadas, consegui-ram através da sua obra ir além do que a realidade comportava.
Poderiam ter sido mais uns quantos infelizes e conformados, mas, porque ousaram delirar, atingiram a imortali-dade.
Será caso para dizer… O que uns têm de louco, outros têm de pouco.
sAlOmÉ [email protected]
Pioneira na indústria rock dominada por homens.
Considerada uma das melhores 100 artistas de sempre pela Rolling Stone.
Na universidade escreveram sobre ela: atreve-se a ser diferente.
Considerada uma artista poderosa mas profundamente vulnerável.
Sofreu de obesidade na adolescência e era chamada de porco e freak.
Morreu aos 27 anos por overdose.
Mãe: ela era infeliz e insatisfeita.
Própria: eu não me encaixava, lia, pintava e não odiava.
JANIS JOPLIN
Considerado um dos maiores poetas portugueses e do mundo, foi também empresário, editor, crítico literário, activista político, tradutor, jornalista, inventor e publicitário. Auto-intitulava-se “drama em gente”; contam-se 72 nomes entre pseudónimos e heterónimos. Chamaram-no de “enigma em pessoa”, reflectia sobre a verdade, existência e identidade. O seu início de vida foi marcado pelo falecimento do pai e do irmão, tendo escrito o primeiro poema com 7 anos. Acaba por isolar-se perante a competição pela atenção da mãe por parte do padrasto e filhos do 2º casamento. Viveu em Durban, onde recebeu educação inglesa, destacan-do-se sempre. Interessava-se pelo ocultismo, misticismo e astrologia. Redigiu cartas a psiquiatras auto-diagnosticando-se como histero-neurasténico, considerava-se internamente instável, embora aparentasse ser controlado. Este desdobramento de personali-dades, a tendência para a despersonalização e simulação, entre outros aspectos, apontam para esquizofrenia. Faleceu aos 47 anos com cirrose hepática alcoólica
FERNANDO PESSOA

9 d e s u m b i g a
Tema
Vocalista dos Doors, poeta, actor, realizador, inspiração para muitos músicos rock.
Considerado pela Rolling Stone um dos melhores 100 cantores de sempre.
Coeficiente de Inteligência de 149. Estudava com facilidade filosofia, literatura e psicologia.
Infância nómada típica de famílias militares.
Pais utilizaram a tradição militar na sua educação.
Pai escreveu: devias desistir de qualquer ideia de cantar porque considero que tens uma
completa ausência de talento.
Levou uma vida boémia com numerosos relacionamentos.
Morreu aos 27 anos por overdose. Na sua campa consta a inscrição: fiel ao seu próprio espírito.
Pintor pós-impressionista, considerado um dos maiores de todos os tempos.
Pioneiro na ligação entre as tendências impressionistas e aspirações modernistas.
A sua forma de pintar acompanhava as suas mudanças psicológicas.
Falhou em muitos dos aspectos considerados importantes na sua época, não constituiu famí-
lia, não financiava a sua própria sobrevivência, não mantinha contactos sociais.
Preferia comprar materiais de pintura em vez de comida. Podia pintar um quadro por dia.
Pensa-se hoje que tinha doença bipolar.
Suicidou-se aos 37 anos.
A sua fama foi atingida postumamente.
Maior matemático do século XVII, precursor do Iluminismo, astrónomo, alquimista, filósofo e teólogo. Responsável por muitas descobertas, destacam-se a lei gravitacional universal e as três leis de Newton, fundamentos da mecânica clássica. Não conheceu o seu pai que faleceu antes do seu nascimento, a mãe voltou a casar, sendo a rela-ção com o padrasto muito precária. Pensa-se que viveu uma infância triste e solitária. Tinha uma personalidade fechada, introspectiva e um temperamento difícil. A mãe retirou-o da escola e obrigou-o a ser agricultor, algo que odiava. Voltou à escola e era um aluno mediano até ter estado envolvido numa briga com um colega, altura em que decidiu tornar-se o melhor aluno. Teve vários “nervous breakdowns” ao longo da sua vida e era conhecido pelas suas reacções muito efusivas e repletas de raiva quando era contrariado.
VINCENT VAN GOGH
JIM MORRISON
ISAAC NEWTON

1 0 d e s u m b i g a
Olá.
Pá, Pá Cenas Tipo Nada A Ver chega até vós com o intuito puro de vos azucrinar.
Pá Cenas Tipo Nada A Ver, no entanto, não chega até vós com o intuito único de vos azucrinar.
Isto é tudo muito estranho… Têm de concordar: É ESTRANHO. Por meio da ingestão das palavras de um mestre ancestral da homeopatia, Diumpu de Spencer, regurgito aqui nos vossos
timoratos olhos o que tenho para vos dar. Não é amor e não é calor, o que devia des-de já deixar-vos de pé atrás. Isto quer fazer com que se sintam mal. Na verdade, se chegarem ao fim disto e sentirem repulsa de vocês mesmos, têm o meu respeito.
Da vetusta sabedoria do mestre Diumpu podemos beber lân-guidos excertos como: A Ria vai lodosa, mas penetra casta no Oceano (entenda-se a
vaginação laminar que daí resulta, com todos os refluxos e divertículos putre-factos inerentes). Pá… BRUTAL MEU!!!
Consegues perceber?? Sim! TU! Tu, moço! Sai do lodo moço! Sim! TU! Tu, moça! Não queiras ficar no cais moça! Porra, mas será que está tudo doido?! Sois uns tontos. Brita infinita. Desbridem-se dessa estase abstracional… Entreguem-se à in-continência espiritual… Façam-no, antes que impludam numa intelec-tasia fétida… < RIVERS OF GORE! RIVERS OF GORE! > Deixem-se jorrar leito fora, fodam o Oceano! Fodam-no bem! Fumem um cigarro com ele e deixem-se ficar abraça-dos para sempre. Salguem-se para fora dessa insipidez. Fertilizem-se. Expurguem-se de vez desse estado de delírio antes que o delirium se vos entranhe! O fim não está perto mas vocês já não vão para novos…
Eu só queria mandar esta papaia aqui para o meio. Agora papai-a toda. Os que deste saco viscoso e poroso não conseguem espremer
nada que lhes hidrate a alma, pá… que me perdoem este motim sináptico. Mas ainda assim tenho algo para vocês, a res-talha. É algo que nenhum neologismo ou davidema conseguiria sequer expressar, portanto vou tomar a liberdade de inventar (também eu quero fazê-lo, e posso) uma expressão, unicamente para aqui a em-pregar. Crésmio! O significado guardo para mim (também eu quero fazê-lo, e posso). Freuda-se! Sabe bem.
DRÉ bEmOl
Tema
CENAS A VER
TIPO
PÁ
NADA

1 1 d e s u m b i g a
Tema
O tempo é inexistente... Enquanto viviamos no sonho da realidade tudo passou num ápice e a eternidade a efeméride sisbolcheia. Hoje tempo é movimento, repetição de fenómenos, oscilação, e não haver tempo é sonho, sonho-livre. E retrangizendo a auea floria da primavera, a força de crescer, o desejo de morrer, tudo issenta a metamorfose do dinuliar
da Vita.O obnubio tempo-espaço, vultuosa centrífuga em espinha de flecha ardente,
este império perfeito, esta habilidade que contrapõe o tempo-espaço retardado, inteligente, o tempo pto e não fugo, a força Pta contrabalançada à Fuga, de Bach, centrípta, centriptamente encaixada na dinâmica atemporo guiada pela dança, ora para lá, ora para cá, do velho mundo que não se compreende daqui. Deixa-me correr, associar-me na diluição da esfera mãe, que tudo faz dar à luz, pela luz, o que sou eu? Se me deram à luz do dia, sem misericórdia, sem estula, sem guarida miltubiante, com sentimento inulto, inalcançável força do desassossego, grita em mim, silêncio.
O DELIRIUM DO TEMPO
Ouve a voz de quem te escuta, que de mim nasce um nascer de certo sentido. Ouve! Se de ti repercute o tempo, toque a toque, tom a tom, cor a rio, a corrente-za de tocae impermanência... O tempo positivo, a fuga, o tempo negativo, a Pta. Enquanto um dispersa, o outro vai imprensando. As memórias chegam então a possuir duas funções, sendo a organização interna da informação externa que se perdeu, encontrando-se cá dentro, portanto nada se perde, tudo se transforma, tudo se reitera ciclicamente entre sonho e despedida do sonho, entre realidade e despedida da realidade. É a dança monumental, esperemos que a música nunqu’ acabe!! Mas a asafeméride não pode ser sustentada na condição física, pois que a mente está cansada, de andar para um lado e para outro, e assim também o uni-verso terá que se deitar no seu leito, dormindo até que venha à consistência, uma nova forma de viver! Tudo será como dantes.”
DAVID NAscImENtO [email protected]

1 2 d e s u m b i g a
Caminhas delirante.
E tudo o que se passa à tua volta
Não passa de um simples momento
Com que deliraste.
Tudo é delirante
E delirium é tudo.
Depende do modo como o sentes
E não percepcionas.
Todos, por momentos, deliram.
De tão pouco escrever
Começo a delirar.
De tanto delirar
Começo a escrever.
FRANcIscO mARtINs DO [email protected]
POEMA DELIRANTE
Tema

1 3 d e s u m b i g a
DELIRIUM
Tema
Não. Já não deliro. Já me aconteceu, sim, naqueles
dias iniciais, quando o teu cabelo sobre o meu
ombro incendiava o peito. Não me apercebi logo da
condição que se instalava, apesar das mãos suadas
e da ansiedade crescente. Apoderou-se aos pou-
cos de cada pedaço de mim. Pegou-se à ponta dos dedos que te
cumprimentavam, à pele que te sentia, aos pés que te seguiam,
aos braços que encaixavam em ti. Contagiaste-me. Delirei na
febre que me trouxeste, embrulhada na doçura do teu sono.
Desconcentrei-me do embalo dos dias por onde sempre seguira.
Perdi o raciocínio e o conforto da solidão. Afoguei-me em como-
ção. Confundi o sono certo com a incerteza da consciência. Perdi,
talvez, a consciência. Alucinei com touros enraivecidos, em fúria
contra o meu peito gritante. Delirei, sim, na tua ausência, no teu
cheiro empestado em mim, para que soubessem que te tocara as
mãos. E delirei, de nariz fundo nesse cheiro para que o delírio não
terminasse.
O sangue revolto eventualmente sossegou. A temperatura foi
caindo aos poucos, que o corpo acaba por esfriar a combustão
interna. Vagarosamente, recuperei a lucidez e o julgamento con-
creto das coisas. Consegui, por fim, compor as imagens e ver a
composição final. Soube ler-te sem tremer a vista e voltei a andar
sem o apoio das sombras. Regressei a mim, com a vista nova e o
coração redecorado. E, quem diria, permanecias comigo. Continu-
avas ali, de mão na minha, de sorriso sereno e olhar genuíno.
Sim, tornei-me sã, serena e sóbria. Acabou-se a febre, a angús-
tia, a dúvida dilacerante. Estou bem agora. Mantenho-te a meu
lado, de onde sei que não partes, aninho-me e olho em frente.
Sigo. Contigo. No conforto de nós. Na certeza e na partilha. Agora
tudo é, por fim, real.
ANA tEREsA [email protected]
mIN
A A
Ng
UElO
VA -
sasH
a
@ w
ww
.miN
aN
gu
eLO
Va.b
LOg
sPO
T.C
Om

1 4 d e s u m b i g a

1 5 d e s u m b i g a
JaNeLa de eXPRessÃO
PaLaVRas u O abismO u deLiCada (dead)LiNes
RObE
Rt b
RUc
E -
ma
X e
RNsT
aN
d d
ORO
TH
ea T
aN
NiN
gDA
VID
wO
jNA
ROw
Icz
- si
LeN
Ce
= d
eaT
H (
mO
Vie
)

1 6 d e s u m b i g a
JaNeLa de eXPRessÃO
PALAVRAS
A água suspensa mantém a forma da sua jarra já quebrada. A mesa caiu. O chão desapareceu.Resta a rosa vermelha Que a água não esqueceu.
“Será que existem coisas que não existem?Mas se existem coisas que não existemMesmo que não existamA sua “não existência” existeOu será que tudo existe?Uma coexistência harmoniosa de todas a possibilidadesQue se materializam constantemente em paraleloQualquer acção tem uma miríade de desfechos possíveis e
impossíveis]Mas todos eles se sucedem cada um no seu espaçoNo seu universoO nosso é tão-somente um delesUm do tudoE nesse tudo existirá também o nadaPorque o nada é também uma das possibilidadesQue poderá já se ter concretizado em pelo menos um dos universosDe que adianta sonhar?Se tudo o que sonhamos certamente já existeSó para termos o prazer de contemplar essa realidade?Não nos consola o facto de existir!Queremos ver, tocar e sentir!Viajamos para outra dimensão? Ou lutamos pela concretização?”
“Suave a indecência inorgânicaque se entranha nas viscerasdo animal que se alimenta das golfadas hemáticas de socorrogritadas num ritmo harmoniosoClimax de dor que enche o coraçãoÉ esse o verdadeiro sabor da vida na sua ultima metamorfoseSó não é uma verdadeira simbiosePorque não partilham o mesmo corpoNão posso viver sem mortePorque a imortalidade mata a vidaNem posso morrer sem ter vividoPorque assim não teria nascido”
ROSA VERMELHA
MULTIVERSO
SIMBIOSE
máRIO mI-sIccAROsI
OS IMPOSSÍVEIS SÃO APARENTEMENTE IMPOSSÍVEIS PORQUE DESCONHECEMOS A REAL PROBABILIDADE DE ACONTECEREM

1 7 d e s u m b i g a
O abismo, a dor, a sorte a morte, sempre. Imutável como o tempo que passa mas volta sempre à mesma
estação onde outrora a folha caiu. O cansaço, o mesmo. O corpo arrastado no mar do deserto, que
foge, que cospe no fundo do poço onde nem a água existe mais, sumiu.
O sempre-nada que corrói e não deixa ver o resto. O que vem, o que nunca vem. Mas virá. E a força
inexistente quer ouvir-se, erguer-se do quase morto que ainda respira, a custo, em esforço.
E a paz que demora, e demais, atrasa demais o relógio, sem ponteiros, com números distorcidos de horas ora
estáticas, ora fugazes.
Mas o que fica são os restos, os pedaços, os fragmentos, as quase-memórias sempre mais cheias de vazio que de
outra coisa qualquer. Deveria inverter-se a situação. Fragmento do bem passado não do mal sentido, sempre presen-
te. Imortal. Porque assim é vivido, imortal, perene, forte, o guerreiro que nunca cai, o soldado que não morre.
O mal.
DANIElA AlVEs
O ABISMO
JaNeLa de eXPRessÃO

1 8 d e s u m b i g a
JaNeLa de eXPRessÃO
A Deusa transforma-se na forma
e toma lugar na imúria do tempo.
Em mim acende o Deus
e me deixa nú,
querendo tocar a forma
que nunca diz,
que nunca usa.
E o baloiço de criança
entra cheio da alegria…
Ah! Deusa, vive-me!
Vive-me, que venho
trazendo-te ao colo
Pela lua e os astros.
E sublime quanto de ti trago…
Sublime quanto de ti me embaraça
ao peito, como colares pesados de jóias.
Sou teu sem que tu sejas minha,
e dizes-me,
dizes-me que é por defesa que não dizes!
Se por defesa dissesses, não sabes,
que bravas e grandes são o dizer
d’ alma! O provir não tem força
contra os seres que se amam.
E a alma fica, sem esconderijo,
pura e liberta, para ser amada,
diluída na união,
a alma fica livre.
DAVID NAscImENtO mOREIRA
DELICADA

1 9 d e s u m b i g a
JaNeLa de eXPRessÃO
Vejo. Paro. Penso. Mas
será? Quererá dizer algu-
ma coisa? Será imagina-
ção ou simples devaneio?
É mesmo ou apenas o
que quero que aconteça? Não. Paro.
Penso. Mas não! Não posso pensar!
Mas isso é possível…não pensar?!
E depois? O que é que vem depois?
Paro. E a vida continua, amarga e
longa como todos os dias foi. Foi? E
atrás do quadro negro vislumbro uma
fresta. Paro. Olho. Era tão bonito lá
atrás. Mas não podes apanhar um
pássaro que fugiu à procura da liber-
dade. Se ele é astuto procura outro
céu, e nunca mais quererá o mesmo.
Ninguém o quer. Paro. Fecho a fresta.
Escondo o bonito céu. Agora sou só
eu, e a vida continua, amarga e longa,
desde que o céu escureceu. E o tem-
po? Dizem eles. Esse nada traz senão
a revolta, a frustração de vê-lo passar.
Tentar agarrar e ver fugir por entre as
mãos os grãos de areia, áspera. Ter
tempo é esperar, é parar, é pensar.
Mas não! Não posso pensar! Não me
deixem pensar, não me dêem espaço
para libertar memórias antigas. São
lágrimas completas de experiências
inacabadas. São uma sala vazia ou-
trora recheada de crianças e fotos de
família queimadas pelos raios de sol
da manhã. São paredes brancas em
que nenhum pintor jamais quererá tra-
balhar. Paro. Penso. E o tempo? Dizem
eles. Corro!
lUísA lOpEs
(DEAD)LINES

2 0 d e s u m b i g a

2 1 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaL
eNTReVisTa aO PROFessOR dOuTOR HugO dOs saNTOs
AN
tON
y g
ORm
lEy
- Fi
eLd
s FO
R T
He
bRiT
isH
isLe
s

2 2 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaL
HUGO DOS SANTOS
PROFESSOR DOUTOR
BIOGRAFIA: Licenciaturas em Medicina, Psicologia Clínica e Filosofia; Formação em Psicanálise e Psicoterapias; Investigador na FCT

2 3 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaLMARIA EMÍLIA PEREIRA - Quando
começou o seu interesse por temas como
a Neurociência, a Psicologia Clínica, o Es-
pírito, a Filosofia, a Medicina, a Neurologia
do Comportamento…?
HUGO DOS SANTOS - Desde muito
cedo. Aos 12 anos o meu primeiro traba-
lho, para uma disciplina na escola, tinha o
título de cérebros e computadores! Aos 12
anos… ainda tenho lá isso, descobri no ou-
tro dia esse trabalho lá no sótão… Depois,
como tive uma educação oriental…
MEP – Oriental?
HS – tive uma espécie de preceptor
particular que foi o meu Mestre desde os
meus 4 ou 5 anos de idade. Não é que aos
4 ou 5 anos de idade me interessassem
realmente, mas se uma pessoa é educada
dentro de uma cultura, naturalmente que
com o tempo acaba por desenvolver esse
gosto, esse interesse, esse fascínio, para
dizer o termo mais correcto.
MEP – Mas o interesse despertado era
já relativo à Medicina, à Filosofia, ou…?
HS – Não, não… Bom eu já fazia as mi-
nhas experiências, mas a Filosofia aparece
na minha vida já muito tardiamente. Eu já
tinha tirado o curso de Medicina e o de Psi-
cologia Clínica, e aquilo continuava a não
fazer sentido nenhum… Havia perguntas
que ficavam sem respostas. Para ter uma
noção, no caminho para cá, vinha na Praça
de Espanha no fecho de um pensamento,
que trazia desde Azeitão até aqui. E que
era: “Então muito bem, eu estou a olhar
para uma paisagem e há aquele momento
em que a pessoa olha para a paisagem e
se abstrai de si própria; então como é que
eu teria consciência de que estou cons-
ciente e ao mesmo tempo inconsciente da
minha Auto-consciência? Como é que nós
conseguiríamos definir este estado?”
A Auto-consciência parece ser alguma
coisa. E depois há outra questão ainda: a
consciência não é o Eu estar consciente
quando abstraído, mas tenho de chamar a
mim esse estado. E a pessoa não se aper-
cebe que não chama quando está abstra-
ída por uma determinada sensação, pois
deixa-se invadir por um sentimento, seja
ele de vazio, de beleza, ou do que quer
que seja… Mas depois, nós chamamos de
consciência vigil como foi falado no Debate
do Módulo ConsCIÊNCIAS do congresso EN-
JOY Med ‘10, eu tenho de chamar a mim
esse estado de consciência. Eu tenho de
dizer “estou aqui!”, mas há esse momen-
to, há esse fenómeno de aparecimento
do meu Eu, que se torna presente, que
durante um período se evadiu. E mesmo
quando eu chamo, quando eu tomo auto-
-consciência de que estou consciente, eu
tenho que ter a mesma auto-consciência
que na minha auto-consciência eu estou
inconsciente. Isto é complexo, como é que
eu definiria isto?
Há outra questão muito importante:
como é que eu chamo a pessoa ali? Como
é que eu me chamo a mim próprio?
A arte é também muito interessan-
te nestes temas, a pessoa escapa-se…
Magritte, que o Professor Mário Simões
usa muito nas suas apresentações, realiza
uma pintura intelectual. Ele não pinta só
por pintar, pinta no intuito de intelectua-
lizar. Não é um simples abstracto, como
um Wassily Kandinsky, por exemplo, que
atirava umas coisas para depois ver o que
é que a pintura lhe dava. Mas mesmo nes-
sa experiência, eu uma vez li umas coisas
sobre Wassily Kandinsky porque queria
perceber o abstraccionismo – como é que
uma pessoa pinta abstraccionismo? Isto,
por causa de uma questão do oriente, vai
tudo drenar ao mesmo oceano... Ou seja,
ele queria evadir-se das concepções pré-
-concebidas, queria expressar uma totali-
dade, mas que não estivesse condenada
pelas pré-concepções sociais. Portanto, o
traço técnico. Ele queria sim, a expressão
de algo que através dele tomasse forma
na tela. Isto era o abstraccionismo.
Agora, vamos imaginar que nesse
momento ele não está consciente. O que
é difícil, pois o artista tem de ter noção de
uma técnica para a aplicar, mesmo que
seja uma técnica sem técnica. Ou seja, que
não haja um traço técnico definido, como
ele crê nos materiais que aplica. E isto é
muito complexo, por isso é que a arte é
tão discutida: é uma elaboração, ainda que
elevada. Mas o abstraccionismo é de maior
radicalização na nossa cultura por causa
disso. E ainda que seja uma tentativa de
escape a essas concepções que a fecham,
ela não deixa de ter esse alicerce de
escape. Ele tem um quadro muito engra-
çado que pinta de cima de um escadote
e tem uma tela muito grande. Então vai
com uns baldes e atira a tinta para a tela.
Vêem-se as bolas dos borrões maiores e
depois os salpicos, parece uma explosão…
Mesmo que ele faça isso e que durante
esse momento em que esteja absorto no
que acontece, se o parássemos e pergun-
tássemos: “o que é que está a fazer?”, ele
respondia,“Ah! Estou aqui!”. Ele conseguia-
-se definir, mas esse estado teria de vir a
ele, ele está auto-consciente de que está
consciente do que está a fazer, ou seja, ele
define a consciência como aquilo que sabe
o que está a fazer. Define a auto-consciên-
cia como quem sabe que sabe o que está
a fazer, agora, durante o momento em que
faz. Ele não só não está consciente do que
o que ele está a fazer, porque não conse-
gue definir no mesmo esse momento, em
que a auto-consciência está inconsciente
da consciência que o faz.
“A maior parte da infor-mação que normalmente
temos acesso (...) tem a ver muito com um estudo su-perficial das coisas, e não com a realidade concreta das tradições do pensa-
mento oriental ou das me-dicinas orientais”

2 4 d e s u m b i g a
“va
n g
og
h’s
eyes
”sa
LOm
É si
LVa
40X
40 C
m
OLÉ
O s
ObR
e T
eLa
ma
FRa
, FeV
eRei
RO 2
009
“thE
jO
INt
bEt
wEE
N
min
d a
nd
sta
rs”
daV
id N
asC
imeN
TO m
ORe
iRa
18 X
24
Cm
TiN
Ta P
eRm
aN
eNT
e sO
bRe
PaPe
L a
gu
aRe
La
Lisb
Oa
, 200
7
a R T e s

2 5 d e s u m b i g a
e a F i N s

2 6 d e s u m b i g a
E isto, então onde andaríamos nós?
Mas depois, vem o tal Self, e de repente,
ah! Mas eu estou aqui, e se eu estou aqui
posso perguntar à minha consciência. E
aparece-me em três dimensões: o Eu, a
Auto-consciência e a Consciência. Estas
questões no oriente, para fazer agora a
ponte, são muito importantes. Essencial-
mente, a filosofia ou melhor o pensamento
que, advém do Budismo Zen que tem que
definir o Eu do Não-Eu, ou seja, este Eu,
que não é Eu. Que seria, nesta dialéctica
entre Eu, o Self, a Auto-consciência e a
Consciência, mais propriamente o estado
de vigil, não o é. É muito importante enten-
der esta dialéctica ocidental. À medida que
os anos avançaram e fui para a escola, nas
aulas nunca se falou muito em Consciência.
MEP- E existiu alguma influência destas
matérias para seguir Medicina?
HS – Não, não… Na altura o facto de ir
para Medicina foi uma linha de percurso,
como qualquer outra.
Fui para Medicina porque estava-me
mais próximo. Quando era miúdo já gosta-
va de andar a abrir os bichinhos, tinha lá
um “laboratório” às escondidas. Se calhar
já havia uma pré-consciência, mas isso
teríamos de admitir aqui outras coisas. Mas
a medicina não me aparece como resposta.
Na altura não estava preocupado com uma
profissão, havia lugar para todos. Aliás, foi
o “boom” da gestão, quem era estudioso e
queria ter uma carreira de sucesso ia para
Gestão, Economia…
DAVID NASCIMENTO MOREIRA – A
medicina surge então como um percurso,
para tentar responder, talvez, a certas
questões?
HS – Às inquietações... é verdade! E
foi sempre assim, a medicina, a psicologia
clínica, a filosofia, os cursos que fiz, etc.
Mas mais para conhecer o mundo exter-
no, porque a arte de conhecer-me a mim
próprio, eu aprendi com os orientais. Fui
ao fundo da questão, os orientais é que
me ensinaram a conhecer, eles é que
têm, digamos, os métodos que faltam
à medicina para nos conhecermos. Eles
têm uma Auto-Medicina, não tanto uma
auto-medicina no sentido de curar, mas
têm uma auto-medicina no sentido de se
auto-conhecerem, portanto, o caminho do
Auto-conhecimento…
MEP – E isso envolve o quê? O que é
que envolve o Auto-conhecimento?
HS – Envolve processos introspectivos,
métodos de treino introspectivo, auto-re-
flexivos, não tão voltados para o exterior.
Mas no seguinte sentido, “para conhecer
o outro tenho de me conhecer primeiro a
mim mesmo”. E toda a tradição oriental é
voltada para essa concepção. Para o por-
menor que acontece dentro de cada indi-
víduo, e a sensibilidade que é despertada
através dessa experiência de se vivenciar a
si mesmo de dentro para fora…
MEP – E acha que isso seria uma fer-
ramenta, ou de alguma forma vantajoso,
para o profissional de saúde, como o médi-
co, neste caso?
HS – Eu diria que teria todo o sentido.
Vou-lhe dizer o seguinte, nós temos hoje o
crescimento massivo da Bioética, que está
muito voltado para os cuidados paliativos,
etc. Mas não só, na bioética também temos
a relação médico-doente, que é voltada
e centrada no cuidar do ser humano, da
pessoa. Após o doente, ou antes do doen-
te, temos o ser humano. Isto está a atingir
largamente a medicina, através da bioéti-
ca, não sei se de uma forma superficial, se
atingindo mesmo o “coração” dos médicos,
a ponto de os sensibilizar para que eles
revejam a forma como entendem a medici-
na. Mas a verdade é que, se houvesse um
lugar em que essa tradição oriental, esses
métodos orientais de auto-conhecimento
pudessem ter lugar e aplicabilidade na
medicina, seria essencialmente, num pri-
meiro passo, nesse sentido, porque é o que
é emergente. É o que é emergente. Nós
temos pouco tempo neste mundo, e talvez
a única coisa que nos acrescenta conheci-
mento real, para mim, e a meu entender, é
o contacto e a relação que estabelecemos
com o outro. Essa troca, esse “dia-logos”.
O Médico ganha uma posição privilegiada,
porque lida com o doente quando tem a
maior parte das suas barreiras psíquicas
em baixo, o que, quer dizer que ele se tor-
na muito mais permeável a esse contacto
humano.
MEP – Pensamos que tem havido por
parte das instituições, um florescer de uma
certa consciência desta problemática. Já
que na nova reforma curricular, uma das
medidas foi implementar a exploração
de temas como a relação médico-doente,
no sentido de sensibilizar a formação dos
novos médicos…
HS – Não há de ser fácil, mas lá está,
esse auto-conhecimento seria isso: esse
despertar de sensibilidades para essa nova
consciência.
Repare, nós estamos agora nesta evolu-
ção tecnológica do mundo Web. Que tornou
o mundo pequeno e aproximou outras
culturas, por exemplo a cultura oriental.
Aproxima, é facto, existe esse contacto,
mas deixa-o à superficialidade. E depois,
em termos de resultado final, “aquele con-
tacto” que é necessário não existe.
Eu não tenho uma noção, hoje, de que
as culturas estejam mais próximas, na
verdade nunca as vi tão distantes como
agora. O que eu acredito que exista é que
tem existido um marketing de proximidade
e de aproximação intercultural, que é feito
essencialmente pela classe política. Mas
que na realidade, esse contacto humano
e essa partilha humana nunca têm sido
verdadeiramente privilegiadas no senti-
do que deveriam ter. Isto quer dizer que,
de alguma forma, aquilo que nos está a
chegar dessas tradições ancestrais, como
as orientais, incluindo os seus modos de
entender a medicina e os seus sistemas
médicos… E que nós deveríamos estar
abertos a apreender esse conhecimento,
pelo menos a estudá-los, para ver até que
ponto têm algo que nos possa ser útil para
a nossa prática e melhorar significativa-
mente a prática médica ocidental, não
penso que isso esteja a ser favorecido por
TRaNsmissÃO ORaL
“Eu não tenho uma no-ção, hoje, de que as cul-turas estejam mais pró-ximas; na verdade nunca as vi tão distantes como
agora. O que eu acre-dito é que tem existido um marketing de proxi-midade e de aproxima-ção intercultural, que é
feito essencialmente pela classe política”
O U
niv
ers
o n
ão é
mágic
o (
de m
ísti
co),
nem
é m
ecâ
nic
o (
de m
ate
rialís
tico
), é
funci
onante
(de V
ida).
O q
ue o
faz
funci
onar
tão b
em
é a
quilo
que n
os
intr
iga, aquilo
que n
os
inte
rroga;
ao q
uest
ionarm
o-n
os
– não c
om
pre
endendo n
ós
o f
unci
onante
– s
eguim
os
o m
ísti
co e
o
mecâ
nic
o c
om
o c
am
inhos
de r
esp
ost
a p
ara
as
noss
as
dúvid
as.
.. e
ntã
o, co
mo p
odere
mos
nós
com
pre
endê-l
o e
m v
erd
ade p
or
meio
de d
ois
cam
inhos
confa
bula
nte
s!?

2 7 d e s u m b i g a
esse contacto. Pelo contrário, eu nunca me
senti tão às avenças culturalmente como
agora, quando falo com colegas meus, ou
vou a conferências no estrangeiro, etc.
Sei perfeitamente que aquilo que deveria
ser ensinado no âmbito da tradição do
pensamento oriental não o é, porque eles
os orientais não só não confiam em nós,
como não se revêem na nossa forma de
entender o mundo. Eles entendem-nos
como pessoas, que queremos aprender a
um patamar muito superficial das coisas
para depois andarmos aqui a fazer um
género de “comércio de conhecimento”…
O que quer dizer que, a maior parte da in-
formação que normalmente temos acesso,
até mesmo por vezes em artigos ou litera-
tura, e por aí a fora, tem a ver muito com
um estudo superficial das coisas, e não
com a realidade concreta das tradições
do pensamento oriental ou das medicinas
orientais, como a Medicina Tradicional Chi-
nesa, a Medicina Ayurveda ou a Medicina
Tibetana, ou de outras tradições das quais
eu não tenho conhecimento, sendo mais
recentes, como a Homeopatia…
MEP – Quando diz superficial, portanto,
refere-se à aprendizagem de umas técni-
cas e de algumas coisas e não realmente
de uma interiorização, de uma profundida-
de do saber…?
HS – Exactamente. O que nós temos
são culturas e temos primeiro que abater
essas barreiras culturais, os estereótipos
étnicos para que depois de alguma forma
sermos “aceites e integrados” por essa
cultura, para que eles nos possam ensi-
nar e connosco partilhar o seu “saber”. E
tenho sérias dúvidas que uma pessoa com
a visão como nós temos, consiga assimilar
a totalidade de uma técnica que tem como
fundo de tradição aquela cultura. Portanto,
é preciso uma pessoa aprender a cultura,
para depois poder assimilar a técnica e
depois poder fazer essa adaptação com
consciência plena desse processo de
transladação desde a cultura oriental para
a cultura ocidental, e isto eu diria que é
deveras complexo…
MEP – Não é uma coisa que possa ser
feita facilmente…
HS – Não, não. De forma alguma, repa-
re, daí ser muito fácil depois, a crítica. Nós
não temos um conhecimento profundo,
nem a experienciação, a vivência. Portan-
to, é o mesmo que os comentadores polí-
ticos, e os comentadores de futebol. Pois
a visão que temos é apenas do jogo. Mas
quem jogou futebol, e eu joguei futebol,
sabe perfeitamente que dentro do jogo as
coisas não são iguais, porque a imagem
que temos não é a de cima de um estádio,
é sim ao mesmo nível. O jogador quando
vê, não vê uma linha directa de passe,
com três ou quatro indivíduos ali dispostos
tacticamente. E tenta encontrar linhas de
passe àquela medida, mas depois está um
indivíduo por cima, a quem lhe é muito
mais fácil de dizer: “porque é que não
passas para ali?”.
Aquela vantagem de posicionamento
permite-lhe a ele ter um prisma de visão
completamente diferente e isso o que é
que torna? Torna muito fácil a crítica, e
convínhamos que os ocidentais, cultural-
mente, têm uma grande aptidão para a crí-
tica fácil. Basta ver a nossa classe política,
mais uma vez, volto a referir…
Eu por acaso estava-me a lembrar de
uma coisa que aconteceu na conferência,
para cimentar mais esta ideia. Eu referen-
ciei um estudo que aparece num livro edi-
tado pela editora relógio de água que tem
a ver com o espírito e a ciência. Um estudo
feito durante 20 anos na Índia e no Tibete,
um estudo seríssimo, feito por uma equipa
do Mind Body Medical Institute at Harvard
Medical School, e do Department of Social
Relations at Harvard University, do qual
surgiram conceitos como a Inteligen-
cia Emocional, de Daniel Goleman. Contu-
do, eles apenas colocaram umas notas e
breves ilações sobre o que é que o estudo
tinha sido, e aí está, os tibetanos não
permitiram a divulgação de mais, porque
assim o entenderam, a questão aqui seria,
o de porquê, permitirem fazer um estudo
e depois não o deixar acessível. Já nos dá
que pensar no modo como somos entendi-
dos enquanto cultura ocidental.
Repare, Dalai Lama consegue ter este
discurso, mas do discurso ao ensinar é
uma coisa diferente.
Ou, outra coisa mais engraçada, o
conceito de Inteligência Emocional. É daí
que Daniel Goleman, que fazia parte da
equipa, um homem inteligentíssimo, faz o
aproveitamento do estudo e cria o concei-
to de Inteligência Emocional. Vendeu uns
bons milhares de livros, como se isto fosse
uma coisa nova. De facto no ocidente é-o,
mas, enfim, já havia este conceito e esta
noção há muitos anos, no Oriente. Se já
havia esta noção e esta consciência há
muito tempo no Oriente, então imagine o
que eles não saberão eventualmente mais.
A riqueza que eles não terão em termos de
documentos, sabedoria, de conhecimen-
tos, de técnicas, e por aí a fora, que nós
não temos acesso. Das quais cá nos chega
apenas a “superficialidade” delas...
DNM – Um exemplo disso é que, sabe-
-se que a Medicina Ayurveda mais tradicio-
nal tem sido ensinada de Mestre a Discípu-
lo ao longo das gerações…
HS – Exactamente… Primeiro porque
nós nem sequer respeitamos essa tradi-
ção, o que é muito engraçado. A tradi-
ção do ensino Mestre-Discípulo é muito
importante no Oriente. Por acaso, recebi
até uma crítica do Professor Mário Simões,
entenda-se bastante construtiva e de
quem nos quer bem, quando foi o con-
gresso ENJOY Med ‘10, devido à referência
presente dos meus Mestres; e fez-me essa
correcção, ainda que o Professor Mário
Simões o entenda, admitiu que a maioria
das pessoas não o entenderia dessa mes-
ma forma; nós não estamos preparados
para esse tipo de discurso. Note-se que eu
tive sempre na pessoa do Professor Mário
Simões a minha maior influência para
estas áreas. No oriente fui educado que a
referência aos meus Mestres não me me-
noriza, muito pelo contrário, essa constan-
te reverência é parte da minha genealogia
intelectual o que em nada se opõe a um
pensamento próprio e independente. Eu
não tenho que os diminuir ou que os retirar
para afirmar a individualidade e origina-
lidade do meu pensamento. Mesmo que
eu tome outro caminho, esse sentido de
reverência deve estar presente, pois só me
é permitido andar porque houve alguém
que me abriu caminho para eu possa ter
caminhado até ali. Se depois escolhi fazer
o meu caminho e construir o meu próprio
pensamento isso é no entendimento orien-
tal o próprio processo de realização… Sir
Isaac Newton disse uma vez, “Se vi mais
TRaNsmissÃO ORaL

2 8 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaL
longe, foi porque estava sobre os ombros
de gigantes.”, e portanto, as pessoas têm
muita tendência de se esquecerem disto.
MEP – Aqui no ocidente não há esse
culto à sabedoria das pessoas mais ve-
lhas…
HS – Aqui há um culto à novidade, mas
só uma pessoa pouco inteligente é que
acreditaria na questão de ser diferente…
MEP – Acha que há alguma coisa na
Cultura Ocidental que se pudesse dar, ou
que enriquecesse a cultura Oriental?
HS – Sim, sem dúvida nenhuma. O
meu Mestre ensinou-me os nomes Japo-
neses, mas ensinou-me a dizê-los em Por-
tuguês. Uma das coisas que ele disse era
que os portugueses tinham coisas extraor-
dinárias, como por exemplo, a capacidade
e a abertura que temos para aprendermos
as coisas deles. O que eu acho que a cultu-
ra ocidental pode trazer à cultura oriental,
é exactamente esta “energia”, quando a
cultura oriental está a começar a perder fé
na sua própria tradição. É como se fosse
a “injecção de uma energia”, para validar
aquilo que até então tem sido. Outra coisa
é o aproveitamento para credibilizar as
nossas atitudes e fazer uma espécie de
toque de consciências, de que a ideia que
eles retêm há muito tempo da cultura oci-
dental, afinal não é a do comercialismo e
a da destrutibilidade. Muito pelo contrário,
é a cultura ocidental que eventualmente
pode validar, fazer um aproveitamento
daquilo que já existe. Se conseguirmos ter
a capacidade para retirarmos o que neles
de melhor existe, incentivá-los, energizá-
-los ao ponto de quererem partilharem isso
connosco. Para que nós possamos depois,
à posteriori, fazer uma aplicação útil disso,
validando os seus métodos ancestrais e os
antepassados que desenvolveram essas
técnicas. Depois o que tem feito e que não
o deveria fazer, é fazer esse aproveita-
mento muito superficial e vazio da cultura
Oriental.
Repare, eu lembro-me na minha altura,
em 98/99, que havia uma ou outra pessoa
que sabia estas matérias, relativamente as
tradições orientais e ao pensamento orien-
tal, por exemplo no que as artes marciais
dizem respeito como o Tai Chi. De repente
dá-se um “boom!”, eu vejo pessoas hoje
em dia a tratar destes temas, que muito
pouco ou nada terão estudado, que pouco
dominam; porque dominar uma técnica
oriental, implica uma dedicação brutal.
DNM – Implica fazer com que a técnica
seja parte do nosso organismo?
HS – Dedicação, exactamente… e isso é
uma experiência pessoal não só do nosso
corpo, mas com o nosso corpo, que leva
o seu tempo e precisa de ser orientada.
Como é que é possível que em tão pouco
tempo, numa geração apenas? E e de
repente sabem tudo… como nós vemos
nos filmes, em que enfiam uma coisa na
cabeça, tipo como acontece no Matrix, e
uma pessoa quando acorda já sabe tudo,
já sabe Karaté, tudo, o homem voa e pron-
to… isto não me parece que seja alguma
coisa que mereça respeito e acima de tudo
que possa ser entendido e respeitado por
quem é dono original dessas tradições
como os orientais.
MEP – A noção que eu tenho é que há
um respeito muito grande pelo tempo no
oriente, o tempo natural, o tempo próprio
das coisas, etc., aqui não… parece haver
um culto da rapidez, quanto mais rápido
melhor, sem haver a preocupação de viver
esse tempo…
HS – É verdade, aqui é um consumo, é
um consumo.
DNM – Portanto, não interessa o cami-
nho, mas a meta, para os ocidentais…
HS – Exactamente, ali não, é o domínio.
Eu tentei falar na conferência, na questão
da intensidade do tempo, como é que se
dá a consciência do tempo? Como é que
a consciência tem noção do tempo viven-
ciado? Falamos da consciência, mas não
da experiência da consciência… Repare,
é a consciência que tem noção do tem-
po vivenciado, ou é a auto-consciência de
estarmos a vivenciar conscientemente o
tempo? A unidade de tempo vivenciada,
que nos dá essa noção real da unidade ou
irreal, no caso, como eu apresentei nos es-
tudos dos estados de intensidade psicoló-
gica, de Bergson. Ele não definia a unidade
de tempo, o Bergson falava na intensidade
dos estados psicológicos, é uma coisa
diferente…
MEP – A vivência não seria uma coisa
padronizada, resultante das nossas vivên-
cias, crescimento, educação…?
HS – Mas nós não temos isso ainda
definido, em termos de cartografia da ci-
toarquitectura cerebral. Não conseguimos
definir com eficiência, se uma unidade
de tempo tem ou não uma correspondên-
cia em termos de funcionalidade cerebral.
O interessante, para podermos dizer isso
seria dizer “muito bem, numa determinada
actividade, a correspondência em termos
de circuito neuronal é esta, e a esta fun-
ção, imagine com a ajuda de um SPECT,
conseguíamos ter uma ideia da localização
de experienciação”, e não há experiên-

2 9 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaLcias dessa ordem, teríamos de as fazer…
Porque é interessante, e isso seria mais
importante ainda devido à questão que eu
falei na conferência… A Neurociência é fei-
ta e dirigida a uma classe, a uma cultura,
como se houvesse prevalência… Repare,
como é que o tempo é vivênciado…?
DNM – Por exemplo, nas pessoas da-
quelas tribos da Amazónia, ou de África,
que vivem o seu tempo de forma muito
própria…?
HS – Nessas tribos, onde não há reló-
gio, não há noção de tempo da mesma
forma que nós temos. E verificarmos isso
em termos neurológicos seria interessan-
tíssimo e não me refiro á identificação da
área cerebral responsável pela contabi-
lidade da unidade de tempo, mas sim á
subjectividade associada á experiencia
do tempo vivido mediante a ecleticidade
étnica… Quando se faz ciência “caseira”,
que é o que grosso modo tendemos a fa-
zer, uma ciência a seu modo provinciana,
do tipo, “vamos aferir um estudo a oitenta
pessoas, ou noventa pessoas, ao invés de
uma amostra de mil pessoas, que já é uma
amostra significativa para um estudo a
nível nacional, mas que ainda assim muito
pouco representativa da população mun-
dial e de toda a sua diferenciação étnica e
que nem por isso nos coibimos de aferir-
mos que dessas mil pessoas se possa dar
o caso de essas mil se fazerem correspon-
der ao resto da população mundial… isto
não deixa de ser curioso…
HS – Quando a ciência se pensa a si
própria e se define a si própria com exac-
tidão, a partir de unidades desta ordem,
há algum erro aqui que se está a passar.
Nós anulamos critérios de ambiente, sendo
que muitos estudos dizem que o ambien-
te influencia, e repare como a ciência se
pode enganar a si mesma… Quando tem
estudos de gémeos monozigóticos, que
são usualmente usados em medicina, por
exemplo, lembro-me de um estudo de
duas gémeas. Uma vai para a cidade, ou-
tra fica a viver no campo, a primeira morre
de cancro e a segunda não.
Se nós não tivéssemos consciência
destas situações, até seria entendível que
nós aferíssemos resultados a partir de
amostras dessa ordem. Mas, como a ciên-
cia é feita de palavra e a palavra é feita no
contexto, e o contexto define uma popula-
ção e um interlocutor… E isto é a ciência
médica, é o resultado de uma conferên-
cia… Mediante a audibilidade daquilo que
é dito, se soa bem ou mal, de acordo com
as nossas concepções pessoais ou não...
O problema, é que se tenta definir em
poucos minutos, pensamentos da ordem
de uma vida, e isso é impossível. Agora
repare, e o mais interessante é quando
nós criamos cientistas que pensam deste
modo, estão ali fechados naquele labora-
tório, estudam 10 cães… logo, se existiam
variáveis…E foi isto que eu tentei alertar
na conferência do ENJOY Med, é que não
fechemos as portas a outras culturas, que
não façamos uma ciência de casa, com
ratinhos…
A questão aqui essencial é esta, quando
nós não temos noção desta dimensão
deixa-me a mim preocupado. Uma ciência
que é uma espécie de economato, onde te-
mos de fazer uma gestão logística do que
temos e do que não temos, para fazermos
uma boa gestão da casa… Mas é só aqui,
com o produto daqui, … um economato,
uma boa gestaozita e tal, para aquilo
funcionar… Isto não é ciência. A ciên-
cia, sobretudo a ciência médica, tem de
considerar variavéis de uma outra ordem,
eu não sei ainda como é que poderiam
ser consideradas, mas hoje, se alguma
coisa a internet poderia servir, seria isso,
essa intercomunicação, em termos de
estudos de maior amplitude com colabora-
ções de entendimento. Isso é trabalhar em
prol da comunidade humana, do mundo.
E isso seria fazer uma ciência séria que
atenda ao homem enquanto ser e não à
sua dimensão contextual ainda que essa
seja uma prioridade da medicina.
MEP – A ciência que é feita é muito
centrada na Europa e nos Estados Uni-
dos, e para essas populações, está muito
fechada…
HS – É a cultura ocidental e os merca-
dos económicos…eles tem e talvez terão
sempre a ultima palavra nesta para não
dizer em tudo…
MEP – E como surge o interesse pela
Psicologia Clínica e pela Filosofia?
HS – Então, é isso mesmo, é essa in-
quietação constante de perceber. Repare,
a medicina dá-me uma parte de cariz mais
anátomo-fisiológico eu diria: eu conheço
o cérebro, o coração, o sangue que circula
e alimenta os músculos, o corpo, pronto…
E começam a surgir aquelas questões…
Começamos a ver que existem patolo-
gias que são da cabeça e realmente se
manifestam no corpo (psicossomática),
e aquelas patologias que são puramente
emocionais. Que não acontecem no corpo,
não há registo, não há nenhum tipo de
exame que me possa dar qualquer indica-
ção. Mas a pessoa continua em sofrimen-
to, e isto deixa-me aqui alguma coisa de
preocupação, essa inquietação, do que é
o homem, nessa complexidade, leva-me
à psicologia… Continuava a não respon-
der, porque no meu caso, a psicologia era
clínica, e alguns modelos curriculares hoje
em dia são muito próximos já à medicina.
E não correspondeu, não adiantou muito.
Portanto, fui para um ramo da Filosofia,
que é o da Filosofia da Mente…
MEP – Que autores leu e que o marca-
ram?
HS – John Searle é um filósofo da men-
te, é talvez um dos grandes precursores da
filosofia da mente; Merleau-Ponty, Daniel
C. Dennet; Ludwig Wittgenstein, e já têm
aqui grandes referências. Temos também
o casal Churchland, Paul Churchland, mas
ela é mais conhecida, Patricia Churchland,
que dentro das Neurociências trabalham
conceitos como a Neurofilosofia, e depois
têm outros ainda que não só ligados à
filosofia, mas ainda assim com visões de
extremo interesse, que não são propria-
mente filósofos, mas são autores que
abordam e trabalham questões da filosofia
da mente, como por exemplo C. Jung,
Pierre Buser, Karl Popper, que no caso é
filósofo e John Eccles. Depois têm os mais
tradicionais, como John Locke, David Hume
ou Zubiri. Há ainda outros autores que não
fazendo propriamente parte da filosofia
da mente, têm o seu trabalho dirigido a
grandes aspectos da mente ainda que
inseridos ou em correntes filosóficas ou na
Psicologia, e que não devem deixar de ser
estudados, como os autores da Psicanáli-
se, Fenomenologia, Existencialismo, etc.
MEP – E agora para terminar, nas últi-
mas décadas, de que forma é que tem vis-
to a relação entre a Ciência e a Religião?
E o que acha que vai ocorrer no futuro,
aproximação ou afastamento?
“A tradição do estatuto do médico em Portugal está bastante cimenta-
da e dificilmente se des-monta daqui. Não sei até que ponto inviabiliza a abertura para determi-nado tipo de campos de conhecimento que pode-riam estar aqui mesmo
ao nosso lado”

3 0 d e s u m b i g a
TRaNsmissÃO ORaLHS – Eu tenho esperança de que co-
laborem, mas sinto profundamente que
ainda tem as costas às avenças. Distingui-
ríamos aqui duas dimensões. A dimensão
possível, e essa dimensão possível está
ao nível da política. Estamos a falar da
colaboração de instituições que face à
realidade da tradição religiosa de um país
e ao poder institucional que a Igreja tem,
obriguem a que determinadas instituições,
como Hospitais, Faculdades, etc., colabo-
rem. Isto é a dimensão possível da colabo-
ração. E face à legislação, há uma obriga-
toriedade dessa mesma colaboração em
determinados aspectos que, digamos, são
terrenos cinzentos, e têm de colaborar.
Agora, na dimensão do impossível,
designemos assim, nós teríamos os pontos
radicais. E a Ciência e a Religião não têm
dado grandes passos. Elas têm fingido
através da criação de léxico comum,
como Neuroteologia, Neuroética, Bioéti-
ca, Neurociência do Espírito, e uma espé-
cie de miscelânea de termos conceptuais.
Que tentam de alguma forma traduzir
realidades que causaram mais confusão
do que trouxeram discernimento, e têm
andado ali, mas no cerne da questão ainda
continuam às avessas.
MEP – Ainda existe um desconforto, um
tabu?...
HS – Vamos lá ver, a medicina não está
aberta, e vamos admitir que a ciência
se distinguiu da religião e da tradição
religiosa exactamente por ter um método
e por em causa tudo. A Fé lida com uma
dimensão da existência humana que não
tem palpabilidade, e a ausência de palpa-
bilidade para a ciência não é valorizada,
nem sequer é tida como, eventualmente,
um objecto possível de estudo. Nesta
impossibilidade, agarramos-nos à tradi-
ção conceptual: conceitos como espírito,
alma, consciência, e outros que tais. E
fazemos depois traduções/adaptações do
seu significado ou o que isso poderia ter
em termos históricos em determinados
autores, fazemos uma adaptação, fazemos
traduções, e depois fazemos uma espécie
de grandes revelações que na verdade não
acrescentam muito mais do que o que já
temos e sabemos…
Eu penso que há aqui, essencialmente,
a ausência de uma boa vontade. Estamos
a falar aqui de duas instituições de grande
poder. Repare, se fizéssemos um estudo,
puramente estatístico, de aferir quantos
médicos são católicos, seria interessante.
Como é que o exercício da medicina se faz
através do método científico, e ao mesmo
tempo, acreditamos em Deus? Como é que
essa convivência se dá dentro da pessoa?
Como é que ela sequer é possível?
MEP – Se calhar não é tão interioriza-
da quanto isso…
HS – Ora aí está, mas ainda assim,
teríamos de dimensionar esse sentido
religioso.
MEP – Poderia colocar aqui outra
questão. Sabemos que as pessoas com
doenças que não são curadas na nossa
usual medicina, acabam por recorrer a
outros lugares. Algumas acabam por ter
uma melhoria, outras não… Mas a verdade
é que os médicos são conhecedores desta
realidade e não existe um passo por parte
da comunidade médica para tentar perce-
ber como é que isto acontece… E mesmo
médicos quando na mesma situação, aca-
bam por recorrer aos mesmos locais, para
os seus problemas, isto existe. Ao existir
essa ausência de solução para determina-
das situações, o que se faz é permanecer
naquilo que se sabe, e pronto...
HS – Na dimensão do possível!
MEP – Sim…
HS – Há aceitação institucional, mas
em dimensões diferentes. Quando passa-
mos à questão real, passamos à dimensão
do impossível. A dimensão do possível é,
“Eu não interfiro, assisto, não digo que é,
não dou opinião, mantenho-me na minha
instituição…, respeito”. Mas não me mani-
festo, porque para isso teríamos que ir à
dimensão do impossível, que é admitirmos
que pode haver outras respostas que não
aquelas que a medicina possa dar. E isso
deixa o médico desconfortável… Isto é o
que é real.
MEP – Estamos a falar de um esta-
tuto institucional que foi adquirido pela
classe médica…
HS – Ora aí está, a realidade institucio-
nal deixa muito aquém as possibilidades
de resposta que seriam necessárias, e com
boa vontade nós poderíamos aceder, mas
para isso teremos que descer desse pata-
mar institucional. Devemos manter o espí-
rito científico. O médico forma-se, perde o
espírito científico e passa a ter um espírito
mais clínico, e é bom que se note que ele
é necessário. Instituições como estes Hos-
pitais não poderiam existir e dar resposta
a esta premente necessidade de cuidados
médicos, como um país precisa, como o
nosso, se não tivesse clínicos altamente
vocacionados para a clínica, como é óbvio.
Mas é dever daqueles que, com formação
médica, e médicos de formação, que estão
na investigação, terem essa abertura.
Quando descemos de tais patamares, a
ideia geral que existe é que perdemos po-
sição, e isto é um valor da tradição. A tra-
dição do estatuto do médico em Portugal
está bastante cimentada, é bastante forte,
e dificilmente se desmonta daqui. E isso eu
não sei até que ponto, não posso afirmá-
-lo, inviabiliza a abertura para determinado
tipo de campos de conhecimento, que
poderiam estar aqui mesmo ao nosso lado,
mas admito que sim, admito que possa
ser um sério entrave, a essa facilidade de
acesso. Deveria de haver uma maior boa
vontade por parte da classe médica, e dos
investigadores, ligados às ciências biomé-
dicas, etc. Porque eventualmente, trata-se
em última instância, e em última questão,
de responder à necessidade humana de
se tratar, seja em que dimensão esse
sofrimento aconteça, seja ele patológico
de cariz orgânico, ou de cariz “espiritual”,
eu não sei até que ponto, não o posso afir-
mar, lá está a minha própria limitação.
MEP/DNM – Muito obrigado.
mARIA EmílIA pEREIRA
DAVID NAscImENtO mOREIRA

3 1 d e s u m b i g a

3 2 d e s u m b i g a

3 3 d e s u m b i g a
babiLÓNia
O LadO de deNTRO da LOuCuRa u O CiNema NÃO sÃO FiLmes...
mA
RcO
Alc
Az
AR
AN
sElm
kIE
FER
- bL
OO
d O
N P
aPe
R

3 4 d e s u m b i g a
“Um eléctrico chamado desejo” é
uma peça de teatro escrita em
1947, pelo dramaturgo Tennessee
Williams, que recebeu o Prémio
Pulitzer por esta obra. A peça es-
treou na Broadway em Dezembro de 1947 e
permaneceu em cena durante dois anos no
Ethel Barymore Theatre, encenada por Elia
Kazan, com Marlon Brando, Jessica Tandy,
Kim Hunter e Karl Malden nos principais pa-
péis. Na produção que estreou em Londres,
em 1949, encenada por Laurence Olivier,
os principais papéis eram interpretados por
Bonar Colleano, Vivien Leigh (na imagem) e
Renee Asherson.
Esta peça foi recentemente, e de forma
brilhante, encenada por Diogo Infante, no
Teatro D. Maria II, com Alexandra Lencastre
a representar o papel principal com uma
postura muito forte e consistente.
A peça apresenta-nos como persona-
gem principal Blanche DuBois, uma mulher
sulista com a idade a pesar no rosto, mas
ainda atraente, com características de
personalidade borderline, que ostenta uma
armadura de supostos bons princípios e cul-
tura, com um autêntico delírio de grandeza,
sendo ainda extremamente manipuladora
no relacionamento com os outros. Tudo isto
para ocultar, dos outros e de si própria, a
realidade que vive: uma dependência alcoó-
lica, uma total ruína financeira e social, uma
extrema necessidade de aceitação e de ser
amada, sentimentos de perda no passado
mal geridos.
Blanche visita a sua irmã Stella em New
Orleans, que vive com o marido Stanley
Kowalski, membro da classe trabalhadora
industrial. A irmã recebe-a com muita reser-
va, temendo a reacção do marido à perso-
nalidade demasiado floreada e enfeitada de
Blanche. Blanche diz à irmã que perderam
a propriedade que a família possuía no sul
e que se encontra sem trabalhar como pro-
fessora, com permissão do seu supervisor,
devido às suas crises nervosas. Na realidade
tinha sido despedida, após ter-se relacio-
nado com um aluno, não tendo sido este o
único relacionamento problemático que teve
no passado. Na realidade, Blanche fora ca-
sada com um homem que amava muito, as
que teve relações extra-conjugais homosse-
xuais, tendo depois cometido suicídio. Este
evento marcou-a demasiado, arrastando-a
para um mundo de não compreensão, onde
as fantasias e ilusões coexistem lado a lado
com a realidade. A chegada de Blanche
perturba a relação entre a irmã e o marido,
baseada em instintos basicamente anima-
lescos. Stella preocupada com a irmã, aceita
acolhê-la em casa, entrando em colisão com
o marido que depressa se informa sobre
os factos do passado de Blanche. Stanley
confronta Blanche, de uma forma violenta e
cruel, com todos os acontecimentos que ela
tentava esquecer há anos, afirmando que
as diferenças de carácter que possui serão
prejudiciais para os que a rodeiam, indepen-
dentemente do local que ela escolher para
viver. Depois de abusar física e psicologica-
mente dela, provocando em Blanche uma
entrega final à insanidade, entrega-a a uma
instituição, não tendo qualquer oposição por
parte da irmã. Blanche termina dizendo ao
Médico que a conduz: “Sempre dependi da
bondade de estranhos”.
Quando vi esta peça, apercebi-me que
ela pode ser encarada com uma representa-
ção da forma como a sociedade vê e trata o
doente mental, bem como as consequências
que advêm desse comportamento.
Blanche representa um ser humano,
potencialmente um de nós, que perante um
evento traumatizante e não vivenciado e
ultrapassado de forma saudável, desenvolve
comportamentos e formas de pensar pato-
lógicos e disfuncionais, que são no fundo
estratégias adaptativas criadas para lidar
com a situação em que se encontra.
Ora vejamos, perante o sentimento de
abandono e de baixa auto-estima, a per-
sonagem desenvolve uma atitude seduto-
ra, vivendo relacionamentos impossíveis
e numerosos. Perante uma dependência
alcoólica e total incapacidade para trabalhar
babiLÓNia
O LADO DE DENTRO DA LOUCURA
REFLEXÕES SOBRE A PEÇA “UM ELéCTRICO CHAMADO DESEJO”
Falei e ninguém ouviu.
Gritei e ninguém sentiu.
Pus-me a cantar no meio da rua!
Ninguém parou.
Tentei falar…
Mas a voz já não falou.
Mudei de sítio,
Mudei de gente.
A mesma coisa,
A mesma mente.
Tentei. Respirei.
Vivi… Ultrapassei.
Novo evento.
Esbracejei!
Risos, piadas,
Comentários, Julgamentos.
Ajuda em raros momentos.
Desisti.
Abri os braços…
E deixei-me levar pelo vento.
Fui feliz por um momento.

3 5 d e s u m b i g a
e ser independente, desenvolve delírios
de grandeza, auto-proclamando-se como
exemplo de virtude e boa educação, agin-
do como se nada se adequasse aos seus
elevados padrões. Todas estas técnicas
de fuga à realidade, apresentam-se como
bastante primitivas e até mesmo infantis,
mas são a única forma encontrada no
contexto em que se insere e sem qualquer
ajuda exterior no sentido de contenção, de
compreensão.
Poderíamos pensar que pela sua atitude
manipuladora de pessoas e factos, Blan-
che seria eventualmente perigosa para
os que a rodeiam, mas o que acabamos
por verificar é que ela é completamente
inofensiva, pois a sua fragilidade e imaturi-
dade impedem-na de reacções agressivas,
até mesmo quando confrontada de forma
cruel e abusada por Stanley.
Stella e Stanley podem representar
duas atitudes bastantes transversais na
sociedade perante o doente mental. No
primeiro caso, verifica-se uma aparente
aceitação da situação, mas com uma
atitude demasiado passiva, sem qualquer
envolvimento profundo ou uma busca
pela verdadeira razão do comportamento
patológico, de forma a ajudar a ultrapassá-
-lo; na realidade é a postura mais fácil de
adoptar, pois não implica qualquer tipo de
desgaste ao interveniente, é um “deixa
andar”. No segundo temos uma atitude
recriminatória, abusiva e de assumida
superioridade perante uma pessoa que se
encontra fragilizada e sem possibilidade
de defesa. Stanley age para com Blanche
como se esta fosse uma ameaça para a
sociedade, quando na realidade é ele o
agente que lesa.
Não foi assim há tanto tempo que os
doentes mentais eram encerrados em
instituições como animais, com a justifi-
cação de que poderiam ser prejudiciais
para a sociedade, quando era esta que
os prejudicava, deixando-os entregues
aos seus delírios sem qualquer intuito de
os aceitar e promover a sua integração,
com o objectivo de melhorar a vivência
dos seus problemas, através do diálogo e
partilha com os que os rodeiam.
Felizmente, verificou-se que o único
resultado de uma atitude recriminatória,
rígida e agressiva era o agravar perma-
nente de um comportamento patológico
que poderia ser ultrapassado.
Os doentes mentais são hoje tratados
maioritariamente em hospitais de dia,
regressando a casa, tentando construir o
seu próprio caminho e autonomia. Ainda
assim confrontam-se diariamente com in-
compreensão, com julgamentos ou então
com atitudes passivas que em nada lhes
são úteis. Acabam por vezes por desistir,
abrindo os braços aos delírios e ilusões de
forma definitiva, por não visualizarem ou-
tra forma de funcionarem e serem felizes.
Usando as palavras de Blanche, restam-
-lhes os Médicos, estranhos dos quais es-
peram ansiosamente uma atitude bondosa
e acolhedora, numa última tentativa de
viverem a realidade em que se inserem.
A minha questão é: estamos nós prepa-
rados para os acolher, com as suas parti-
cularidades e mentes complexas, que nos
desafiam diariamente a sermos criativos,
flexíveis e melhores seres humanos?
Será que compreendemos que qualquer
um de nós pode um dia ser uma Blanche?
Será que gostaríamos de ser tratados
como Stanley a tratou?
Deixo estas questões para que possa-
mos reflectir, coma esperança que, depois
do longo caminho percorrido, um cami-
nho igualmente longo surja, em direcção
à aceitação de todos os seres humanos
como iguais.
saLOmÉ [email protected]
babiLÓNia

3 6 d e s u m b i g a
babiLÓNia

3 7 d e s u m b i g a
babiLÓNia
O CINEMA NãO SãO FILMES...
“Chegamos
em cima
da hora,
ainda con-
seguimos
bilhetes. Entramos
apressados, a sala
já está às escuras
e já passam os
primeiros trailers.
Curvamo-nos de
imediato para não tapar as
vistas a ninguém e a fala dá
lugar a sussuros. Finalmente
damos com o lugar 14 da fila
L e, já sentados, despimos o
casaco e pousamos no chão
o tal chapéu de chuva de que
mais tarde nos acabaremos por
esquecer. Às vezes lembramo-
-nos de pôr o telemóvel no
silêncio, outras vezes não. Não
importa. E ali vamos estar...
durante 90 e tantos minutos a
ver contar uma história. Não
viemos para apenas “espreitar”
(isso fazemos cada dia, com
as vidas dos nossos vizinhos
e colegas), aqui queremos
muito mais. Nós viemos para
ver. Satisfazer o nosso desejo
voyerista sempre ansioso para
saber o que está por detrás
daquela janela, ou que estão
a fazer dentro daquela casa.
Eventualmente, acabaremos
por corar, esboçar sorrisos,
encolher-nos na cadeira...e se o
filme merecer, mesmo mesmo,
vertemos umas lágrimas ou
soltamos umas gargalhadas.
Inicialmente assustamo-nos.
Estará alguém a ver-nos? Mas
depois percebemos que a sala
é escura e que ninguém sabe
que fomos nós... Isso tranqui-
liza-nos e voltamos ao filme.
Os 90 e tal minutos chegam
ao fim. Não ficamos para os
créditos (nunca vimos qual-
quer interesse nos créditos).
Depois de nos espreguiçarmos
e trocarmos um rectórico “gos-
taste?”, abandonamos a sala.
Já está. Usámos este filme para
relaxar. Provavelmente nunca o
voltaremos a ver. Foi prazeroso.
Já podemos ir para casa. “
Esta é a relação de muitas
pessoas com o Cinema. Vamos
ao Cinema na esperança de
trazer para a nossa vida, ainda
que por um par de horas, a
acção que escasseia na nossa
vida ou o drama que de certo
modo serve para nos relembrar
o quão privilegiados somos.
Outras vezes só queremos rir.
Na nossa mente, é um entre-
tenimento que usamos sem
pudor, para estabilizar ansieda-
des internas ou alimentar es-
tados de humor. Contudo, não
deixa de ser interessante pro-
curar um maior distanciamento
da situação para perceber
que quiçá somos nós próprios,
enquanto espectadores, que
estamos a ser usados por uma
indústria (cinematográfica) ma-
nipuladora. São realizadores,
guionistas, actores e atrizes,
técnicos de som e de fotogra-
fia, produtores, estúdios de
cinema...que durante aqueles
largos minutos decidem o que
vamos sentir. Nada é filmado/
contado ao acaso. A lendária
cena do chuveiro, do filme
“Psycho” de Hitchcock, por
exemplo. Não poderia, nos dias
de hoje, causar sequer a quarta
parte do medo e ansiedade,
despoletados em 1960 quando
estreou. Os efeitos especiais
estão ultrapassados, já não
assustam ninguém. Passou à
categoria de filme de culto. A
música de fundo desta
cena, no entanto,
mantém-se eficaz e
aplicada de forma
apropiada a um filme
actual, tem poder para
nos arrepiar. O Cinema
não se resume, portan-
to, a um filme. É uma
experiência sensorial
complexa que envolve
sons, imagem, sentimentos e
pensamentos. O novo Clube
de Cinema da Faculdade de
Medicina de Lisboa (FML), o
CêCê (CC), procura desmon-
tar o Cinema. De uma forma
amadora mas muito dedicada e
entusiasta, juntamo-nos (mem-
bros do clube) quinzenalmente,
na sala multiusos da FML, para
participar (e não meramente
assisitir) na complexa experiên-
cia que é o cinema. Corremos
vários estilos e géneros, dentro
do Cinema Indie-Alternativo
e depois de viver duas horas
de um filme mastigamo-lo em
conjunto. Debatemos enredos,
técnicas e performances artísti-
cas. Pomos em causa as visões
de alguns realizadores e ou evi-
denciamos paralelismos com
a sociedade actual. Opinamos.
Opinamos muito. E só depois
vamos para casa.
TiagO miRaNdaVÍTOR magNO
aLeXaNdRe FReiTas

3 8 d e s u m b i g a

3 9 d e s u m b i g a
esTÓRias CLÍNiCas
a Vida É duRa PaRa quem É mOLe u a dOeNÇa u esTÓRias CLÍNiCas
cO
RNEl
IA p
ARk
ER -
ma
Rks
ma
de
by F
Reu
d, s
ubC
ON
sCiO
usL
y (
ma
CRO
PHO
TOg
RaPH
OF
FReu
d’s

4 0 d e s u m b i g a
esTÓRias CLÍNiCas
O dia começou soalheiro numa tabanca chamada “Madina” e a D. Domingas foi ao
mato buscar um legume para o almoço, nada de especial até aqui, a vida corria sem percalços, um dia normal na vida de uma mulher Gui-neense! Mas, e há sempre um mas… Há 4 espécies de cobras venenosas nesta região! Há muitas cobras na época das chuvas! Há mato! Há azar na vida… Há um pé que é mordido por uma co-bra! Pede-se ajuda… liga-se para a AMI! Vamos a correr. A viagem de jipe parece inter-minável, tentamos definir um
plano de acção para quando chegarmos ao destino não perdermos tempo.
Chegamos a Madina, toda a aldeia está em alvoroço, há olhos cheios de esperança, talvez “os brancos” tragam a solução… A senhora vem meio inconsciente, é trazi-da por 4 homens até nós, improvisa-se uma sala de cuidados intensivos na parte de trás do jipe. Há gente por todo o lado! Avaliam-se os sinais vitais… o pulso mal se sente! Entrou em cho-que! Ouvimos o batimento cardíaco ir embora… e levar com ele a esperança de ter sido uma cobra não vene-nosa. Não há nada a fazer!
Fecham-se as pálpebras da senhora com respeito e olha-se para baixo… também não há nada a dizer! Inevitá-vel! Toda a aldeia rompe em choro e ranger de dentes. O sofrimento, nesta terra, faz barulho, atira-se para o chão, não tem vergonha de chorar ou de perder a postura, por aqui borrar a maquilhagem não parece importar a quem perdeu “uma Domingas”.
Agora, é preciso levar o corpo para casa, o funeral ou o “toca-choro” como lhe chamam vai decorrer nos próximos dois dias. O jipe leva o corpo e a família que lá coube… eu vou a pé com outro membro da equipa! Caminhamos 20 minutos em silêncio! Nunca o silêncio foi tão confortável e apazigua-dor! Pelo caminho ouvem-se gritos de desespero, emo-ções sem filtro, toda a comu-nidade corre para consolar a família. À chegada resta-nos dizer “fizemos o que pude-mos”…
A viagem para casa é também uma reflexão sobre a nossa insuficiência, passamos a vida a acreditar em super heróis, habituámo--nos a esperar que ao último minuto a princesa seja salva e o dragão morto… mas a realidade é outra! A vida é outra… é dura. Não há efeitos especiais, não há de-senlaces de última hora. Não
há heróis. A vida é dura e nós somos moles… molinhos, fazemos o nosso melhor, esforçamo-nos, lutamos, estudamos… mas a nossa insuficiência é avassaladora! Saber isto, ter consciência da nossa “moleza” ou da nossa consistência pode, por um lado, tornar-se libertador… é bom saber que não contro-lamos tudo, que nem tudo depende do nosso esforço! A humildade aproxima-se de formas estranhas…
bIANcA bRANcO(TeXTO e FOTOgRaFias)
A VIDA é texto escrito e publicado no blog
MOLE
DURAPARA qUEM éConsCiente, orientada e Colaborante
http://conscienteorientadaecolaborante.blogspot.com
durante uma estadia na guiné no âmbito de uma missão de voluntariado da ami

4 1 d e s u m b i g a
esTÓRias CLÍNiCas

4 2 d e s u m b i g a
esTÓRias CLÍNiCas
A doença. A doença que suspeitamos não ter, mas está lá, as dores de uma artrite ganha por pesos e pesos levantados, voluntariamente, quando o Mundo se vira e diz “descansa!”
Não descansas, e ainda insistes, numa fulgura que só te agrava o manejo das articulações, do-ridas e cansadas de suportar tudo o que os ombros já deixaram escorrer para as outras divisões corporais.
A solidão do gesto diário, repetido até mais não por uma força que não sabes de onde vem, mas que a vivacidade da persistência teima em não te deixar parar.
Mas parar tem de ser. Ou a doença não pára, não regride, progride até te imobilizar, até consumir cada célula permeável a cada dor nem sempre física mas sempre mordaz, sempre à espreita de uma insignifi-cante brecha por onde possa entrar.
E é um caminho sem retorno.Metáforas do que se sente? Talvez. Mas metaforicamente falando, a doença é uma puta que não nos
deixa viver, que se impregna ao mais íntimo do sentir que queres ignorar e que te surge à frente como paredes em construção de uma casa que nunca será habitada.
Mas essa era a casa que queria. Que deveríamos ter. Se é nossa por direito, porque não pudemos lá morar?
Metáforas à parte, a vida é uma grande merda.E para esta frase, não há eufemismo que lhe valha.
(São só palavras. Nada mais do que isso. Palavras!)
DANIElA AlVEs
DOENÇA

4 3 d e s u m b i g a
I.
Porque há Medicina e há Cirurgia. Não custa distingui-los. Os médicos referem-se à Cama Seis. Os cirurgi-
ões, por seu lado, referem-se a algo mais concreto. A Tiróide, a Supra ou o Feo. É tão estranho, por isso, chegar a Pediatria e falar-se no Ruben, na Sara e no Bebé Borges.
Dois cirurgiões comentam o plano para o bloco operatório da semana. “Tenho uma tiróide para preencher a vaga que so-bra de amanhã, vou telefonar para que seja internada hoje. Amanhã são três tiróides e uma para.” Durante o telefonema, a cirurgiã não esquece a simpa-tia. “Tinha aí uma tiróide que me disse que estava disponí-vel, vê lá se lhe telefonas a avisar.” Regressando de novo
à aula, procuramos focar-lhe a atenção no caso que vimos. Por momentos, não se fala apenas do órgão. “Essa mulher é doi-da, completamente passada!”
II.
Veio à sua consulta, o senhor J. De olhar simpático e postura composta, conta pausadamente das
dores que mantém, dos dias que vive só em casa. Usa pa-lavras aprumadas, cuidadosa-mente colocadas nas frases, de caligrafia bonita e em velocida-de de cruzeiro. Um embalo. Porque o senhor J. esteve na guerra do Ultramar. Viveu muito lá, traz outras mazelas e agora é para isto que a vida o reservou, depois de tanta vida
naquela guerra. Não é o pri-meiro que traz a sua história de África, trazem-na todos, cicatrizada nas palavras ao doutor, o que trata as dores dos velhos.
O senhor fuma? Não senhor. Com o compasso vagaroso, continua. Nunca fumei, nunca me emborrachei e nunca recorri aos serviços pagos de uma senhora. Sou, portanto, aos olhos do típico homem português, um mari-quinhas.
III.
De manhã, recebi o sorriso de sempre quando me viu, apertou a minha mão com um pou-
co mais de força quando tive de sair, quis-me mais tem-po com ela. E agora, outra, aperta-me de novo a mesma mão, mas não me quer ali.
Chamou pelo doutor, que eu não lhe bastaria. Não me olhava, afastava o meu braço com a força que lhe restava e que ainda surpreendia por ser suficiente para nos enfrentar. Não me quis dizer como a poderia ajudar e não a quis
magoar mais, a sua intolerân-cia pela minha presença não ia acabar bem. Chamei quem mais autoridade tem para resolver a situação. Quis ajudar enquanto lhe tiravam o sangue que era preciso. Dei-lhe a mão, para que não fosse estragar o trabalho e magoar-se e para que soubesse que alguém ali estava. Geralmente, sossega. E apertou-me a mão, com as unhas cravadas na minha car-ne, para que doesse, para que desistisse, para que a abando-nasse. Não o fiz. Abracei mais a mão, para que as unhas não conseguissem encontrar de novo caminho para a minha carne, e fingi que a marca que me ficou na pele não fora propositada. Porque, apesar de tudo, não deixamos de ajudar.
IV.
O guia e o guiado. Quem queres ser?
Ele cheirava de-masiado a tabaco. Os olhos caídos
recusavam-se a fechar e pas-seava por ali. Viu-nos e pediu licença, na sua voz de mete-diço natural da idade, para fazer um telefonema. O pijama prendia-o ao serviço e a espera que aguardávamos permitiu a cedência. Ficou muito grato e aproveitou para dar motivo às palavras que insistiam em sair de si.
Ele tem um projecto. Vai encher o mealheiro que tem em casa, aquele que lhe chega até ao ombro, e vai-nos ofere-cer uma sapateira. Vai poupar para comprar uma casa. Vai trabalhar, ser bom estudante, muito bom estudante. Fala--nos dos amigos que lhe vão arranjar umas falcatruas para poder recomeçar a sua vida. E explica-nos um pouco da vida.
Porque há quem guia e quem é guiado. Quem queres ser? É fácil ser guiado, é só seguir, mas ser guia é melhor. O guia encontra obstáculos, mas tem os seus guiados. E consegue.
Ele falou. Muito. Por vezes nem esperava que alguém o ouvisse. Está atento, apesar de tudo, e sabe o número exac-to de dias que aqui está. Em breve, ficará melhor e poderá sair. Tem um mealheiro à sua espera.
ANA tEREsA pRAtA [email protected]
mIN
A A
Ng
UElO
VA -
O d
eseJ
ad
O @
ww
w.m
iNa
Ng
ueL
OVa
.bLO
gsP
OT
.CO
m
esTÓRias CLÍNiCas
ESTÓRIAS

4 4 d e s u m b i g a

4 5 d e s u m b i g a
PeRegRiNaÇÃO
imPRessões dO LOuVRe
mA
URIc
IO p
EzO
cO
RNEl
IA p
ARk
ER

4 6 d e s u m b i g a
PeRegRiNaÇÃO
IMPRESSÕES DO LOUVRE
Não se deve visitar o Louvre como um museu normal. Habitualmente, a grande preocupa-ção que temos ao ver
uma exposição é a de saber que deitámos um olhar a todas as peças. Mesmo que só por um segundo. O Louvre ajuda-nos a destruir esse nosso estúpido hábito. Porque ali percebemos rapidamente ser impossível ver muito mais que meia colecção num dia inteiro de visita. Claro que podemos correr e passar por todas as galerias tentando bater o record de 9 minutos e 43 segundos estabelecido no filme Bande à part de Jean-Luc Go-dard. Mas provavelmente sería-mos expulsos pelos seguranças antes de terminar o périplo. Por isso, caso queiramos acabar a visita, é mais seguro optar pela conservadora marcha-a-passo--de-ver-museus.
Sexta-feira à noite é a melhor altura para a visi-ta. O ambiente nocturno e a pouca afluência de gente tornam o museu
íntimo. Sexta-feira à noite vai-se fazer companhia às estátuas soli-tárias ou às telas que precisam de alguma atenção. O Louvre torna-se um pequeno país que resume a história de todos os outros países do mundo através das obras de arte que o povoam. Há uma espé-
cie de ecossistema que se revela. Podemos ficar por lá, em salas majestosas, acreditando que são a nossa casa, subitamente decorada por obras primas do renascimento italiano ou antiguidades gregas.
A simetria arquitectónica do edifício contras-ta com a distribuição irregular dos visitantes pelas galerias. O museu
divide-se em três grandes zonas: Denon e Richelieu, laterais, e Sully, central. Na ala Denon, encontra-se o epicentro do frenesim turístico, desenhando uma meia-lua de segurança à volta da Mona Lisa. Aí,
o acontecimento é o público em si mesmo. As pessoas, vivas, falando e agindo, serão sempre mais in-teressantes que qualquer objecto. Mas do outro lado, em Richelieu, vamos encontrar, ao mesmo tem-
po, as colecções mesopotâmicas num sossego místico. E assim, involuntariamente, o museu faz ainda pensar sobre a própria construção da História, da Cultu-ra e seus mitos.
É preciso ir várias vezes ao Louvre, como se ele se tratasse de uma pessoa muito inte-ressante com quem
gostássemos de conversar. Uma ou duas salas por visita, é o ideal. Olhar bem para os quadros que estão nas filas de cima também. Tirar notas sobre os artistas. Consultar a internet no telemóvel inteligente e ler no imediato sobre as correntes ou sobre aquela obra em particular.
E assim, aos poucos vamos cons-truindo o nosso museu mental. A quem saiba o Louvre de cor pouco mais se pode exigir.
bERNARDO mOURA(TeXTO e FOTOgRaFias)


4 8 d e s u m b i g a
- Contacta o des1biga através do email: [email protected] para agendar a entre-
ga do trabalho ou para mais informações.
- Não existem restrições relativamente ao tipo de meio artístico utilizado; trabalhos
com cariz ofensivo ou que não se relacionem com os temas não serão aceites.
- A impressão do trabalho fica à responsabilidade do autor
- O trabalho deve ser acompanhado de título e pequeno texto explicativo, se desejado.
- O des1biga não se responsabiliza por danos causados aos trabalhos no decurso da
exposição.
CICLO DE EXPOSIÇÕES NO EDIFÍCIO EGAS MONIZJANEIRO - JULHO 2011
PORQUE SABEMOS QUE EXISTEM ARTISTAS
ANÓNIMOS NA FML...
FOTOGRAFA
PINTA
DESENHAdesumbiga
participa!