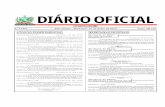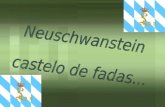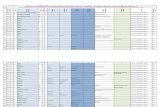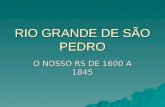1845-4187-2-PB
-
Upload
juscelino-p -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of 1845-4187-2-PB

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 1/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1
Jornalismo científico e a divulgação da pesquisa histórica
Alice Mitika Koshiyama 1
Resumo O texto avalia o jornalismo científico como um meio de divulgação científica da histó-ria. O jornalismo científico sobre pesquisa histórica exige conhecimento de ciências humanas eo domínio da comunicação jornalística para que se construa a mediação entre especialistas e osleitores. Especialistas como L. Figueiredo (2010) problematizam as questões ligadas a essecampo de atividades, mostrando disputas entre jornalistas e historiadores e permitem refletirsobre práticas de publicações como a RHBN (Revista de História da Biblioteca Nacional), revis-ta FAPESP, site Café Historia. Demonstra que tanto jornalistas informados quanto historiadoresprofissionais podem contribuir para desfazer lendas e mitos da história. Mostra o trabalho de jornalistas como divulgadores de pesquisa sobre o passado, na condição de escritores de livros,e enquanto autores de resenhas sobre obras com temáticas históricas.
Palavras-chave: jornalismo; jornalismo científico; divulgação científica da história; jornalistase historiadores.
1. Possibilidades da divulgação científica da história
O nosso trabalho com pesquisa e ensino de história nos cursos de jornalismo incentivou-
nos ao estudo da divulgação jornalística e científica dessa disciplina. Nessas condições,vivenciamos as questões que atingem este campo de trabalho que mobiliza historiadores
profissionais e jornalistas em tensão. Em princípio, cada grupo defende um modo de
apresentar os conhecimentos organizados em um discurso específico. Há os que preten-
dem fazer ciência e falam em jargão a seus pares e outros que buscam divulgar o que
acreditam ser de interessante para um público mais amplo de um tema. E há os que pro-
1
Docente da Universidade de São Paulo (ECA-USP), na graduação em Jornalismo e orientadora doPPGCOM Ciências da Comunicação. Coordenadora do grupo de pesquisa Jornalismo e a Construção daCidadania (CNPq). .Pesquisa comunicação, história, cidadania, feminismo, ensino de jornalismo.

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 2/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2
curam com os princípios do jornalismo científico mostrar a contribuição da pesquisa
histórica em uma narrativa interessantes para leitores não especialistas do tema relatado.
Mas será realmente desejo de historiadores profissionais serem lidos e debatidos por um
publico de não especialistas do seu tema de pesquisa? Parte deles despreza a idéia de
ampliar a audiência por temer a vulgarização e a deturpação dos dados de suas pesqui-
sas. Porém hhá os que concordam com Luciano Figueiredo, o então editor da Revista de
História da Biblioteca Nacional (RHBN), para quem a divulgação científica na perspec-
tiva do pesquisador é uma forma de buscar novos públicos.
“Trata-se da apresentação de conhecimento acadêmico, acompanhada por es-pecialistas da área, sob novas formas e suportes para um público ampliado.Sob esse recorte a experiência de uma revista de História como a nossa, des-tinada ao grande público, e algumas outras iniciativas recentes de difusão(exposições, sites, programas de rádio) feitas a partir da iniciativa da acade-mia representam ainda muito pouco do que devemos e podemos – cientistassociais - fazer.” (Figueiredo, 2010)
Entendemos que a ampliação do público acaba atingindo principalmente os interessados
em história, principalmente estudantes e docentes da área, que se valem do material para
atualização de informação e formação de um acervo de textos didático para uso imedia-
to. Acreditamos que jornalistas e historiadores podem trabalhar, na perspectiva de Luci-
ano Figueiredo, na divulgação científica da história. E que jornalistas e historiadores
ocupam na comunicação de massas posições dialógicas. Tudo depende de como os pro-
fissionais concebem os seus campos de atividades. Existe um nível de exatidão e de
verdade para jornalistas e historiadores quando informam sobre o que aconteceu e esta-
belecem interpretações para o acontecido. Consideramos a possibilidade de que ambos
os profissionais podem trabalhar para divulgar o conhecimento das questões do campo
da história.
2.História: verdades e mitos
Comecemos com um exercício de leitura de uma obra traduzida, de famoso jornalista
polonês, Rudyard Kapuscinski, O Xá dos Xás (Companhia das Letras, 2012). Trata-se
de narrativa sobre os últimos dias do Xá Reza Pahlevi e os primeiros dias da Revolução
Iraniana de 1979, que alçou ao poder o Aiatolá Khomeini.

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 3/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3
Duas das resenhas publicadas sobre o Xá dos Xás desqualificam o trabalho, lançado
originalmente em 1983, enquanto produção de pesquisa científica em história, e até
mesmo jornalística. Luciano Trigo aponta imprecisões documentais em um “relato su-
postamente jornalístico” (2012) e J. B. Natali (2012) aborda as interpretações subjetivas
como a visão de um Khomeini defensor dos oprimidos, no afã de denunciar o autorita-
rismo do regime do xá. Os dois resenhadoes tiveram o cuidado de mostrar a ausência do
contexto histórico, econômico e geopolítico da história do Irã, e o cultivo de uma visão
ficcional em alguns trechos na narração de fatos jornalísticos e históricos. Conforme
lembra Trigo: “A distinção entre verdade e mentira pode não existir na literatura, mas
no jornalismo existe e, sim, é importante, o que diz respeito à própria ética da profis-
são.” Lembramos de que se trata também de uma distinção válida para o trabalho do
historiador, para uma correta escrita da história.
2.1 – Verdades histórica e jornalística: impedimentos
Mas se existe o cânone da verdade jornalística e/ou histórica, ele é limitado pelas condi-
ções e operações da cultura dominante. Por exemplo, a história oficial da República,
desde a proclamação da República, passando pelos ditadores Getúlio Vargas no EstadoNovo ao general Castelo Branco, na ditadura implantada em 1964, definiu Tiradentes
como o mártir da Independência (Vitorino, 2010). Se ensinam nas escolas elementares
esses fatos. e o jornalismo acrítico propagava essa versão oficial da história, a definida
pelo discurso do poder político.
Atualmente ainda temos a presença dessa perspectiva sobre Tiradentes, mas já é possí-
vel recorrer ao trabalho de pesquisadores da história, como José Murilo de Carvalho, em
cuja obra A Formação das Almas (1990) encontra-se uma interpretação de como foiconstruído o mito de Tiradentes, símbolo da República no Brasil.
E um comentarista da rádio CBN questionou o mito oficial, em 21 de abril de 2010 ao
afirmar que Tiradentes foi um pobre alferes, que lutou e morreu na Inconfidência Minei-
ra, pelo direito da burguesia da Colônia pagar menos impostos ao colonizador português
(JABOR, A., 2010) Mas, em jornalismo, o comentário é um gênero opinativo, em que
se permite externar visões subjetivas sobre os temas tratados pelo autor.
3. Jornalistas e a divulgação da história

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 4/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4
Comprovamos que tanto jornalistas quanto historiadores podem construir ou questionarlendas, mitos ou interpretações sobre a história.
Da relação dos jornalistas com o trabalho em pesquisa da história, Luciano Figueiredo
extraiu algumas observações, nem sempre generalizáveis, na medida em que temos au-
tores que transitam bem no jornalismo e na pesquisa científica em história.
“É uma convivência carregada de tensões, mas necessária. Ela se desdobraem situações as mais diversas e aqui tratarei apenas do jornalismo autoral eimpresso. Jornalistas habitualmente escrevem sobre história para o público
não-especializado, embalados por um aguçado senso de oportunidade e gostopor episódios e personagens do passado.”Publicam sem o fardo do respeito aos pressupostos teóricos e metodológicosda disciplina, apesar de freqüentarem os arquivos e bibliotecas e muitas vezespercorrerem a bibliografia sobre o tema.A história aparece narrada como ficção sem qualquer compromisso com abusca de compreensão das dinâmicas desta ou daquela época.”“Às vezes agradam o público – como acontece com Eduardo Bueno e Lau-rentino Gomes – e raro são os que não ferem princípios que os historiadores
julgamos importantes: elegem nuances que nem sempre tem qualquer repre-sentatividade, apelam ao pitoresco, além de cometerem anacronismos. “É evidente que jornalistas não têm obrigação de dominar todos os métodos doofício de historiador e o passado tampouco é exclusividade deste último.
Mas vale que conheçam algumas questões elementares da disciplina. Damesma forma os historiadores podem se beneficiar na troca. “ (Figueiredo,2010).
O arrazoado estabelece uma possível hierarquia propondo maior rigor teórico e metodo-
lógico do pesquisador em história em relação aos jornalistas. No entanto, pensamos que
são instâncias diferentes de trabalho.
Jornalistas que escrevem sobre história, a partir dos cânones do jornalismo, são pessoas
que com seu trabalho contribuem para a ampliação da informação histórica da popula-
ção. Lembramos que no início da nossa escolarização desenvolvemos o gosto pelo ler e
ouvir narrativas, sem a preocupação em desvendar se eram ou não verdades resultantes
do ofício de historiador. Depois pudemos compreender o que eram mitos, ideologias,
preconceitos, verdades e mentiras em relação a um padrão de conhecimento construído.
Notamos que jornalistas competentes passaram a produzir livros que divulgam a nossa
história para um público que, seguramente não leria obras eruditas de início, mesmo que
tenha uma formação cultural que permita esse passo, talvez pela barreira da escrita aca-
dêmica. São jornalistas divulgadores de pesquisas históricas que constroem narrativas

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 5/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5
acessíveis a leitores não especializados nos temas, e se apóiam em leituras de obras dis-
poníveis, inclusive pesquisas científicas, sobre temas escolhidos.
Um exemplo é o premiado autor de best-sellers Laurentino Gomes com seus estudos:
1808, publicado em 2007 e 1822, publicado em 2010, duas obras que o transformaram
em escritor profissional, um narrador reportando obras de historiadores. Laurentino
Gomes foi arguido por um grupo de jornalista e historiadores em entrevista ao programa
Roda Viva, da TV Cultura, em 26 de dezembro de 2011, integralmente postado no you-
tube.
Gomes não se pretende ser historiador. Diz: “Não deixei de ser jornalista, e a essência
do trabalho que faço é jornalístico, eu faço reportagem.” Mas ele não trabalha mais na
profissão de jornalista ao deixar a editora Abril, empresa em que se destacou em fun-
ções editoriais e executivas. Agora faz projetos de escrever livros sobre a história do
Brasil e o próximo em elaboração é sobre 1889. Destaca que os historiadores Jean Mar-
cel Carvalho Franco, Elias Saliba, José Murilo de Carvalho receberam positivamente
seu trabalho. Mas aconteceram reparos de historiadores, por ele mesmo revelada como
Cecília Helena Salles de Oliveira que fez forte avaliação negativa ao texto da obra 1822,publicado pela Ed. Nova Fronteira.
“ O livro 1822 desconsidera investigações e questionamentos que há mais de30 anos vêm sendo desenvolvidos e divulgados por centenas de pesquisado-res brasileiros e portugueses sobre o tema da Independência, dos quais resul-taram não só profunda ampliação dos conhecimentos sobre a época como asuperação de interpretações correntes.” (Oliveira, 2010)
A critica de Salles de Oliveira avalia as obras de Laurentino Gomes como se ele fosse
um pesquisador científico da história do Brasil, e não um jornalista que reporta sobre a
história como um acervo de informações postadas em textos para entreter seus leitores e
ouvintes, já que os livros aparecem em edições sonoras e em publicações de livros digi-
tais.
Um outro autor, jornalista Ruy Castro, escreveu várias obras sobre personagens e temas
da história do Brasil dos anos cinquenta do século passado em diante a épocas mais re-
centes. Um dos seus textos mais bem elaborados é a biografia de Nelson Rodrigues,
jornalista e teatrólogo, pesquisador. No prefácio da obra O Anjo Pornográfico – a vida

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 6/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6
de Nelson Rodrigues – (São Paulo, Companhia das Letras, 1993) destaca que é jornalis-
ta e não pretende construir interpretações como se fosse historiador. Através de suas
leituras e pesquisas e dos depoimentos dos entrevistados constrói os vínculos entre a
cultura, o jornalismo e o teatro e o quotidiano vivido pelo personagem biografado. Ruy
Castro realizou entrevistas com 125 pessoas que conheceram Nelson Rodrigues e sua
família. Elas o ajudaram a narrar a vida de Nelson Rodrigues (1912-1980) com episó-
dios semelhantes a alguns dos enredos de suas peças de teatro e de seus textos ficcio-
nais.
1.1.
Jornalismo e divulgação da história
Mas como incorporar a história na vida quotidiana para além do mito, da lenda e da
ideologia? Achamos que, inicialmente (e estamos no início) é preciso oferecer informa-
ção e formação acessível para toda a população, em diversos meios e linguagens. E por
isso é um procedimento questionável pedir a jornalistas e historiadores que escrevam
textos apenas quando trazem informações e interpretações de pesquisas inéditas para
conhecimento de um tema seja independência do Brasil ou a vida de Nelson Rodrigues.
No ensino universitário, em disciplinas específicas de história, podemos apresentar es-tudos que mostrem pesquisas científicas e com informações e interpretações que ofere-
çam contrapontos a mitos, lendas e ideologias correntes. Obras sobre teoria e metodolo-
gia de pesquisa ajudam a compreender os processos usados pelos historiadores para
elaborar seus estudos.
Em temas da história do tempo presente, como o da ditadura no Brasil, cujas memórias
ainda estão sendo reunidas e com histórias que precisam ser escritas, a questão das teo-
rias e métodos de trabalho é mais perceptível. Porque existem os que desejam ocultarfatos ou impor suas versões como as únicas possíveis de serem assumidas como históri-
cas. Em 31 de março deste ano, o historiador Daniel Aarão Reis Filho publicou um tex-
to em O Globo em que fazia uma reflexão sobre o uso da expressão “ditadura militar de
64”, se o regime resultou de um processo histórico civil e militar. O texto era uma inter-
rogação para todos os leitores do Caderno Verso e Prosa, estimulava o exame do uso da
expressão no quotidiano e suas significação para o passado recente, avaliava o signifi-
cado de responsabilizar apenas os militares por tudo que aconteceu. Algumas pessoas,que se identificaram como historiadores, enviaram comentários ao jornal, falando da

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 7/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7
inutilidade de se publicar um texto ultrapassado que não considerava as pesquisas mais
avançadas sobre o tema que esclareciam a questão da participação civil no processo. E
nós refletimos sobre o uso da história pelos diferentes setores da sociedade e avaliamos
se o argumento acadêmico de que a informação não é de uma pesquisa inédita ou de
novas descobertas sobre o tema pode encobrir simplesmente o desejo de não falar sobre
fatos que colidem com nossas crenças sobre o passado. Mas pode também sinalizar um
desprezo de historiadores profissionais pela divulgação da história que não seja entre
especialistas, mostrando despreocupação com o que chamamos de educação histórica da
população, na condição de leitores e cidadãos.
4. Divulgação científica e a narrativa da história
Conforme constatamos temos a divulgação científica da história como um trabalho para
historiadores e jornalistas, temos a história nas pautas do jornalismo e a veiculação das
informações sobre historia em diversos meios impressos, audiovisuais, eletrônicos e
digitais e multimídias.
Como disciplina acadêmica a escrita da história segue alguns princípios. Conforme des-tacou o historiador E. H. Carr (1996 ) o historiador seleciona e interpreta dados de do-
cumentos para responder a hipóteses de pesquisa investigadas e construir suas narrati-
vas. Carr reconhecia aos historiadores o direito de ter valores e crenças, inclusive as
religiosas. Inaceitável é o uso deles para validar uma interpretação da história, pois isso
contraria a metodologia científica (CARR, pp. 91-120).
Mas, como saber se uma pesquisa histórica é uma narrativa resultante de um trabalho
decorrente do uso de metodologia científica? Uma forma de avaliar pesquisas é a partirde parâmetros concretos,. Por exemplo, realizar um exame sobre o que Michel de Certe-
au definiu como “ operação historiográfica” (1982, pp.56-106).
Podemos então estabelecer a divisão entre o trabalho de pesquisadores com narrativa em
escrita da história construída a partir de uma teoria da história e de uma metodologia de
trabalho com questões para investigar, hipóteses de pesquisa, e novos conhecimentos
demonstrados a partir da interpretação de documentos revelados e/ou organizados por
eles.

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 8/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8
4.1. Uma pesquisa e sua divulgação cientifica
Vejamos um caso que podemos acompanhar pela leitura do texto da pesquisa publicado
em livro e pela entrevista-divulgação científica que o autor concede ao site Café história
sobre o seu processo de pesquisa. Trata-se do trabalho de Fabio Koifman (QUIXOTE
NAS TREVAS o embaixador Souza Dantas e os refugiados do nazismo. Rio de Janeiro:
Record, 2002).
A questão central de sua pesquisa é sobre a imigração de judeus para o Brasil, após a
data de proibição da sua entrada no país, durante o governo de Getúlio Vargas no Esta-
do Novo. Como aconteceu tal fato? Como conseguiram e quantas eram as pessoas? O
autor enfrentou o desafio de confrontar o conhecimento empírico pessoal com a busca
de provas documentais, que precisaram ser coletadas e processadas. Koifman explica
sua metodologia de trabalho nessa pesquisa em uma entrevista dada a colegas em “O
historiador, o embaixador e outras histórias de 3 de abril de
20http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/arquivo-conversa-cappuccino-10 )
4.1.1. A escolha do tema
A idéia (...). Uma antropóloga que trabalhou em um projeto que recolhia de-poimentos de sobreviventes do Holocausto para a Fundação Shoah, KátiaLerner, me contou que um dos depoentes mencionou o nome do Souza Dan-tas sem maiores detalhes, uma vez que era ainda criança na época em que suafamília recebeu os vistos do embaixador. A pesquisa começou com apenasum nome. Durou mais de três anos, produziu um acervo de cerca de sete mile quinhentas cópias de documentos, cinqüenta entrevistas e culminou com oreconhecimento do Souza Dantas por parte do Museu do Holocausto em Je-rusalém, o Yad Vashem, como um dos “Justos entre as Nações” a partir doencaminhamento que fiz ao museu das evidências que obtive.(Koifman, 2011)
4.1.2._Coleta e organização dos documentosComo disse na resposta anterior, a pesquisa produziu um volume muito gran-de de dados de diferentes proveniências, em especial, de arquivos públicosbrasileiros. (...) Para poder redigir a dissertação (que foi transformada em li-vro) a partir desse volume de dados, por nove meses eu fiquei praticamentetrancado em um quarto (...) O quarto tornou-se uma “floresta de papéis”. Fizinúmeras pilhas, organizadas cronologicamente e por tema. Como o arquivo
já era todo sistematizado (carimbos com números nos versos das cópias e es-sas organizadas por temas) depois foi relativamente simples guardar tudo nolugar. Concluída a parte da documentação os depoimentos foram inseridos,assim como as demais informações. (Koifman, 2011)
4.1.3_Pesquisa de fontes e construção de arquivos

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 9/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9
O grande problema é que o Souza Dantas nunca teve um arquivo pessoal e
nem ele nem ninguém fizeram registro dos atos humanitários praticados. Par-te da pesquisa foi levantar tudo que dizia respeito ao embaixador e os atos re-lacionados à ajuda humanitária.Faltava ainda identificar os salvos, afinal, se o embaixador salvou persegui-dos do nazismo, quais os nomes dessas pessoas?Depois de buscas públicas que se revelaram muito limitadas, passei a estu-dar todas as listas de passageiros de navios chegados da Europa no períodode 1940 e início de 1942.A partir das listas preparei novas listas contendo milhares de nomes de pro-váveis portadores de vistos concedidos pelo embaixador. E fui verificando adocumentação individual de um por um desses nomes. Quando cheguei a ci-fra de 475 dei a busca por encerrada. (Koifman, 2011)
4. 1. 4. Continuidade pós-pesquisa
Mas até hoje surgem novos nomes. Há duas semanas, uma norte-americaname encontrou pela internet e pediu que a ajudasse a conhecer a respeito da sa-ída do avô da Europa em 1941. Pesquisando o assunto para ela, descobri sur-preso que o visto havia sido concedido por um cônsul brasileiro, mas que as-sinalou no passaporte que estava fazendo a concessão em razão de uma or-dem telegráfica que recebeu do Souza Dantas. Como não há qualquer registrode autorização emitida pelo governo brasileiro na correspondência, trata-sede mais um dos ajudados pelo embaixador. Hoje a lista passou dos 500 no-mes. (Koifman, 2011)
A atenta leitura do texto sobre a pesquisa desenvolvida por Koifman mostra como um
historiador pode atuar. A entrevista dele sobre o seu trabalho é uma divulgação do mé-
todo científico em história e fala a historiadores e a um público mais amplo, principal-
mente quando ele revela o alcance prático da ciência histórica aplicada para a descober-
ta de fatos da vida de pessoas sobreviventes do Holocausto.
5. Divulgação científica da história entre cientistas
O jornalismo científico tem mostrado que a história segue os cânones das práticas cien-tíficas, quando especialistas em divulgação da ciência mostram pesquisas científicas de
historiadores. Atualmente é possível divulgar usando os recursos da tecnologia dos
meios impressos, sonoros e audiovisuais. Um mesmo trabalho pode ter abordagens mais
adequadas a cada meio de comunicação, conforme vimos na experiência dos trabalhos
em revista impressa e em vídeo veiculado pelo youtube (ver: Edição impressa Revista
PESQUISA Fapesp e a versão online PESQUISA fapesp:
<http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php> ).

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 10/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10
Na versão online PESQUISA fapesp temos o texto com o titulo DISCURSO
SILENCIOSO. Pesquisadores contam sobre o material decorrente do tráfico de escravos
encontrado nas escavações realizadas na zona portuária do Rio de Janeiro. A reporta-
gem mostra os pesquisadores em campo, mostram os vestígios de uma escavação feita
para obras na cidade. O vídeo mostra em voz e imagem como é a atuação dos pesquisa-
dores na procura e na classificação dos vestígios do passado e como se processa a inter-
pretação do material coletado. E revela aos moradores da cidade do Rio de Janeiro co-
mo eles estavam tão perto dessas amostras de vida, que seriam destruídas para sempre
sem a intervenção dos pesquisadores. A divulgação científica mostra a cidade que foi
sob a cidade atual,com o recurso do vídeo. Dados estão disponíveis no site da revista .
(http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4569&bd=1&pg=1&lg=)
Em PESQUISA fapesp na edição impressa o título é: “Ossos que falam” E informa so-
bre “Escavações na zona portuária do Rio de Janeiro revelam retrato pouco conhecido
da escravidão. A pesquisa sobre vestígios ósseos, com estudos de antropologia, genética
e medicina permite olhar a vida dos escravos para além do modo de produção.”
O texto é assinado por Carlos Haag na edição Impressa 190 de dezembro 2011, númerotambém disponível emhttp://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4569&bd=1&pg=1&lg=
Vejamos um trecho do texto que mostra o trabalho de interpretação transdisciplinar so-
bre o passado da escravidão, em uma verdadeira observação de vestígios:
Os vivos, porém, não tinham grandes chances: só um terço dos pretos novosviveria como escravo mais do que 16 anos.A causa dessas precocidades dos óbitos eram as muitas doenças com queconviviam, como comprovam as pesquisas paleogenéticas de Alena Mayo,do Laboratório de Genética Molecular de Microrganismos da Fiocruz, querastreia, via DNA, as moléstias do Rio colonial. No cemitério de escravos da
praça XV, por exemplo, verificou-se pelas ossadas que 7 em cada 10 cativosestavam infectados com protozoários ou helmintos. “Era resultado da péssi-ma nutrição dos escravos, aliada às condições impróprias de higiene em queviviam”, diz Alena. A descoberta genética comprova vários aspectos do estu-do clássico da historiadora americana Mary Karasch, A vida dos escravos noRio de Janeiro (Companhia das Letras, 2000). Como a afirmação de que “ascondições de vida dos escravos e as doenças matavam mais do que a violên-cia física do cativeiro”
.
A pesquisadora estudou o Cemitério dos Pretos Novos, onde encontrou traços de tuber-
culose, um total de 25% de amostras positivas.

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 11/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11
“As condições desumanas em que eram transportados faziam os escravos
suscetíveis a contrair, já na chegada, a doença, então difundida pela cidade.”Isso também remete à pesquisa documental da americana: “A mortalidadedos africanos recém-chegados ao Valongo não se relacionava apenas às con-dições terríveis dos ‘tumbeiros’. Mesmo sobrevivendo à travessia, no cais e-les enfrentavam um desafio maior: adaptar-se às novas, e péssimas, condi-ções de vida para não sucumbir, de cara, às doenças do Rio”.Uma escavação em particular trouxe revelações importantes. “Ossadas en-contradas na igreja Nossa Senhora do Carmo, no Rio, de sepulturas do séculoXVII, destinadas a pessoas de ascendência europeia, apesar de muito degra-dadas, deram positivo para tuberculose em 7 das 10 costelas analisadas”, a-firma Alena. No local foram também encontradas ossadas de índios e negros.Na comparação dos vestígios, a pesquisadora concluiu não só que a tubercu-lose já grassava na cidade no século XVII, mas que, na medida em que ape-
nas os europeus deram positivo para tuberculose, foram os colonizadores osresponsáveis pela introdução da doença no Rio. “Em estudos que fiz sobrematerial pré-colombiano, encontrei helmintíases intestinais e registros da do-ença de Chagas. Concluímos que eram doenças que não vieram com os euro-peus. No Brasil colonial, ao contrário, evidencia-se o papel de europeus naintrodução e disseminação de doenças epidêmicas como a tuberculose.” Lo-go, os temores das “doenças dos negros” que levaram à criação, exatos 200anos atrás, do Cais do Valongo, seriam infundados. Não há crime perfeitoquando os conhecimentos se reúnem.
O trabalho d revista pesquisa FAPESP, uma publicação de divulgação científica para
pesquisadores de todas as áreas da ciência, contribui para o conhecimento de leitores
sobre áreas que não são as de sua atuação. E tematiza com o texto de Haag, a questão da
divulgação científica para os iniciados, os próprios historiadores. Temos ainda o desafio
sobre as mediações possíveis de serem usadas na interpretação do passado. Mediações
que são construídas pelas diversas áreas de conhecimento, o que possibilita a prática da
transdisciplinariedade. Este é um outro olhar para o tema da divulgação científica o de
ser uma ponte entre as práticas das ciências.
6. Conclusões
Percebemos então a existência de três formas de lidar com fatos passados: a do historia-
dor pesquisador científico, a do jornalismo cientifico parceiro e divulgador da pesquisa
científica e a do jornalista que divulga a história para um público não sem preocupações
acadêmicas em discriminar ou não os mitos e as ideologias nas narrativas que constrói.
Essas divisões servem para nosso olhar sobre textos que as pessoas podem processar.
Pela nossa experiência de leitura e ensino achamos que o contato com alguma forma de
narrativa é sempre positivo para a educação histórica de uma pessoa. Todos os tipos de

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 12/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12
textos podem despertar interesses por temas possíveis de serem depois investigados por
outros meios, caso haja possibilidade e textos para serem pesquisados. Por isso temos o
jornalismo, o jornalismo científico e a pesquisa científica, todos com seus leitores e crí-
ticos.
Referências
CARR, Edward Hallet. Que é história?. Trad. M. L Alverga. Revisão técnica M Y. Linhares.Rio: Paz e Terra, 1996.
CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: o Imaginário da República no Brasil,SP, Companhia das Letras, 1990
CASTRO, Ruy. O Anjo Pornográfico – a vida de Nelson Rodrigues. São Paulo, Companhiadas Letras, 1993.
CERTEAU, Michel de.“ operação historiográfica”, in :A escrita da história, 2ª, ed..Trad.M.LMenezes, revisão técnica A. Vogel, Rio: Forense Universitária, 1982, pp.56-106.
FIGUEIREDO, Luciano, entrevista a A, Ribeiro & M. Amoroso, in revista MOSAICO, edi-ção no. 3, ano II, 6 de julho de 2010 , CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, disponível em
<http://cpdoc.fgv.br/mosaico/?q=entrevista/entrevista-com-luciano-raposo-de-almeida-figueiredo> ,
GOMES, Laurentino. Entrevista dada em Roda Viva, Tv Cultura, em 26 de dezembro de2011.Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=mh8R4m02SWE Ultimo acesso em 2 de agosto de 2012
GOMES, Laurentino. 1808. A Fuga da Família Real para o Brasil, São Paulo: Planeta, 2007
GOMES, Laurentino. 1822. Rio:de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
HAAG, Carlos . <DISCURSO SILENCIOSO> [vídeo] online PesquisaFA-
PESP em 16/01/2011, http://revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=71860&bd=2&pg=1&lg=http://www.youtube.com/watch?v=RQK_8pn0U3E&feature=player_embedded
HAAG, Carlos.: “Ossos que falam” vida dos escravos para além do modo de produção.PESQUISA fapesp, Edição Impressa 190 - Dezembro 2011. Também postada online em:http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4569&bd=1&pg=1&lg=http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4569&bd=1&pg=2&lg=
JABOR, Arnaldo. Tiradentes: por que nossos heróis não são vitoriosos? Disponível emhttp://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2010/04/21/TIRADENTES-POR-QUE-NOSSOS-HEROIS-NAO-SAO-VITORIOSOS.htm ,última consulta em 31/07/12
KAPUSCINSKI, Rudyard.O Xá dos Xás, SãoPaulo: Companhia das Letras, 2012.

7/26/2019 1845-4187-2-PB
http://slidepdf.com/reader/full/1845-4187-2-pb 13/13
SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Curitiba – Pontifcia !ni"ersidade Cat#lica do Paran$ – No"embro de %01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13
KOIFMAN, Fabio. QUIXOTE NAS TREVAS o embaixador Souza Dantas e os refugiados do
nazismo. Rio de Janeiro: Record, 2002.
KOIFMAN, Fábio. “O historiador, o embaixador e outras histórias”, entrevista dada a colegaspesquisadores de histem 3 de abril de 2011, disponível em Café História~http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/arquivo-conversa-cappuccino-10
NATALI, João Batista – (folhapress). O ultimo imperador, in Gazeta do Alagoas, 29 de fev. de2012, disponível em http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=197397 Ultima consulta em 31 de julho de 2012
OLIVEIRA, Cecília Helena Salles de. Sobre 1822, Laurentino Gomes, Revista de História daBiblioteca Nacional. Ano 6, n° 62, novembro de 2010. p. 92.Texto extraído do site ATELIÊ DE HISTÓRIA http://ateliedehistoria.blogspot.com.br/2010/11/resenha-1822.html
REIS, Daniel Aarão. A ditadura civil-militar Caderno Prosa e Verso, O Globo, sábado 31 demarçode 2012. Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/03/31/a-ditadura-civil-militar-438355.asp Ultimo acesso em 31/07/2012
TRIGO, Luciano. | O ‘jornalismo mágico’ de Ryszard Kapuscinski. sáb, 03/03/12. Disponívelem: http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2012/03/03/o-jornalismo-magico-de-ryszard-kapuscinski/#comments , ultimo acesso em 01/007/12,
VITORINO,Artur José Renda A construção histórica do mito Tiradentes, postado quarta-feira,21/04/2010, http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=professores&id=17 nosite história e-história .