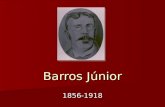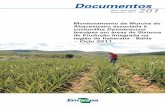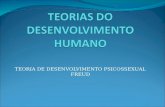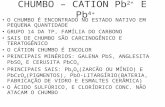1856-4996-1-PB
-
Upload
tomdamatta28 -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 1856-4996-1-PB
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
1/20
11
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
PREMBULO DO ARGUMENTO CONTRA OS AMADORES DEESPETCULOS:REPBLICAV 475E4-477A4
Jos Gabriel Trindade Santos1
Resumo: Contra a abordagem habitual, o objetivo deste texto, focado no prembulo do argumento sobreos amadores de espetculos (Repblica475e4-477a4), no tentar salvar a proposta avanada porPlato, mas, pelo contrrio, revelar algumas inconsistncias que a viciam, apontando o n argumentativoa que o filsofo se obriga a retornar numa poro de dilogos. Pretende-se desse modo mostrar que aateno por ele concedida a dois importantes problemas epistemolgicos pode ter sido motivada pelainteno de corrigir uma falcia cometida no passo em anlise. O primeiro desses o do recurso participao nas Formas para explicar a naturezade uma multiplicidade de indivduos aos quais atribudo um mesmo nome (RepblicaX 596a). O segundo, dominante nos Livros centrais daRepblicae presente em muitos outros dilogos, o das relaes entre epistm e doxa.Palavras-Chave:Plato. Epistemologia. Participao. Saber.Doxa.
Abstract:Concentrating on the preamble of the argument about the "lovers of spectacles(RepublicV475e-477a), against the usual approach, I aim not at "saving" the proposal put forward by Plato but atexploring some inconsistencies that affect it. Highlighting the argumentative knot the philosopher feelscompelled to return to in a number of dialogues I suggest he was trying to fix a fallacy committed inthis argument when he granted continued attention to two major epistemological problems. One is theresort to 'participationin Forms in order to explain the nature of a multitude of individuals to whom acommon name is assigned (RepublicX 596a). The other, dominant in the central books of theRepublicand present in many other dialogues, is how "epistm" and "doxa" may be related.Keywords:Plato. Epistemology. Participation. Knowing. Doxa.
O conhecido argumento sobre os amadores de espetculos continua ainda hoje a
suscitar controvrsia entre os comentadores, como mostram algumas publicaes recentes (C.
Arajo, 2014, 107-138; F. Fronterotta, 2014, 37-80; F. Ferrari 2014, 15-35; V. de Harven, 2015,
online). Contra a abordagem habitual, o meu objetivo com este texto, focado no prembulo do
argumento (475e4-477a4), no tentar salvar a proposta avanada por Plato, mas, pelo
contrrio, revelar algumas inconsistncias que a viciam, apontando o n argumentativo a que o
filsofo se obriga a retornar numa poro de dilogos2. Quero desse modo mostrar que pode ter
1Jos Gabriel Trindade Santos possui graduao em Filosofia pela Universidade de Lisboa (1974), mestrado emFilosofia pela Universidade Nova de Lisboa (1984), doutorado em Filosofia (1989) e agregao (2000) pelaUniversidade de Lisboa. professor catedrtico aposentado desta Universidade e colaborador permanente doPrograma de Ps-graduao em Filosofia da Universidade Federal da Paraba, atualmente exercendo funes como
professor visitante na Universidade Federal do Cear. Tem experincia na rea de Letras, com nfase em FilosofiaGrega Antiga, pesquisando e publicando principalmente nos seguintes temas: Epistemologia, Filosofia daLinguagem e Metafsica. autor e organizador de mais de duas dezenas de livros, entre tradues, comentrios eobras originais, e mais de uma centena de artigos e captulos de livros, publicados em diversos pases da Europa e
das Amricas. Este texto desenvolve uma comunicao apresentada no II Colquio de Filosofia Antiga, organizadopelo Programa de Ps-graduao em Filosofia da Universidade Federal do Cear (E-mail:[email protected]).2A maioria dos comentadores opta pela posio oposta. Destaco: C. Arajo, cuja anlise amplamente contextualizao argumento na problemtica da Repblica (2014, 107-138), considerando-o no apenas vlido, mas
mailto:[email protected]:[email protected] -
7/26/2019 1856-4996-1-PB
2/20
12
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
sido motivada pela inteno de corrigir uma falcia cometida no passo em anlise a ateno por
ele concedida a dois importantes problemas epistemolgicos. O primeiro o do recurso
participao nas Formas para explicar a natureza de uma multiplicidade de indivduos aos
quais atribudo um mesmo nome (RepblicaX 596a). O segundo, dominante nos Livros
centrais da Repblicae presente em muitos outros dilogos, o das relaes entre saber e
doxa3.
I
O ARGUMENTO
1. Depois de algumas consideraes relativas relao entre Formas contrrias, Scrates
estipula que cada uma delas:
em si uma, mas, por se apresentar aos olhos (phantadzomena) por todo ladomisturada com aes, corpos e outras [Formas], cada uma aparece(phainesthai) muitas (476a6-9; adiante, E1).
A simplicidade com que a tese apresentada mascara a abrangncia do contextoontoepistemolgico4em que se acha inserida, bem como a diversidade de problemas lgicos
que suscita. A mensagem explcita no passo (475d ss.) a de que a viso e o acolhimento
(adiante: idein te kai aspadzontai: 476b7-8) concedidos natureza unitria de cada Forma deve
se impor diversidade das circunstncias em que esta se apresenta aos olhos. Plato confronta
as anlises das prticas cognitivas de amadores de espetculos e filsofos para exemplificar
as contrastantes modalidades cognitivas pelos quais as Formas so captadas. O seu objetivo
mostrar que s atendendo quilo que so se pode compreender o modo como aparecem.
Os amadores de espetculos so contrapostos aos verdadeiros filsofos com a
alegao de que, ao contrrio daqueles, que se deixam prender por olhos e ouvidos, estes amam
contemplar a verdade (475e5). Por exemplo, enquanto os outros amam as belas vozes, cores e
rigorosamente dialtico (132); e F. Gonzalez (2014, 81 -105), que o considera notavelmente claro e semambiguidade (81).3 Em bom nmero de passos, traduzo gnsis (adiante epistm) por saber ou por conhecimento, semestabelecer distino entre uma e outra opo, o mesmo valendo para os verbos gignsk e epist amai. A opo
por saber tenta evitar a confuso das concepes platnicas sobre o conhecimento com as atuais. Traduzo
doxa por crena ou opinio e doxadz por opinar (J. T. Santos, 2005, 55-57, 121-123).4Embora Plato adiante defenda que a natureza do contedo captado relativo ao exerccio e resultado damodalidade cognitiva utilizada, o locus classicus da dualidade ontoepistemolgica : Timeu 27d-28a. Para umaabordagem do argumento estudado nesta perspectiva, ver F. Fronterotta, 2014, 37-80.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
3/20
13
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
figuras que ouvem e vem, mas so incapazes de amar e acolher a natureza do belo (476b), os
filsofos so os raros capazes de chegar ao prprio belo e de o contemplar em si (476b10-
c1).
Tanto a estipulao, quanto a contraposio que nela se apoia, dominam todo o
argumento. De acordo com ele, o erro dos amadores de espetculos reside na sua
incapacidade de se elevarem acima da diversidade daquilo que captam pelos sentidos, no
podendo compreender que s a unidade de cada Forma aquilo que ela em si pode
explicar como, misturada, aparece muitas. o que, na sequncia, o texto esclarecer:
Texto 1Scrates Aquele que costuma acreditar5 em coisas belas, mas no seacostuma ao belo em si, nem capaz de seguir algum que creia noconhecimento (gnsin) daquele [belo], parece-te que vive um sonho ou vivedesperto? V bem: sonhar no , no sono ou acordado, [crer que] o semelhantea algo no [] semelhante, mas a prpria coisa com que se parece?GlaucoDiria que sonhar como isso.S.E o outro? Aquele que, ao contrrio destes, cr que algo belo em si e capaz de ver distintamente no s o prprio [belo], mas as coisas que deleparticipam, e nem pensa que as coisas que participam so o prprio [belo],nem que ele prprio essas coisas, parece-te que vive desperto ou sonha?G.Desperto, sem dvida.S. Ento, no diramos com razo que o [seu] pensamento (dianoian)
saber, visto que sabe, enquanto o do outro opinio, uma vez que opina?G.Sem dvida(Rep.V 476c-d).
O passo aprofunda a contraposio inicial, prolongando-a em novas dualidades. A
primeira replica a estipulao feita antes (E1), contrapondo as coisas belas ao belo em si.
Na segunda, um modo de captao caracterizado como sonhar e o outro como viver
desperto. Finalmente, um e outro estados psquicos so identificados com as modalidades
cognitivas designadas como saber e opinio.
Formas em si belo em si viver desperto saber
Formas misturadas coisas belas sonhar opinio
5Neste passo (e noutros; por exemplo: 463b14, 479a3, 509a2-3, 515b5, e3, 530b2), o verbo nomidz associa aosentido cognitivo (acreditar, pensar), dominante no argumento, a referncia ao uso e costume (ser ou tercostume).
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
4/20
14
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
A contraposio da viglia ao sonho a seguir explicada e reforada por duas
comparaes, cada uma das quais remete para a teoria da participao. Se sonhar crer que
o semelhante a algo a prpria [entidade] qual semelhante, pelo contrrio, viver
desperto ser capaz de ver distintamente (kathoran) a prpria coisa, no caso, o prprio
[belo], no pensando que ele as coisas que dele participam, nem que estas so ele prprio6.
Enquanto o amador de espetculos cr (hgeitai:476c7) que a multiplicidade das
coisas belas bela, o filsofo sabe que elas s aparecem belas por participarem do belo em
si, ao qual so semelhantes (E1). Pois, tal como aquele que sonha cr na realidade de aquilo que
viu, o amador de espetculos acolhe as belas cores, mas o [seu] pensamento (dianoia)
no v e acolhe a natureza do prprio belo7(476b4-8). Por isso, poder se dizer que enquanto
o primeiro conhece, o segundo opina (476d5-6).Completado este quadro, Scrates antecipa uma confrontao com esse que opina mas
no conhece (476d8-9). O seu objetivo chegar a um argumento que o acalme e persuada,
ocultando-lhe, porm, a circunstncia de no estar so de mente (e1-2).
2. Surpreendentemente, encontra-o num breve trecho do dilogo travado com Glucon.
Depois de o instar a responder em nome de um representante dos amadores de espetculos,
apresenta-lhe um argumento que constitui uma imitao do fragmento 2, do Poema deParmnides:
Texto 2S.Mas diz-nos isto,aquele que conhece, conhece alguma coisa ounada? Responde por ele.G.Responderei que conhece alguma coisa.S.Que ou que no ?G.Que ; pois, como conheceria algo que no ? (476e-477a).
6A segunda comparao remete para o locus classicus da participao (Fdon 100c-e). O passo visa a explicarcomo algo pode receber uma designao que no sua, mas da entidade que o nome propriamente designa (dealgum modo legitimando a atribuio de um predicado a algo e explicando -a pela participao desse algo naForma nele presente: en hmin: 102d, e, 103b). Por sua vez, a primeira aponta a distino que separa os predicadosatribudos aos sensveis das Formas em que participam (ver Parmnides 129a-130a; implicitamente a refernciada Repblica sugere a no-transitividade da relao de semelhana: os sensveis so semelhanas relativamentes Formas epnimas (R. Allen 1965, 50), mas estas no o so aos sensveis). No final, voltarei a este tema.7A analogia no perfeita, pois, enquanto se espera que, ao acordar, o sonhador recupere o contato com o real(eventualmente compreendendo que o que vira no tinha passado de um sonho), o amador de espetculos no capaz de aceder realidade, porque no tem a mente s (476e2). esta incapacidade que o argumento visa acorrigir.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
5/20
15
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
Apesar de o argumento remeter claramente para Parmnides, B28, h profundas
diferenas a distingui-lo do original que imita. No havendo, em Parmnides, sujeito explcito
para /no , as expresses que selam os dois nicos caminhos (B2.2) podem ser lidas
antepredicativamente, como os dois nomes opostos que a negativa caracteriza como
excludentes (como confirmado pelas clusulas que complementam cada um deles: 2.3b/2.5b).
Tal no se d com a verso platnica do argumento eletico, que o insere num contexto
claramente predicativo pelo fato de sustentar que aquele conhece, na posio de sujeito, tem
como objeto algo que (476e7-11).
2.1 Esta alterao lesiva da utilizao do argumento eletico pela parte de Plato.
claro que a introduo de algo (476e7, 9, 11) como objeto do conhecimento, a par das duasalternativas excludentes /no , impede que a rejeio da segunda (em Parmnides,
considerada incognoscvel e inconsumvel (B.2.7-8), impensvel e annima (B8.16-18a)
seja usada para reiterar que a primeira a nica autntica9 (B6.1-2a; B8.18b). Deste
impedimento resulta que a mesmidade (to auto) de ser e pensar, apontada pelo Eleata
(B3; B8.34), no pode ser invocada por Plato para justificar a identidade do conhecer com o
ser10(477a3).
2.1.1 Poderia se objetar que a leitura platnica de B2 no atinge a integridade do
argumento eletico, uma vez que qualquer algo ter de se enquadrar numa das duas
alternativas excludentes: /no . Todavia, a continuao do texto vai mostrar que, embora
Plato precise identificar ser e pensar para justificar a infalibilidade do saber (477e), no
deixa de entender algo como uma terceira alternativa entre as outras duas.
8A presena de Parmnides na Repblica V foi comentada por I. Crystal, 1966. Note-se a similitude da estrutura
dos dois argumentos:Vamos, vou dizer-te quais os nicos caminhos de investigao que h para pensar:um que , que no para no ser, caminho de confiana (pois acompanha a verdade);(5) o outro que no , que tem de no ser,esse te indico ser caminho em tudo ignoto,
pois no poders conhecer o que no , no consumvel,nem mostr-lo [...].9Se s h duas alternativasconhecer ou no conhecer, dada a excluso da segunda, a primeira a nica queresta. Deste argumento decorrer a infalibilidade do conhecimento, uma vez que um conhecimento falso no conhecimento.10Nesta leitura do fragmento, B3 sustenta que ser e pensar so o mesmo (o pensamento e o ser pensa
(ver, contudo, o debate sobre a localizao do fragmento em: W. Altman, 2015, 204-208, 211-214).Diferentemente desta posio, ao defender que s se pode conhecer algo que (477a1), Glucon confirma o
posicionamento tradicional de B3, lendo o fragmento na continuao de B2; logo, inserido no argumento daVerdade.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
6/20
16
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
De resto, a introduo de algo como objeto do conhecimento deliberada. Scrates
poderia ter perguntado diretamente se aquele que conhece conhece o que ou o que no e
recebido de Glucon a resposta que lhe permitiria opor o saber ignorncia. No poderia,
contudo, prosseguir interpondo o que e no entre essas duas alternativas11, como se ver
adiante.
2.2 A comparao dos passos acima referidos de Parmnides e Plato suscita algumas
perguntas sobre os sentidos dos termos utilizados pelos dois pensadores. Comeo pelas formas
do verbo einai utilizadas. No Poema do Eleata, entendidas antepredicativamente, as formas
verbais /no no podero ser lidas como cpulas, mas como os nomes que designam os
dois caminhos opostos, pelo fato de no ser apontada nenhuma entidade qual deva seratribudo um qualquer predicado. Pelo contrrio, como se viu, em Plato, sendo o argumento
inserido num contexto predicativo, em virtude do qualquem conhece conhece algo que
, que /que no (on/ouk on) devem funcionar como cpulas, recebendo uma diversidade de
leituras, entre as quais so dominantes a existencial, a veritativa e a predicativa (algo que
existe/no existe, que /no verdade, e /no (objeto de predicao); J. T. Santos 2013,
39-40).
2.3 Quanto negativa, receber a mesma leitura nos dois textos referidos: como
contradio (ou contrariedade excludente): em Parmnides, em virtude de B2.3b, B2.5B;
em Plato, pela oposio de que a que no (476e10), da qual resulta a declarao da
incognoscibilidade de algo que no (477a3-4).
3. Feitos estes esclarecimentos, passo exposio da seo final do prembulo:
Texto 3AS.Ento, isto bastante, o que de todos os modos de todos os modoscognoscvel e o que no de modo nenhum de nenhum modo, de todoincognoscvel?G.No se pode mais bastante (477a2-5).
3BS.Seja. Mas, se alguma coisa fosse tal que fosse e no fosse, noficariaentre o que sem mistura e o que no de modo nenhum?
11Nesta perspectiva, possvel encarar o que e no como o referente intencional visado pelo termo algo,cuja oposio a nada (476e6) ser adiante correspondida pela contraposio da doxa tanto ao saber, como anada (477b1, 5, 478b3-10).
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
7/20
17
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
G.Ficaria entre.SSe o saber era sobre o que (epi t onti) e a ignorncia necessariamentesobre o que no (epi m onti), deve, portanto, se investigar sobre o [que est]entre isso, qualquer coisa entre a ignorncia e o saber, se que alguma coisa tal (Ibid. 477a6-b3).
No curto espao de onze linhas o argumento esboa dois movimentos opostos. No
primeiro, recebendo as concluses atingidas na seo anterior, so estabelecidas trs
identidades: como s se conhece o que (porque o que no incognoscvel), o que de
todos os modos de todos os modos cognoscvel, enquanto o que no de modo nenhum ,
de nenhum modo, de todo incognoscvel.
Com o recurso s expresses de todos os modos e de modo nenhum, defendo que
Plato mostra ter compreendido que a necessidade de respeitar a fixao de duas alternativas
excludentes pelo argumento eletico o obriga a assinalar a contradio entre os pares
constituintes de cada uma delas. Na falta de um termo tcnico, ou mais adequado (por exemplo,
enantitata:Protgoras 331d5,Banquete186d7, Parmnides159a4, Sofista250a8, Filebo
13a1,4), Plato recorre s duas expresses acima para assinalar que excludente a contrariedade
entre elas.
Por isso, ser com redobrada surpresa que se assiste introduo de uma outra(478a14,
b3) alternativa entre(477a7, 9, 478d1-10) as duas anteriores, a qual, articulando a leitura danegativa, como contradio, com a outra, como alteridade, abre aquela perspectiva que o
argumento de Parmnides exclui e decididamente condena: no impors que no-
entes so (m eonta einai): Mas afasta desta via de investigao o pensamento. (Parmnides,
B7.1-2; Plato, Sofista237a).
A explicao que Plato d de onde quer precisamente chegar com alguma coisa que
fosse e no fosse (477a6) decerto constitui a finalidade principal do argumento que se estende
at ao final do Livro V. Todavia, para a atingir ser necessrio comear por compreender como,retomando a contraposio referida no incio do prembulo do argumento (477a), saber e
opinio podem se relacionar.
Depois de ter sido apresentada em 476e6-477a1, a oposio que /que no conduz
nova oposio de duas identidades (3A): de um lado, o que de todos os modos e e de
todos os modos cognoscvel; do outro, o que no de modo nenhum e , de nenhum modo,
de todo incognoscvel.
Todavia, neste ponto, o argumento abandona a contrariedade excludente para retomar a
contraposio, atrs apontada (476c-d), das Formas s coisas que delas participam,
consubstanciadas nas modalidades cognitivas designadas como saber e opinio (476d5-6).
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
8/20
18
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
Da sua introduo derivam duas novas alternativas (3B), sobre as quais o argumento ir se
concentrar, contrapondo: o que e cognoscvel a o que e no e opinvel (477b,
478a-b).
A partir 477b, acham-se enfim criadas as condies para que possa se desenvolver o
argumento que, mediante a anlise das competncias cognitivas agora comparadas, evidencia
os motivos que h para alegar a superioridade do saber sobre a opinio (477e1, 7-8). Mas
esse movimento d origem emergncia de trs novos problemas, que se prendem com a
necessidade de examinar o modo como so lidas a negativa e as formas de einai, nos termos da
nova contraposio, e com a definio dos possveis objetos do conhecimento.
3.1 Quanto negativa, claro que usada em sentidos distintos. Na oposio de o que de todos os modos e de todos os modos cognoscvel a o que no de modo nenhum e ,
de nenhum modo, de todo incognoscvel, a negativa deve ser lida como contrariedade
excludente. Por outro lado, na dupla contraposio de o que e cognoscvel e de o que
no e incognoscvel a o que e no e opinvel, tal como atrs na do saber
opinio, a despeito de pouco no texto o sugerir, a negativa comea por ser lida como
contrariedade excludente para depois ser lida como no-excludente. Pois, embora e
cognoscvel e no e incognoscvel sejam contrrios excludentes, no s o opinvelse manifesta como um outro (heteron: 477e9-478a4; alli, all: 478a14-b1), entre as duas
alternativas contraditrias, como, em e no , a negao caracteriza qualquer entidade que
aparea contrria ou diferente da outra12(479a-b): no mais bela que feia, justa que
no-justa, piedosa que no-piedosa (479a7-913).
3.2 J no que diz respeito ao verbo ser, nada h de novo na primeira alternativa (3A).
No contexto predicativo daRepblicaV vejo poucos motivos para negar que os que /queno de 467e7-477a1 acumulem as leituras existencial, predicativa e veritativa14(C. H. Kahn,
1976, 328; G. X. Santas, 1990, 130; J. T. Santos, 2011, 36-46). Todavia, essa possibilidade,
12Reforando a preferncia pelo que aparece aos sentidos, o recurso aos comparativos de superioridade negados no [] mais do que no [] sugere a possibilidade de esboar uma escala gradual entre os pares determos que a negativa aparentemente define como contrrios, como se ver melhor nos passos referidos na notaseguinte.13No menos dobro do que metade (479b2-3); [coisas] no mais grandes e leves do que pequenas e pesadas:sempre ter [algo] de ambas (479b6-8).14Sustentar que se conhece algo que , porque no se pode conhecer o que no (476e7-477a1) no exclui a
possibilidade de ler qualquer das formulaes como algo que /no (isto ou aquilo), que existe/no existe eque /no verdade; ou seja, predicativa, existencial e veritativamente. Esta possibilidade ainda reforada pelacolocao de algo e no o que na posio de sujeito de predicao. Contra esta interpretao doargumento, adiante formularei uma reserva sobre a leitura predicativa.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
9/20
19
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
justificada pela tese da sobredeterminao das trs leituras (C. H. Kahn, 1981, 105; 2003, IX;
F. Fronterotta, 2014, 51,n. 10, 65-70; F. Gonzalez, 2014, 93-94; C. Arajo, 2014, 133-136; V.
de Harvens, 2015, 6-15), torna-se problemtica quando o argumento aborda a formulao o
que e no (3B). Pois, no caso da conjuno dos contrrios /no , no s
separadamentecada uma das trs leituras no basta para conferir sentido nova contrariedade,
como sobre a natureza dessa contrariedade que se acha construdo o problema proposto, de
como entender que: Algo que aparea como sendo e ao mesmo tempo no sendo fique entre
(cinco vezes em 478d1-10) o que sem mistura e o que de todo no (478d)?
Fica entre porque, se algo e no o que algum diz ser (479b10; ver b7),
ento, ao mesmo tempo (hama: 478d5) esse algo existe e no existe, e o que dito e no
verdade15, embora no possa existir sem mistura, nem de todo no ser . Por essa razo,apesar de neste caso as outras leituras no poderem ser excludas, a predicativa mostra
comandar o entendimento da formulao, pelo fato de assinalar que, se se refere natureza
nomeada, esse algo e simultaneamente no (algo). Esta hiptese confirmada pela srie
de exemplos coletados adiante (479a-b), nos quais claro que, ao contrrio do belo, do justo e
dos outros, que so imutveis (479a2-3) e unos (479a4), as muitas coisas belas, justas e pias
tal como as duplas, grandes ou leves podero aparecer, ou ser ditas contrrias, pois,
de cada uma delas se poder perguntar se: Cada uma das muitas [coisas] mais do que no isso que algum diz que ela ? (479b9-10).
Se cada uma das coisas e no o que algum opinante diz dela, o passo (479a-b) reativa
a contraposio, inicialmente apresentada (476a6-9: E1), da Forma una pluralidade e
diversidade dos modos com que por todo o lado se apresenta aos dois gneros de amadores.
A diferena que os distingue reside no fato de que, enquantocomo num sonhoum crque
qualquer das muitas coisas percebidas aquela (ou aquilo) que nomeado pelo que diz, o outro
sabeque s a Forma imutvel e una verdadeiramente aquilo .Consequentemente, a circunstncia de a modalidade cognitiva designada como
crena/opinio (doxa) consistir na confuso entre duas entidades, captveis de modos
distintos, sugere que por detrs da leitura predicativa da cpula se esconde a identificao
equivocada (476c-d) que o argumento denuncia. Nos diversos exemplos em que Scrates
defende que os muitos AA aparecero no-AA (479a-b), os enunciados lidos como
15Ser o caso de entidades que exprimem relaes: um dobro existe em relao sua metade, mas deixa deexistir em relao a qualquer outra quantidade, tal como um maior em relao a um menor (Fdon 102b-e).
No creio, porm, que possa existir mais ou menos (J. Annas, 1981, 194, 196-197; G. Fine, 1999, 218, n.7, 219;ca. F. Fronterotta 2014, 59, 62,n. 23, 63; F. Gonzalez, 2014, 89-90,n. 5).
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
10/20
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
11/20
21
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
3.3 Associado aos problemas das leituras atribudas s formas de ser e negativa,
levanta-se ento o ulterior problema da referncia desse algo que conhecido porque .
Preocupados com a aceitao da Teoria de Dois Mundos (TDM) pela parte de Plato20, os
comentadores acham-se divididos. H os que, defendendo uma leitura exclusivamente
existencial de /no , sustentam que algo se refere a objetos: Formas ou sensveis (ver a
seguir; e ainda F. Fronterotta, 2014, 40-80, criticando G. Fine, 1999, 215-225; F. Ferrari, 2014,
25-33); os que, optando ainda por referir algo a objetos, os condensam em predicados,
que so/no so, ou que so e no so (F. Ferrari, 2014, 24 -29; 2000, 376-389; G.
Vlastos, 1981a, 62 ss.; J. Annas, 1981, 195-199; N. White, 1976, 106; Cross and Woozley,
1964, 146-151, 170-177); finalmente, os que afastam a TDM distinguindo o saber da opinio
porque, enquanto aquele se refere a contedos proposicionais verdadeiros,a crena se refere acontedos que podem ser verdadeiros ou falsos (G. Fine, 1999, 218-225; ca.F. Gonzalez, 1996,
245-275; 2014, 83-85). Recentemente, apesar da polmica que ope estas trs interpretaes do
argumento, aceitando a sobredeterminao das leituras de /no , V. de Harvens defende a
compatibilizao da referncia a objetos com a de contedos (2015, 15-31).
Neste mesmo sentido, proponho aproximar a interpretao do passo em questo da
anlise do conhecimento do igual e dos iguais, no Fdon 73c-76e. Caracterizada pela
simultaneidade de dois eventos cognitivos por exemplo, os iguais, percebidos pelassensopercepes, e o igual, captado na mente (73c-74d) , a reminiscncia envolve
contedos psquicos semelhantes, recebidos pelo cognoscente, expressveis em opinies21.
Transpondo esta concepo para o argumento da Repblica V, claro que no h
incompatibilidade entre o entendimento dos referentes de o que e o que e no quer
como contedos psquicos, quer como objetos, porque uns mais no so do que os originais
nsitos na alma (Fdon: 72e), de que os outros so representaes (semelhanas)22. Haveria
problema se a interpretao do argumento se apoiasse sobre uma leitura exclusivamente
20De acordo com a qual no h saber de sensveis, mas de Formas, nem crena sobre Formas, mas s sobresensveis (G. Fine, 1999, 215; N. White, 1976, 91, 106,n. 9).21Nesta interpretao, nem o igual, nem os iguais, devem ser lidos como predicados de paus e pedras,constituindo o conhecimento de cada um destes pela percepo (73c) um evento psquico pleno e infalvel (C.Arajo, 2014, 123). O que se v os iguais, independentemente de esse ato cognitivo vir a ser reavaliado a partirda comparao dos contedos das percepes com as Formas s quais se referem (76a, d-e; sobre referir:75b7, 76d9).22O que percepcionado so aparies do belo, do justo, do pio, etc. eles prprios contedos nsitos naalma, no a coisa, o ato ou o indivduo belos, justos, pios, etc., e nestas aparies que se apoia a opinio.
Pelo contrrio, quando, no pensamento (dianoia), as coisas nas percepes so referidas (anapherein) s Formasque tomam como modelos (apeikadzein) possvel iniciar o acesso a um outro saber (Fdon 75d-e, 76d-e). Almdo argumento sobre o igual e os iguais, no Fdon, esta concepo descreve bem o dilogo com o escravo, noMnon 82b-86c.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
12/20
22
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
existencial, predicativa, ou veritativa da cpula, mas no numa interpretao da qual nenhuma
destas deve ser excluda.
II
AVALIAO DO ARGUMENTO
1. Resumindo o prembulo analisado. Em 1, o argumento contrape, como alternativas
contrrias e no excludentes, os estados psquicossonhar e estar desperto , que a seguir
associa s modalidades cognitivas opinio e saber. Seguidamente, em 2, ope que a que
no , como alternativas contrrias e excludentes, deduzindo a identificao de conhecercom o que da impossibilidade de conhecer o que no . Finalmente, em 3, comea por
identificar o que de todos os modos com o que de todos os modos cognoscvel e o que
no de modo nenhum com o que de nenhum modo, de todo incognoscvel (3A), que ope
como alternativas contrrias e excludentes. Introduz depois uma terceira alternativa entre as
duas anteriores, a seguir designada como opinio (477b; opinvel: 478a-b), a qual,
regressando relao esboada em 1, contrape ao saber (3B).
Dois problemas dificultam a aceitao do argumento. Como se viu, o primeiro questionaa possibilidade de conjugar a relao de contrariedade entre duas alternativas excludentes
presente em 2 e 3Acom aquela que relaciona alternativas no-excludentes (1, 3B). O segundo
problema posto pela introduo, em 3B, de um terceiro termo, intermdio entre as duas
alternativas excludentes de 3A, da qual decorre o restabelecimento da contrariedade inicial (1),
agora inserida entre as duas alternativas excludentes, relacionadas em 2, 3a, e a seguir
contraposta s outras duas.
Como se viu, enquanto, em 1, a contraposio do saber opinio envolve contrriosno-excludenteso que implica que alm deles possa haver outras alternativas (por exemplo,
a percepo: 477c-d), em 2, a oposio de a no exclui uma terceira alternativa, no
consentindo a incluso da opinio pelofato de opor duas alternativas excludentes. Por isso,
sustento que o argumento falacioso por resultar do equvoco entre dois sentidos da negativa,
associados a cada uma das contrariedades, a saber: como contradio, em 2 e 3A, e como
alteridade, em 1 e 3B.
As consequncias da falcia so especialmente gravosas em 3. Pois, se pode se aceitar
que a oposio das duas identidades propostas em 3A decorra de 2, dado que qualquer delas
excludente da outra, no pode se aceitar a introduo de uma terceira alternativa entre elas, em
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
13/20
23
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
3B. Pois, se uma nova alternativa for introduzida, as outras duas no mais sero excludentes,
inviabilizando a deduo da identidade do conhecimento com , justificada pela eliminao
da alternativa oposta. De resto, o argumento de Parmnides, em B2, no admite graus
intermdios entre e no 23.
O argumento da Repblica conduz, portanto, a duas impossibilidades: enquanto as
identidades forem excludentes uma da outra no haver lugar para qualquer outra alternativa.
Se, pelo contrrio, forem tomadas como no-excludentes, permitindo a introduo de uma
terceira alternativa, deixa de haver base para deduzir a identidade do conhecimento com o que
da impossibilidade de conhecer o que no , sobre que se apoia todo o argumento24.
2. Se, com este argumento, a inteno de Plato propor uma concepo unificada daatividade cognitiva (que s se tornar clara a partir da anlise da dianoia, na Analogia da Linha),
difcil compreender onde quer chegar com o recurso ao Poema de Parmnides. Inicialmente
(475e-476e), a contraposio do saber opinio segue o argumento eletico em B625(ver
B1.28b-32; B8.51-61; B19; J. T. Santos, 2013, 40-42). Todavia, no decorrendo a
contraposio das duas modalidades cognitivas que o jovem deve aprender (B1.28b ss.) da
oposio dos dois caminhos, em B2, a imbricao de B2 com B6 a cruxque desde Diels26
divide os intrpretes.A soluo platnica para o problema de imaginar a doxa como uma terceira
alternativa , avanada neste passo da Repblica, atraiu comentadores (relativamente a
Parmnides, ver a denncia em A. Nehamas, 1999, 125, 135). No resistiu, contudo, s
repetidas crticas de N.-L. Cordero, que h muito (1979, 1984, 2004, 2010, entre outros) afirma
categoricamente que a unificao destes dois termos (doxae Parmnides) uma inveno dos
historiadores da filosofia (2010, 231).
Mas este no problema da Repblica V. A, a contraposio do saber opinioconduz a duas alternativas inviveis pelas quais o filsofo se obriga a pagar nos dilogos, pois:
ou no possvel liberar a opinio da oposio excludente de ser a no-ser; ou, se ela for
23No clara a posio de Plato sobre a admisso de graus de existncia. No h dvida de que o argumentode Parmnides os no consente. Mas no esse o saldo de 3B.24Ao contrrio de G. Fine (1999, 224), defendo que o argumento no precisa sustentar que o conhecimento
possvel, mas que, se possvel, ento o saber das Formas se contrape s opinies dos amadores deespetculos.25 Enquanto necessrio que o dizer e pensar sendo sejam (B6.1), os mortais, que nada sabem (B6.4),
vagueiam com duas cabeas, porque a incapacidade lhes guia no peito a mente errante (5-6). Por isso, surdose cegos, indecisos, acreditam que oser e no-ser so o mesmo e o no-mesmo (7-9a).26Em particular, a partir da introduo da conjectura te afasto para suprir a lacuna no final de B6.3, que permiteler B6.4-9 como uma espcie de terceiro caminho.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
14/20
24
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
encarada como uma terceira modalidade cognitiva entre saber e ignorncia, ser impossvel
distingui-la funcionalmente das outras duas. Particularmente de acordo com a via apontada
na Analogia da Linha impossvel explicar como a partir da opinio se pode chegar ao
saber.
E no momento em que as duas modalidades cognitivas contrapostas comeam a
convergir que se manifesta o problema que a Repblica ignora (477e7-8): de no ser possvel
compatibilizar a infalibilidade do saber27 com a falibilidade da opinio, que pode ser
verdadeira ou falsa.
2.1 tentativa de superao deste problema que dedicada a quase totalidade do
Teeteto.Na realidade, a finalidade da discusso sobre a identificao do saber com asensopercepo (152a-187a) abrir caminho a duas anlises da opinio. Na primeira (152a-
179d), o objetivo de Scrates refutar Protgoras, segundo quem, como consequncia da tese
o homem a medida de todas as coisas (152a; 170c-d) , as opinies dos homens so
sempre verdadeiras (170c) e o que cada um diz verdadeiro para ele (170d). Consegue atingir
o seu objetivo ao mostrar que essas opinies, que cada um considera verdadeiras para si prprio,
so falsas para outros (170e), deste modo assegurando a possibilidade de algumas opinies
serem falsas (171b-c), de que depende a pesquisa. J na segunda, com Teeteto como alvo darefutao, a concluso o saber no est nas afees, mas no raciocnio sobre elas (186d)
, refuta a primeira resposta de Teeteto, estabelecendo a opinio no foco do debate (187a ss.).
A partir deste ponto, o primeiro problema a se manifestar o de, pelo fato de existir a
opinio falsa (OF), s a opinio verdadeira (OV) poder ser candidata a se identificar com
o saber (187c). Logo a nasce o segundo problema, de mostrar como, respeitando a matriz
epistmica eletica, a OF pode ser possvel (187d ss.). Pois, se a OV for identificada com o
saber (187a), a OF fica reduzida a nada (seja ao no-saber, ao no-ser ou no-percepo: 188a, c, e, 189a; na Repblica V, ignorncia). Consequentemente, enquanto
no se perceber como a OF pode ser possvel, necessrio suspender, ou de todo renunciar ao
projeto de atingir o saber atravs da OV (200c-d).
No dilogo, restar ento a possibilidade de, descartando a insero do argumento sobre
a opinio entre duas alternativas excludentes, recorrer ao expediente de atribuir ao enunciado
(logos) a responsabilidade pela OF. Mas tambm esta considerada insatisfatria (201c ad
finem) porque nenhuma das trs concepes de enunciado propostas (206d, 206e-207a, 208c)
27Uma outra dvida: deve se encarar o postulado da infalibilidade do saber como uma tese platnica ou como umendoxon?
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
15/20
25
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
capaz de se superar a incompatibilidade do saber com a opinio. A soluo da aporia ficar
ento para o Sofista.
III
CONSEQUNCIAS DO ARGUMENTO DAREPBLICAV
1. A anlise das dificuldades a que o argumento d origem sugere a oportunidade de os
inserir no projeto de redefinio do programa de pesquisa focado na Epistemologia, iniciado no
Mnon, Fdone Repblica,desenvolvido no Crtilo e Teeteto,e consumado no Sofista. No
Mnon,a reminiscncia invocada para ultrapassar o chamado paradoxo de Mnon (80d -81a): se ou se sabe ou se no sabe, a inviabilidade do trnsito entre as duas alternativas
excludentes acarreta a impossibilidade da busca e da aquisio do saber. Contra este argumento,
a proposta avanada por Scrates consiste em defender que o saber existe na alma e pode ser
recuperado pelo exerccio da reminiscncia (Mnon 81c-86c; Fdon 72e-77a: mediante a
identificao da ignorncia com esquecimento: 75c-e28).
No entanto, complementando o programa da reminiscncia, para resolver o problema
da aquisio do conhecimento, ser ainda necessrio viabilizar a cooperao da opinio com osaber, sustentando a possibilidade do trnsito do visvel ao inteligvel, assegurada na
Analogia da Linha (Repblica509d-511e) pelas operaes realizadas na dianoia (510b-e,
511d-e). Todavia, em nenhum passo desse dilogo explicado de que modo esse trnsitoque
o dilogo com o escravo, no Mnon, promete (85c) 29 se acomoda a uma concepo
unificada da atividade cognitiva.
1.1 Como se viu acima, o Teetetoaborda o problema posto pelo envolvimento das duascompetncias cognitivas que aRepblicarelaciona. Afastado o sensismo de Protgoras (que
com a aquiescncia de Scrates: Teeteto 179cdefende a continuidade da sensopercepo
com a opinio: 160d, 166c-167b), a crena caracterizada pela agregao das operaes
psquicas levadas a cabo pela mente no processo do conhecimento (sensopercepo, memria,
28A deciso de Scrates, no Teeteto, de cancelar aprendizagem e esquecimento, por no serem relevantes parao argumento (188a), suspende temporariamente a reminiscncia, talvez por, no dilogo, faltarem objetosepistmicos adequados (C. Kahn, 1014, 47-85).29Note-se a possvel referncia implcita ao dilogo com o escravo, do Mnon, na Repblica 510d.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
16/20
26
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
pensamento) e, separada da opinio (ambas: doxa), associada produo do enunciado.
ento que se levantam as dificuldades elencadas atrs.
1.2 Enfim, s o Sofistasuperar todas as dificuldades. Para tal, porm, Plato ter de
abandonar o dualismo ontoepistemolgico que ope a gerao entidade (248a -249d;
implicitamente do saber opinio), rejeitando a identidade eletica e platnicado saber
ao ser e a fuso, no complexo da doxa, da crena, aparncia e opinio (Repblica477e,
478a-d; desconstruda no Teeteto189e-190a e no Sofista264a-b).
O golpe decisivo na argumentao ele tica que definitivamente corrige a falcia da
RepblicaVconsiste na reformulao do sentido da negativa, que passa da contrariedade
diferena, permitindo que o no-ser possa ser encarado no mais como contrrio, mas comoum outro em relao ao ser, existindo no menos que ele (257c-258c). A terminar, porm,
num registro lgico e epistemolgico, ser ainda necessrio redefinir enunciado, primeiro,
inserindo-o no contexto da sintaxe predicativa (como combinao de nomes e verbos por
meio da cpula, nas posies de sujeito e predicado, respetivamente), de modo a depois
poder atribuir verdade/falsidade ao seu todo (261c-264b).
1.2.1 Naturalmente, desta imensa inovao decorreou talvez nela se ache implcitaa erradicao da concepo ontolgica de verdade, que a identifica com o que (J. T.
Santos 2011, 52-67), bem como da atribuio da infalibilidade ao saber (J. T. Santos, 2011a):
uma e outra decorrentes da apropriao platnica do argumento de Parmnides, em B2.
2. Outra consequncia do abandono da dualidade ontoepistemolgica, no Sofista,atinge
o problema da participao. Como foi referido atrs (n.3), a capacidade de distinguir o que
participa daquilo em que participa (Repblica 476c-d) invocada para contrapor o amadorde espetculos ao filsofo. Essa distino , no Parmnides (128e-130a), aplicada
contraposio do visvel ao inteligvel, a seguir analisada pelo Eleata nas crticas que dirige
participao (131a-133a).
Tendo em conta a incapacidade, a manifestada por Scrates, de encontrar respostas para
as questes formuladas por Parmnides, a recomposio da participao, no Sofista,no contexto
da comunho dos gneros supe a superao das perspectivas defendidas no Fdon e na
Repblica30 (em particular, no que diz respeito ao recurso participao para explicar a
30Definitivamente erradicada pela rejeio das teses dos Amigos das Formas, que opem a genesis ousia(248a-249d).
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
17/20
27
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
determinao do visvel pelo inteligvel, ou ao menos a necessidade de a contextualizar no
inteligvel).
Admitida a partir de 253a, a tese de que uns gneros comungam entre si e outros no
(253b, 254b) explicada pela incluso e separao de uns nos outros (253d), legitimando a
ambiguidade nominativa/predicativa das Formas (atrs I,3.2.1.1) e inserindo-a no enunciado
(symplok eidn: 259e). A questo, especificamente abordada a partir da descoberta da
dificuldade da investigao do ser (249d), interroga-se sobre como dois gneros sumamente
contrrios (enantitata), como Movimento e Repouso, podem ambos e cada um deles ser
(250a). Sabe-se que, apesar de ambos comungarem naquilo que o Ser (250b), nem os dois
se movem, nem esto em repouso, por serem contraditrios. Sabe-se tambm que o Ser no
a combinao de Movimento e Repouso, mas algo diferente, nem parado, nem se movendo(250c), deixando no ar a pergunta de como como pode o Ser no estar parado, nem se mover
(250c-d).
Para ultrapassar o paradoxo, necessrio fazer intervir mais dois gneros que, embora
participem dos outros trs, no so nenhum deles: o Mesmo e o Outro (254d-255b). Assim
entendida, participao ser o nome dado relao que une e separa os gneros diferentes,
preservando a sua identidade e apontando o seu lugar no todo englobante do Ser (254b-257a).
ela que comanda a comunho dos sumos gneros e nela que assenta a teoria do enunciadopredicativo, acima referida, consumando a resoluo da teia de problemas lgicos,
epistemolgicos e ontolgicos, provocados pelo breve argumento que, na Repblica V,
distingue as Formas das suas manifestaes visveis, opondo os filsofos aos filodoxos.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
18/20
28
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
REFERNCIAS
1. Fontes e tradues
Alexandre de Afrodsias:
Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysica Commentaria, consilio et auctoritateAcademiae Literarum Regiae Borussicae, ed. M. Hayduck, Berlin 1891.
Aristteles:
Aristotelis Opera,ed. I. Bekker, Kniglichen Preussichen Akademia der Wissenschaft, Berlin1831 (repr. Darmstadt 1960).
Aristteles, Fsica I-II, Prefcio, introduo, traduo e comentrio de L. Angioni, EditoraUnicamp 2009.
Plato:
Platonis Opera. Ed. I.Burnet. I-V, Oxford U. P., Oxford, 1900-1907.Plato,A Repblica, Traduo de M. H. da Rocha Pereira, Fundao Calouste Gulbenkian,Lisboa 20019.
Plato, O sofista,Traduo de J. Maia Jr., H. Murachco, J. T. Santos, Fundao CalousteGulbenkian, Lisboa 2011.
Plato, Teeteto,Traduo de A. Nogueira, M. Boeri, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa,2005.
2. Livros, Captulos de livros e Artigos
A. Nehamas (1999, 1975), Plato on the Imperfection of the Sensible World, in Virtues 138-158 (American Philosophical Quarterly, Vol. 12, 105-117).
A. Nehamas (1999, 1981), On Parmenides Three Ways of Inquiry, in A. Nehamas, Virtuesof Authenticity,Princeton Un. Pr., 125-137 (Deukalion33/34, 97-112).
A.C. Cross & A. D. Woozley (1964), Platos Republic: A Philosophical Commentary,MacMillan.C. Arajo (2014), Ser e poder: sobre o governo do filsofo, in Verdade e espetculo: Platoe a questo do ser,C. Arajo (org.), Viveiros de Castro Editora Lda., Rio de Janeiro.
C. H. Kahn (1976), Why Existence does not Emerge as a Distinct Concept in Greek
Philosophy,Archiv fr Geschichte der Philosophie58, 323-334.C. H. Kahn (1981), Some Philosophical Uses of to be in Plato,Phronesis26, 2, 105-134.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
19/20
29
Trilhas FilosficasRevista Acadmica de Filosofia, Caic-RN, ano VIII, n. 2, p. 11 - 30, jul.-dez. 2015. ISSN 1984-5561.
C. Kahn (2003), The Verb Be in Ancient Greek, With a New Introductory Essay, Hackett,Indianapolis (Reidel, Dordrecht/Boston 1973); Introduction, The verb be in Ancient Greek2,I-XL.
C. Kahn (2014),Plato and the post-Socratic Dialogue, Cambridge Un. Pr., New York.
Crystal, Ian (1966), Parmenidean Allusions inRepublic V,Ancient Philosophy, Vol. 16, No.2, 351-363.
F. Ferrari (2000), Teoria delle Idee e ontologia, La Repubblica IV,Traduzione e commentoa cura di M. Vegetti, 365-391.
F. Ferrari (2014), Conhecimento filosfico e opinio poltica no Livro V da Repblica dePlato, in Verdade e espectculo,C. Arajo (org.), Rio de Janeiro.
F. Fronterotta (2014), Os sentidos do verbo ser no Livro V da Repblica e a sua funoepistemolgica na distino entre conhecimento e opinio, in Verdade e espectculo,C. Arajo(org.), Rio de Janeiro.
F. Gonzalez (1996), Propositions or Objects? A Critique of Gail Fine on Knowledge and BeliefinRepublicV,Phronesis41, 3, 245-275.
F. Gonzalez (2014), De volta ao conhecimento e opinio emRepblicaV sem Gail Fine, inVerdade e espectculo,C. Arajo (org.), Rio de Janeiro.
G. Fine (1999), Knowledge and Belief inRepublic57, G. Fine (ed.) Plato 1: Metaphysicsand Epistemology, Oxford U. Pr., 215-246.
G. Vlastos (1981), A Metaphysical Paradox, in G. Vlastos, G.,Platonic Studies2, PrincetonU. Pr., 43-57.
G. Vlastos (1981a), Degrees of Reality in Plato, in G. Vlastos, Platonic Studies2, PrincetonU. Pr., 58-75.
G. X. Santas (1973), Hintikka on Knowledge and Its Objects in Plato, in J.M.E. Moravcsik(ed.),Patterns in Platos Thought, D. Reidel, 31-51.
G. X. Santas (1990), Knowledge and Belief in Platos Republic, Boston Studies in thePhilosophy of Science121, Kluwer Academic Publishers, 45-59.
J. Annas (1981), Belief, Knowledge, and Understanding, An Introduction to PlatosRepublic, Oxford U. Pr., 190-216.
J. Hintikka (1973), Knowledge and Its Objects in Plato, in J.M.E. Moravcsik (ed.),Patternsin Platos Thought, D. Reidel, 1-30.
J. T. Santos (2011), Introduo a O sofista, Lisboa.
J. T. Santos (2011a), O postulado da infalibilidade nos dilogos platnicos, Classica 26,2013, 131-144.
-
7/26/2019 1856-4996-1-PB
20/20
30
J. T. Santos (2013), For a non-predicative Reading of estiin Parmenides, the Sophists andPlato,MthexisXXVI, 39-50.
L. Brown (2008), The Sophist on Statements, Predication and Falsehood, The OxfordHandbook of Plato,437-462.
L. Brown (2012), Negation and not-being: Dark Matter in the Sophist,Presocratics andPlato: A Festschrift in honour of Charles Kahn,233-254.
N. P. White (1976),Plato on Knowledge and Reality, Hackett, Indianapolis 1976.
N.-L- Cordero (2004),By Being, It Is,Parmenides Publishing, Las Vegas.
N.-L. Cordero (1984),Les deux chemins de Parmnide, VRIN/OUSIA, Paris/Bruxelles.
N.-L. Cordero, Les deux chemins de Parmnide dans les fragments 6 et 7,Phronesis XXIV,1979, 1-32.
N.-L., Cordero (2010), The Doxa of Parmenides Dismantled,Ancient Philosophy30.2: 231-246.
R. E. Allen (1960, 1965), Participation and Predication in Platos Middle Dialogues, ThePhilosophical Review69, No. 2, 147-164 (in Studies in Platos Metaphysics, R. E. Allen (org.),43-60).
T. Penner (1987), The Ascent from Nominalism, D. Reidel.
V. de Harven (2015), A More Sensible Reading of Plato on Knowledge in RepublicV (emreviso), Online Papers,UC Berkeley.
W. Altman (2015), Parmenides fragment B3 Revisited,Hypnos35, 197-230.