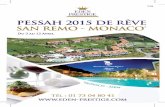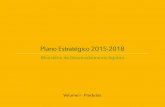2015
-
Upload
julio-augusto -
Category
Documents
-
view
72 -
download
0
description
Transcript of 2015
-
Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
-
Arno Vorpagel Scheunemann
Fundamentos Terico-Metodolgicos
Contemporneos I
-
O Servio Social da Universidade Luterana do Brasil entende que im-portante ampliar, renovar, reconstruir os referenciais de formao e interveno, incluindo, permanentemente, novos conceitos e categorias, haja vista o pluralismo defendido na profisso. Partindo desse entendi-mento, julga por bem incorporar conceitos e categorias sistmicos em sua fundamentao terico-metodolgica. Por isso, a disciplina Fundamentos Terico-metodolgicos Contemporneos I e este livro.
Para abordar o referencial sistmico, analiso, no Captulo 1, a relao ser humano-mundo no ocidente: do Ego Cogito vivncia perceptiva. Essa anlise est subdividida em: Da unidade ser-humano-mundo dicoto-mizao do Ego Cogito; Da dicotomizao do Ego Cogito unidade da vivncia perceptiva.
No Captulo 2, busco apresentar elementos da trajetria de superao do raciocnio lgico-racional em direo ao sistmico. Destaco quatro con-tribuies: processos circulares e a retroalimentao; a retroalimentao positiva; as estruturas dissipativas, a ordem por meio do rudo e a autorre-ferncia; observao e linguagem no so neutras.
No Captulo 3, sob a forma de quatro subtemas, apresento a Teo-ria Sistmica de Primeira Ordem. No primeiro, abordo a teoria sistmica como estratgia de superao dos reducionismos. No segundo, apresento algumas tipologias de sistemas. No terceiro, abordo a origem da teoria sistmica e destaco alguns pressupostos e conceitos.
No quarto captulo, abordo a Teoria Sistmica de Segunda Ordem. Comeo apresentando elementos da concepo de vida e mundo que possibilitaram a identificao das mudanas de segunda ordem. Na se-
Introduo
-
Introduo
quncia, foco os principais conceitos e categorias da Teoria Sistmica de Segunda Ordem.
No Captulo 5, reflito o trabalho profissional do assistente social em perspectiva sistmica. Na primeira parte, destaco contribuies da teoria sistmica para a compreenso das relaes dos sistemas e do ambiente. Na sequncia, destaco sinalizadores para o trabalho profissional na pers-pectiva sistmica de primeira ordem e de segunda ordem. Por fim, diferen-cio trabalho profissional sistmico funcionalista, dialtico e complexo.
No Captulo 6, abordo a Teoria Sistmica e a Anlise Institucional, apresentando conceitos e categorias. Para desenvolver essa temtica, comeo apresentando a origem e elementos da trajetria do Movimen-to Institucionalista e suas trs primeiras prticas: Psicoterapia Institucional; Pedagogia Institucional e Anlise Institucional. Na sequncia, apresento os principais conceitos e categorias da Analise Institucional.
No Captulo 7, apresento uma proposta de roteiro para a anlise or-ganizacional. Na primeira parte, destaco alguns desafios que se colocam quando se fala em anlise organizacional no contexto do trabalho profis-sional em Servio Social. Na segunda, apresento um roteiro para anlise organizacional. Esse roteiro compreende: Identificao da organizao; Constituio histrica da organizao; Demandas e dinmica da organiza-o; Tipificao da organizao; Anlise da constituio e do histrico da organizao; Anlise das relaes da organizao com o ambiente; Anli-se da estrutura e dinmica internas da organizao; Anlise da liderana e do poder da organizao; Anlise do Servio Social na organizao.
-
Introduo
No oitavo captulo, Teoria Sistmica e abordagem narrativa: con-ceitos e categorias, no primeiro momento, apresento algumas razes para a incorporao de conceitos e categorias sistmico-narrativas no referencial do Servio Social. No segundo, destaco conceitos e catego-rias sistmico-narrativas importantes no universo do Servio Social: Poder ascendente; Histria dominante; Histrias alternativas; Acontecimentos extraordinrios; Estrutura da histria; Paisagem da ao; Paisagem da conscincia; Conversaes internalizantes; Conversaes externalizantes; Reautorao de vidas.
No captulo nove, Teoria Sistmica e abordagem narrativa: um mto-do, tcnicas e procedimentos, apresento o mtodo sistmico-narrativo da Reautorao de Vidas. Esse mtodo compreende grandes momentos (ou fases), cujas partes podem acontecer simultaneamente ou em sequncia cronolgica: a externalizao e a reautorao. A externalizao compreen-de um contar e dois processos de recontar. A reautorao compreende: nomear, mapear os efeitos, avaliar, justificar, identificar desejos.
Ressalto que, ao final de cada captulo, apresento um recapitulando e uma atividade objetiva como estratgia de retomada e apreenso dos respectivos conceitos e categorias.
-
Captulo 1 - A relao ser humano-mundo no ocidente: do Ego Cogito vivncia perceptiva .................................................7
Captulo 2 - Do raciocnio lgico-racional ao sistmico ................30
Captulo 3 - Teoria Sistmica de 1 ordem ...................................48
Captulo 4 - Teoria Sistmica de 2 ordem ...................................70
Captulo 5 - Trabalho profissional do assistente social em perspectiva sistmica ............................................................................96
Captulo 6 - Teoria Sistmica e Anlise Institucional: conceitos e categorias ........................................................................116
Captulo 7 - Anlise organizacional sistmica: uma proposta de roteiro ..............................................................................139
Captulo 8 - Teoria Sistmica e abordagem narrativa: conceitos e categorias ........................................................................166
Captulo 9 - Teoria Sistmica e abordagem narrativa: um mtodo, tcnicas e procedimentos ..................................................188
Sumrio
-
A relao ser humano-mundo no ocidente: do Ego Cogito vivncia
perceptiva
Conhecer a realidade e produzir conhecimentos so dois processos que dependem diretamente da manei-ra como concebida a relao do ser humano com o mundo. As diferentes concepes da relao ser humano--mundo podem ser classificadas em dois grandes grupos: as que priorizam o pensamento (razo, raciocnio, consci-ncia, mente, reflexo objetiva); as que priorizam a vivn-cia cotidiana (corpo, percepo, intuio...). No primeiro
Arno Vorpagel Scheunemann
Captulo 1
-
8 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
grupo, entende-se que o ser humano domina o mundo e o conhece a partir da razo. No mundo ocidental, a principal formulao dessa forma de conhecer o Racio-nalismo Cartesiano (do filsofo francs Ren Descartes), cuja mxima Ego cogito, ergo sum (Eu penso, logo existo). No segundo grupo, entende-se que a experincia corprea (a vivncia cotidiana) detm todas as dimenses da existncia, logo, a base para compreender a realidade e produzir conhecimentos deve ser essa experincia cor-prea que acontece de forma pr-reflexiva, ou seja, antes que o ser humano reflita sobre a realidade, seu corpo (e mente) a vivencia sentindo, percebendo, intuindo etc.
O Servio Social uma profisso que, no seu fazer profissional, necessariamente h que conhecer a reali-dade e produzir conhecimentos. Neste captulo, veremos pressupostos para faz-lo priorizando o pensar ou, prio-rizando o viver. No h como abordar toda a trajetria dessas duas maneiras de conhecer a realidade e produ-zir conhecimentos, por isso, destacarei alguns autores a partir dos quais ser possvel identificar os pressupostos de ambas.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 9
1.1 Da unidade ser-humano-mundo dicotomizao do Ego Cogito
Desde a sua origem, o ser humano registrou sua vida a par-tir de suas criaes: sinais, desenhos, pinturas, sinais grficos etc. Alm disso, apreendia a realidade e a vida, trazia sentido, compreendia seu existir por meio das lendas e dos mitos.
Ao contrrio da maioria das leituras ocidentais, os mitos aqui so vistos como criaes do ser humano na busca de compreender-se a si mesmo, em uma relao estreita com a sua vivncia. No e a partir do mito, o ser humano estabelecia sua proximidade com o real e formula regras para seu pensar e agir. O mito, para o ser humano primitivo, a prpria rea-lidade, pois no dicotomiza o mundo real e o mtico. Ambos estavam imbricados mutuamente.
Nesse sentido, a conscincia mtica jamais pode ser confundida com uma simbolizao que o homem primitivo faria de si mesmo; o mito sua prpria vida. Uma dicotomizao entre o simblico e o real, que um exerccio de reflexo, significa um esva-ziamento da vida; o mito, por sua vez, um pensa-mento encarnado.1
O desenvolvimento da temporalidade histrica fez o ser humano se situar em termos de presente, passado e futuro. O tempo e o espao passaram a ser encarados como possibili-
1 Nilton Juliano FARIA. A tragdia da conscincia, p. 17.
-
10 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
dades possveis, no mais como possibilidades dadas (como nos mitos).
A reflexo trouxe liberdade e autonomia ao ser humano em relao sua histria, mas dissociou-o de si mesmo e da natureza. O que antes era indissocivel passou a ser refletido em uma relao sujeito-objeto.
Sob o Racionalismo, essa dissociao se intensificou a pon-to de conferir razo humana a capacidade de constituir e atribuir sentido natureza, a toda a existncia. A razo passou a ser o caminho para o ser humano se constituir como senhor e sujeito na sua relao com os outros e com a natureza. Em contrapartida, a alma, as paixes, os sentimentos e as sen-saes passaram a ser conhecidos e dominados pela e sob a gide da razo. Uma vez que realizasse esse domnio o ser humano se tornaria humano.
O Ego cogito2 passou ser a medida de todas as coisas, in-clusive da existncia humana. A racionalidade a res cogitans (coisa pensante) foi colocada acima do corpo a res extensa (coisa exterior aquilo que se estende ao redor da coisa pen-sante) como possibilidade de saber, de apreenso do mundo e da vida. Conhecer, constituir e dar sentido a tudo passou a ser prerrogativa do esprito. A matria precisava ser dominada para que no atrapalhasse a empresa do esprito.
2 Eu penso
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 11
Em Descartes, o Cogito foi exaltado ao mximo.3 Seu ob-jetivo era construir um caminho para se chegar conscincia clara e distinta a respeito das coisas, do mundo, da vida. Para tal, era preciso por em dvida a dvida hiperblica tudo o que existe, inclusive a prpria existncia. S h uma coisa que certa, que indubitvel: se penso, est claro que existo co-gito, ergo sum. Assim, tudo o que no ideia ou pensamento fica em segundo plano quando se trata de descobrir a essncia dos seres e fenmenos, pois o pensamento mais certo que a existncia corporal.
As coisas exteriores (instituies, organizaes, natureza etc.) so racionais em si mesmas. Isto , apresentam uma l-gica racional na sua constituio, organizao e dinmica. Cabe ao intelecto do sujeito apreender/decifrar essa lgica e represent-la em ideias. A realidade racional e pode ser cap-tada pelas ideias, pois a natureza, como um sistema orde-nado de causas e efeitos necessrios, cuja estrutura profunda e invisvel matemtica, isto , a causa de tudo sempre um movimento e esse movimento segue leis universais perfeitas que podem ser representadas matematicamente..
As coisas exteriores so conhecidas apenas quando o su-jeito as representa intelectualmente, apreendendo-as por operaes cognitivas realizadas pelo prprio sujeito do conhe-cimento. Nada pode ser conhecido pelos dados que a realida-de sensvel apresenta, pois esses dados podem ser enganosos.
3 Paul RICOEUR em O si-mesmo como um outro e Enrique DUSSEL em 1492: o encobrimento do outro apresentam detalhes dessa exaltao do cogito que se sobrepe a tudo e a todos.
-
12 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Para tal processo de conhecimento, Descartes formulou quatro regras para um mtodo capaz conhecer a essncia dos seres e fenmenos:
1 Regra da evidncia s aquilo que est absolutamente evidente por causa de sua clareza e distino pode ser aceito como verdadeiro.
2 Regra da anlise cada dificuldade que surgir precisa ser dividida em tantas partes quantas forem necessrias para compreend-la.
3 Regra da sntese o raciocnio precisa ser ordenado indo do mais simples ao mais complexo.
4 Regra da enumerao realizar numerosas verificaes completas e gerais para se ter certeza e confiana absoluta de que nada ficou de fora.Em suma, haja vista os sentidos e os juzos serem engana-
dores, caberia ao ser humano dominar todas as paixes, pois no so confiveis, so enganadoras e conduzem incerteza. A partir desse domnio e, solucionando a dvida hiperblica, mediante uma percepo racional clara e distinta, seria poss-vel traar um conhecimento de si e do mundo. Nesse caminho, Descartes supe uma espcie de gnio maligno cuja meta promover o engano.
1.2 Da dicotomizao do Ego Cogito unidade da vivncia perceptiva
Nietzsche questionou tanto as certezas do Cristianismo quanto as do Racionalismo. Para ele, o simples fato de pensar no
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 13
d a certeza da existncia para o ser humano. O querer e o sentir tambm comprovam a existncia4. No entanto, assim como a razo, tambm estes no propiciam nenhuma certe-za imediata. Nietzsche5 defendeu que conceber o ser humano como causa do conhecimento, como fez Descartes, implica elev-lo causa da natureza, das coisas e do mundo. Tal con-cepo conduz a uma compreenso enganosa, tanto sobre a natureza, as coisas e mundo quanto sobre o prprio ser hu-mano, pois apreender a verdade das coisas uma pretenso humana, criada a partir da linguagem para sobrepor o ser humano aos outros. No passam de camuflagem da vontade de poder. A existncia no ganha sentido pela razo, mas pela vontade. Esta e a cognio so construdas sobre os impulsos humanos, no sobre a razo.
Para Ricouer6, o cogito como critrio autofundante para alcanar a verdade das coisas mostra um sujeito desancorado e desencarnado, pois no d nenhum valor ao corpo. Nem mesmo para promover o engano. Este prerrogativa do gnio maligno. Logo, o eu do cogito essencialmente metafsico e hiperblico como a prpria dvida: no ningum. A prpria verdade do cogito v, porque precisa ser construda a partir de uma dvida que a si mesma se coloca, sem que o sujeito do Ego Cogito possa ser reconhecido nesse ato. O sujeito ser-
4 Friederich NIETZSCHE. Para alm do bem e do mal. In: Obras incomple-tas... (Os Pensadores)
5 Id. Ibid., p. 51ss.
6 Paul RICOEUR. O si-mesmo como um outro, p. 15ss
-
14 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
ve apenas para colocar uma substncia sob o cogito ou uma causa atrs dele.7
Outro aspecto importante para a presente caminhada sua concepo de outro. De mero objeto cartesiano, passou a ser visto como outro eu, que existe, assim como meu eu (sujeito), para si na sua subjetividade constituda e configu-rada pelas vivncias corporais (a percepo e as sensaes). Essas vivncias corporais possibilitam uma objetividade inter-subjetiva de si e do mundo, a partir do fenmeno.
Percebe-se claramente, em Ricouer, duas rupturas em rela-o ao Ego Cogito cartesiano: o outro sujeito cognoscente assim como eu no simples objeto; a apreenso do outro, de si, e do mundo se d no e a partir do corpo no da razo.
No sculo XX, surgiram outras reas do conhecimento que, sustentadas pelo Positivismo, no buscaram a fundao ltima do ser humano no cogito. No entanto, fizeram-no por meio de estudos mecanicistas e orgnicos. A Fisiologia foi um dos destaques nessa empreitada. Propunha-se a dar respostas a respeito do comportamento humano, que a Filosofia e a Re-ligio no estariam conseguindo fornecer. Para tal buscava a apreenso do ser humano mediante a observao emprica, mensurando e explicando suas aes.
Nesse cenrio, surgiu Sigmund Freud propondo uma rup-tura, tanto com os modelos fisiolgicos quanto com a filosofia reflexiva. A partir dessa proposio, construiu uma nova noo
7 Id. Ibid., p. 27
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 15
de sujeito, particularmente na teoria topogrfica e na teoria da sexualidade.
Na teoria topogrfica8, mediante a diviso da psique em In-consciente, Pr-consciente e Consciente, mostrou que a cons-cincia preterida pelo cogito refere-se apenas superfcie do aparelho psquico, conscincia imediata. Isto , o ser huma-no no apenas aquilo que pensa ser. A razo, para Freud, pode fornecer muitos dados, mas no passa de conscincia imediata, pois o sujeito cognoscente (aquele que conhece) guiado fundamentalmente por processos psquicos sobre os quais detm pouco conhecimento. Estes podem ser traduzidos a partir das representaes (sonhos, mitos, arte etc.) as vias de acesso ao inconsciente. Logo, tomada de conscincia de si e do mundo implica a decifrao dos enigmas propostos pelo inconsciente. Por isso, a conscincia jamais poder ser vista como uma apreenso total do ser, como prope o cogito.
Freud complementou esse seu estudo dos processos men-tais analisando a psique a partir da tica do desejo, pois en-tendia que esses processos no se esgotavam no fato de serem ou no conscientes. Para ele o desejo tinha muito a dizer a respeito da constituio do sujeito. Assim, a partir do desejo, dividiu a psique em Id, Ego e Superego.
8 Sigmund FREUD. Interpretao dos sonhos. Sigmund FREUD. Psicopato-logia da vida cotidiana.
-
16 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Id o habitat de Eros9 e Thnatos10. o centro pulsional de onde emergem todos os desejos. totalmente inconsciente e regido pelo Princpio do Prazer. O Ego consciente e incons-ciente. Tem a funo de intermediar os desejos e a realidade. Tendo sua origem no Id, regido pelo Princpio de Realidade. Esse princpio faz com que desenvolva mecanismos para re-primir ou adiar a satisfao dos desejos de Id. O Superego uma diferenciao do Ego, com influncias do meio externo, a partir da vivncia do Complexo de dipo. A vivncia desse complexo mediada tanto pelo medo da castrao quanto pela paixo pelo pai. A realidade social fornece limites para a vivncia desses medos. Esses limites, em forma de valores e normas morais, religiosas e sociais, introjetadas pela criana, transformam-se em critrios utilizados pelo Superego no seu af de guardar os desejos que emergem da batalha infinita entre Eros e Thnatos. O Superego basicamente consciente, mas compreende tambm partes inconscientes.
A batalha no se limita ao pulsional (entre Eros e Thna-tos) descarga de energia para buscar o prazer e evitar a dor. D-se tambm entre o Id, o Ego e o Superego. Na vida adulta normal, o Superego acaba vencendo.
Percebe-se que na teoria topogrfica, Freud traou uma nova concepo de sujeito, de ser humano, na qual a conscin-cia, longe de ser o elemento fundante desse ser humano, no
9 Termo grego que significa vida, pulso de vida que impulsiona para o contato e embate com os outros e a realidade.
10 Termo grego que significa morte, aniquilao. Expressa o desejo de no separao, de retorno situao uterina ou fetal, quer o repouso, a aniquila-o das tenses.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 17
passa de superfcie do seu aparato psquico. Nessa concepo, o que constitui o ser humano em seus pensamentos e aes so os desejos inconscientes, sob a gide de Eros e Thnatos.
A partir da sua Teoria da Sexualidade11, tambm fica claro que o ser humano muito mais que produto do cogito. re-sultado de uma infinidade de desejos e representaes. Freud, a partir do mtodo clnico, props-se a decifrar os enigmas de seus pacientes a partir das diferentes fases do desenvolvimento psicossexual, protagonizado pela libido. Mostrou que grande parte daquilo que o ser humano adulto, particularmente suas psicopatologias, resulta da qualidade da resoluo dos confli-tos peculiares s diferentes fases. Essa resoluo determina-da pelos movimentos da energia libidinal: fixao, progresso e regresso.
Outra superao do separatismo, protagonizado pelo cogito, foi encabeada pelo fenomenlogo alemo Edmund Husserl12. Defendendo uma conscincia e objetos intencionais, rompeu com a verdade objetiva e concluiu que o corpo no a razo a expresso, a impresso e o sensvel que coloca o ser humano em relao com o mundo. Logo, a vivncia corprea que d ao sujeito a dimenso do eu e o torna um sujeito cognoscente.
Merleau-Ponty13, para compreender o sujeito, voltou-se para a existncia. Encontrou na percepo e no sensvel os
11 Sigmund FREUD. Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade.
12 Edmund HUSSERL. A ideia da fenomenologia
13 Maurice MERLEAU-PONTY. Fenomenologa de la Percepcin.
-
18 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
indcios necessrios para a compreenso desse mesmo sujeito, do ser humano, bem como a sua relao com o mundo. Ele ampliou a concepo de conscincia fenomenolgica de Hus-serl, concebendo a conscincia perceptiva14 e destacando a importncia do corpo sensvel. Situou a conscincia no corpo e o corpo no mundo. Nessa caminhada, desenvolveu o con-ceito de corpo vivido, ou seja, h um imbricamento tal entre o sujeito e o objeto que inexiste o ser constitudo e o consti-tuinte. O corpo e a coisa esto enxertados. Tal imbricamento pr-reflexivo, porque o corpo se encontra atado (acoplado) ao tecido das coisas. Ele no apenas toma conscincia das coisas, do mundo, mas integra-o. Conscincia participante, constituinte do mundo, no mera simbolizao que se pode fazer dele. Ambos, corpo e mundo entrelaam-se mutuamen-te. Aquele que toca tocado ao mesmo tempo e vice-versa. O sujeito objeto e, ao mesmo tempo, o objeto sujeito. Logo, a coisa percebida15 no uma unidade ideal possuda pela inteligncia. Ela uma totalidade aberta ao horizonte de um nmero indefinido de perspectivas.
A partir disso, criticou a noo de conscincia da filoso-fia tradicional e a de inconsciente de Freud por entender que ambas deixam de lado a percepo e o corpo. A crtica de Merlau-Ponty consta do seguinte: tradicionalmente, o incons-ciente foi concebido como um campo de simbolizaes, opos-to conscincia, no constitutivo do mundo; a relao do ser humano com o mundo passa pela conscincia reflexiva, no
14 Maurice MERLEAU-PONTY. O primado da percepo e suas consequn-cias filosficas, p. 39 ss.
15 Id. Ibid., p. 48.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 19
pelo corpo. Concluiu afirmando que, na verdade, essa relao pr-reflexiva, pois o corpo, e no a conscincia, detm todas as dimenses da existncia. Logo, no h nada a ser procura-do no inconsciente. Muito menos, procurar um inconsciente no fundo ou atrs da nossa conscincia. Ao contrrio,
... o que se deve compreender , alm das pesso-as, os existenciais segundo os quais ns compreen-demos e que o sentido sedimentado de todas as nossas experincias voluntrias. Esse inconsciente a ser procurado no est no fundo de ns mesmos, atrs de nossa conscincia, mas diante de ns como articulao de nosso campo.16
Assim, inconsciente no o inverso da conscincia, no uma concretizao de experincias passadas, nem se encontra apenas em plano psquico. Inconsciente o poder articulador do nosso campo. Ele compreende basicamente o presente, pois nele que toda a apreenso perceptiva se liga s outras, mas tambm o passado.
A partir dessa perspectiva, no h como compreender o ser humano por e a partir de si mesmo (dos fenmenos psquicos), nem pelo que est fora dele. Para Merlau-Ponty a vivncia per-ceptiva, e no a conscincia reflexiva ou o inconsciente (como quer a psicologia Personalista e a Racional e a filosofia ilumi-nista-idealista pr-hegeliana, bem como a racionalista carte-siana), a possibilidade fundante de todo o conhecimento.17
16 Maurice MERLEAU-PONTY. O visvel e o invisvel..., p. 174.
17 Maurice MERLEAU-PONTY. O primado da percepo e suas consequn-cias filosficas, p. 49.
-
20 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Uma pergunta que se coloca : como minha experincia perceptiva se liga experincia perceptiva que outros tm dos mesmos objetos?
preciso, pois, que, pela percepo do outro, eu me ache colocado em relao com um outro eu que este-ja, em princpio, aberto s mesmas verdades que eu, em relao com o mesmo ser que eu. E essa percep-o se realiza. Do fundo de minha subjetividade, vejo aparecer uma outra subjetividade investida de direitos iguais, porque no meu campo perceptivo se esboa a conduta do outro, um comportamento que eu com-preendo, a palavra do outro, um pensamento que eu abrao e de que aquele outro, nascido no meio dos meus fenmenos, se apropria, tratando-o segundo as condutas tpicas de que eu prprio tenho a experin-cia. Do mesmo modo que meu corpo, como sistema de minhas abordagens, funda a unidade dos objetos que eu percebo, o corpo do outro, como portador das condutas simblicas e da conduta do verdadei-ro, afasta-se da condio de um de meus fenmenos, prope-me a tarefa de uma verdadeira comunicao e confere a meus objetos a dimenso nova do ser intersubjetivo ou da objetividade.18
Destaque-se que a percepo no compreende simples-mente sensaes pessoais, nem resulta de atos de inteligncia, mas se configura a partir de minhas percepes em uma inter-
18 Id. Ibid., p. 50, 51.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 21
-relao analgica 19 com o outro. E, esse outro mais que um fenmeno do meu campo perceptivo. sujeito do seu pr-prio campo perceptivo com direitos iguais aos meus. Ou seja, na percepo de determinado ser ou objeto, sua percepo to importante quanto a minha e imprescindvel para com-pletar a minha percepo, pois confere aos meus objetos a dimenso nova do ser intersubjetivo ou da objetividade. Quer dizer, sem a percepo do outro, minhas percepes no pas-sam de simples sensaes privadas, s minhas.
Sendo a vivncia perceptiva a via do conhecimento, a lin-guagem se torna a via de acesso para a compreenso do Ser20. Essa linguagem no uma simbolizao, mas a expresso do sentido daquilo que experimentado pelo corpo sensvel, a exteriorizao da vivncia perceptiva.
Para Merleau-Ponty tal linguagem no faz o pensamento, nem o contrrio, pois, na vivncia perceptiva, no h como se-parar ou dicotomizar sujeito/objeto, conceito/percepto, conte-do/sensao. Dussel magistralmente sintetiza essas premissas de Merleau-Ponty:
Merleau-Ponty j demonstrou claramente que as sensaes esto integradas em um campo, que in-clui como partes indivisveis as sensaes: a percep-
19 Relao que, para a Filosofia da Libertao, particularmente para Enri-que Dussel, uma relao entre dois sujeitos (e seus mundos) distintos. Sujeitos e mundos to diferentes que inviabilizam a cooptao de qualquer um deles pelo ou-tro. No entanto, jamais to diferentes que inviabilizam uma inter-relao analgica entre ambos. Analgica, porque o paradigma da relao no o da razo lgica, mas o da vivncia perceptiva, acentuadamente analgico alm da lgica.
20 Maurice MERLEAU-PONTY. Resumo de cursos: filosofia e linguagem.
-
22 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
o. A percepo a totalidade fenmeno-sensvel, constituda por unidades indivisveis de sensaes--eidticas. Assim como h concepo de sentido na interpretao, assim h concepo de campo ime-diato pela sensibilidade. Conceito e percepto (ima-gem sensvel) do-se simultaneamente, porque a interpretao um ato de inteligncia-sentiente, e a percepo um ato de sensibilidade-inteligente. As-sim como no se pode dividir o homem em corpo e alma, assim tambm no se pode dividir o contedo eidtico do sensvel.21
Para Merleau-Ponty, h dois tipos de linguagem no caminho da apreenso do ser ou do mundo: a do pintor e a do escritor22. A do pintor a que melhor possibilita a apreenso do ser e do mundo, pois expressa aquilo que experimenta um jeito tremen-damente prximo da experincia pr-reflexiva. Antes de tratar--se de expresso reflexiva, vivncia perceptiva. Trata-se uma linguagem encarnada e corprea. Encarnada, porque est in-separavelmente tecida s coisas, ao mundo. Corprea, porque sua construo e exteriorizao se do no e mediante o corpo.
Percebe-se, assim, que a apreenso do ser se d mediante o acesso ao inconsciente, ou, mediante a expresso daquilo que acontece pr-reflexivamente. Esse ser est tecido s coi-sas, ao mundo, inseparavelmente. A relao entre ambos prioritariamente perceptiva. Logo, a conscincia uma cons-
21 Enrique DUSSEL. Filosofia da libertao, p. 41.
22 Maurice MERLEAU-PONTY. Textos selecionados. O olho e o esprito, p. 89 (Os pensadores).
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 23
cincia encarnada. Consequentemente, sempre remeter ao irrefletido, cuja expresso ou exteriorizao se d preferencial-mente pela linguagem encarnada e corprea.
Recapitulando
A partir das reflexes acima, importante perceber que a com-preenso de um acontecimento, um fenmeno, uma realida-de, um grupo, uma comunidade, uma sociedade etc., h que ultrapassar as habilidades e possibilidades da razo objetiva do eu penso, uma vez que:
- o simples fato de pensar no d a certeza da existncia para o ser humano. O querer e o sentir tambm compro-vam a existncia (Nietzsche);
- a existncia no ganha sentido pela razo, mas pela von-tade. Esta e a cognio so construdas sobre os impulsos hu-manos, no sobre a razo (Nietzsche);
- o Outro sujeito cognoscente assim como eu e no sim-ples objeto. Ele sente, percebe, pensa e vive a partir de suas prprias referncias. Logo, no pode ser compreendido ape-nas a partir das referncias do meu eu (Ricouer);
- a apreenso do outro, de si, e do mundo se d no e a partir do corpo no da razo (Ricouer);
- a razo pode fornecer muitos dados, mas no passa de conscincia imediata, pois o sujeito cognoscente (aquele que
-
24 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
conhece) guiado fundamentalmente por processos psquicos sobre os quais detm pouco conhecimento (Freud);
- a tomada de conscincia de si e do mundo implica, tam-bm, a decifrao dos enigmas propostos pelo inconscien-te. Por isso, a conscincia jamais poder ser vista como uma apreenso total do ser, como prope o Ego Cogito (Freud);
- a conscincia, longe de ser o elemento fundante do ser hu-mano, no passa de superfcie do seu aparato psquico (Freud);
- a conscincia e objetos so intencionais, isto , o ser hu-mano, percebendo ou no, escolhe o que vai conhecer. Essa escolha implica a subjetividade, por isso no existe nenhuma verdade completamente objetiva (Husserl);
- o corpo (no a razo) a expresso, a impresso e o sensvel que coloca o ser humano em relao com o mundo. Logo, a vivncia corprea que d ao sujeito a dimenso do eu e o torna um sujeito cognoscente (Husserl);
- o ser humano se constitui como corpo vivido, ou seja, h um imbricamento tal entre o sujeito e o objeto que inexis-te o ser constitudo e o constituinte. O corpo e a coisa esto enxertados. Tal imbricamento pr-reflexivo, porque o corpo se encontra atado (acoplado) ao tecido das coisas. Ele no apenas toma conscincia das coisas, do mundo, mas integra--o (Merleau-Ponty);
- a relao do ser humano com o mundo (a vivncia per-ceptiva) pr-reflexiva, pois o corpo, e no a conscincia, detm todas as dimenses da existncia (Merleau-Ponty);
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 25
- a vivncia perceptiva, e no a conscincia reflexiva ou o inconsciente (como quer a psicologia Personalista e a Racional e a filosofia iluminista-idealista pr-hegeliana, bem como a racionalista cartesiana), a possibilidade fundante de todo o conhecimento (Merleau-Ponty);
- a percepo no compreende simplesmente sensaes pessoais, nem resulta de atos de inteligncia, mas se configura a partir de minhas percepes em uma interrelao analgica com o outro, pois sua percepo to importante quanto a minha e imprescindvel para complet-la, uma vez que confere aos meus objetos a dimenso nova do ser intersubjetivo ou da objetividade (Merleau-Ponty);
- na vivncia perceptiva, a linguagem se torna a via de acesso para a compreenso do Ser e do mundo. Essa lingua-gem no uma simbolizao, mas a expresso do sentido daquilo que experimentado pelo corpo sensvel, a exterio-rizao da vivncia perceptiva (Merleau-Ponty);
- a apreenso do ser se d mediante a expresso daquilo que acontece pr-reflexivamente. Esse ser est tecido s coi-sas, ao mundo, inseparavelmente. A relao entre ambos prioritariamente perceptiva. Logo, a conscincia uma consci-ncia encarnada sempre remeter ao irrefletido, cuja expres-so ou exteriorizao se d preferencialmente pela linguagem encarnada e corprea (Merleau-Ponty).
-
26 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Atividade
Complete com A as afirmativas abaixo que se referem pers-pectiva do Ego Cogito e, com B as afirmativas que se referem perspectiva da vivncia perceptiva.
( ) S h uma coisa que certa, que indubitvel: se penso, est claro que existo.
( ) O corpo se encontra atado (acoplado) pr-reflexivamente ao tecido das coisas.
( ) Conhecer, constituir e dar sentido a tudo passou a ser prer-rogativa do esprito.
( ) A linguagem no uma simbolizao, mas a expresso do sentido daquilo que experimentado pelo corpo sensvel, a exteriorizao da vivncia perceptiva.
( ) As coisas exteriores (instituies, organizaes, natureza etc.) so racionais em si mesmas.
( ) A relao do ser humano com o mundo (a vivncia per-ceptiva) pr-reflexiva, pois o corpo, e no a conscincia, detm todas as dimenses da existncia.
( ) As coisas exteriores so conhecidas apenas quando o su-jeito as representa intelectualmente.
( ) A apreenso do ser se d mediante a expresso daquilo que acontece pr-reflexivamente.
( ) S aquilo que est absolutamente evidente por causa de sua clareza e distino pode ser aceito como verdadeiro.
( ) A vivncia perceptiva, e no a conscincia reflexiva ou o inconsciente a possibilidade fundante de todo o co-nhecimento.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 27
( ) Cada dificuldade que surgir no processo de conhecimento precisa ser dividida em tantas partes quantas forem neces-srias para compreend-la.
( ) O raciocnio precisa ser ordenado indo do mais simples ao mais complexo.
( ) necessrio realizar numerosas verificaes completas e gerais para se ter certeza e confiana absoluta de que nada ficou de fora.
( ) Na percepo de determinado ser ou objeto, a percepo do outro to importante quanto a minha e imprescindvel para completar a minha percepo.
-
28 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
REFERNCIAS
Descartes, Ren. Discurso do mtodo; As paixes da alma; Meditaes So Paulo: Nova Cultural, 2000. 335 p. (Os Pensadores).
DESCARTES, Ren. Meditaes. In: CIVITA, Victor (ed.). Os pensadores, v. 15, So Paulo: Nova Cultural, 1987.
DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertao. SP: Loyola, s. d.
FARIA, Nilton Juliano. A tragdia da conscincia: tica, psicolo-gia e identidade humana. Piracicaba: UNIMEP, 1996, 96 p.
FREUD, Sigmund. A Interpretao dos sonhos. 4. ed. So Pau-lo: Crculo do Livro, 1990.
FREUD, Sigmund. Trs ensaios sobre a teoria da sexualida-de. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 120 p.
FREUD, Sigmund; STRACHEY, Alix; TYSON, Alan. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Rio de Janeiro: Imago, 2006. 311 p. (Edio standard brasileira das Obras psico-lgicas completas de Sigmund Freud ;v. 6)
HUSSERL, Edmund. A ideia da fenomenologia. 70. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1986. 133 p.
MERLEAU-PONTY Maurice. Textos selecionados. O olho e o esprito, p. 89 (Os pensadores).
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepo. 4. ed. So Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. 662 p.
-
Captulo 1 A relao ser humano-mundo no ocidente... 29
MERLEAU-PONTY, Maurice. Merleau-Ponty na Sorbonne: resu-mo de cursos. Campinas: Papirus, 1990. 2 v.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O primado da percepo e suas consequncias filosficas. Campinas: Papirus, 1990. 93 p.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O visvel e o invisvel. 4. ed. So Paulo: Perspectiva, 2007. 271 p. (Debates; 40).
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o Esprito. Em: Maurice Merleau-Ponty. Textos selecionados por Marilena.
Chau. So Paulo: Abril Cultural, 1980 (Coleo Os Pensado-res).
NIETZSCHE. Obras Incompletas. So Paulo: Nova Cultu-ral, 2000. 464 p. (Os pensadores).
RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Traduo de Lucy Moreira Cesar. Campinas: Papirus, 1991.
RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Traduo de Ni-cols Nyimi Campanrio. So Paulo: Loyola, 2006.
-
Do raciocnio lgico-racional ao sistmico
A perspectiva lgico racional apresenta como caracte-rsticas: a certeza, a lgica racional, a ordem, a ob-jetividade, a neutralidade, a explicao e a linearidade. Apenas a explicao objetiva, construda a partir dos da-dos objetivos do mtodo cientfico, aceita como verda-de. O mundo concebido como uma grande mquina que, naturalmente, tende ordem. Se algo no funciona bem porque uma ou mais partes no esto bem ajusta-das ao todo. A subjetividade, a corporeidade, a intuio, o desejo, as percepes etc. so tidas como enganosas, portanto, no servem para descobrir a verdade dos fatos.
Essas caractersticas definiram o processo cientfico do
Arno Vorpagel Scheunemann
Captulo 2
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 31
sculo XVII ao sculo XX. A partir da metade dos anos 1900, quando as cincias sociais passaram a no aceitar mais a leitura objetiva da realidade como nica alternativa, passou-se a questionar os pressupostos lgico-lineares de causalidade, afirmando que: cada ato de conhecimento requer um ato de interpretao; que natureza e o mundo so sistemas, constitudos por inmeros subsistemas que se autoproduzem a auto-organizam em processos circula-res; que a ordem, a desordem e sucessivas organizaes caracterizam a vida, a natureza e o mundo.
Nessa perspectiva, defendia-se que: separar e isolar os elementos para compreender algo insuficiente, pois o mundo est globalmente interligado por cadeias complexas de eventos e a natureza uma complexidade organizada, viva e ativa;
explicar os sistemas em termos de circularidade implica considerar que sua histria passada elemento ativo na configurao e constituio da histria presente;
no h componente no sistema capaz de controlar ou determinar unilateralmente o funcionamento do outro.
Essa maneira de conceber a vida, a natureza e o mun-do contou com o engajamento de cientistas de diferentes reas: Mc Culloch, neurofisilogo); Gregory Bateson, an-troplogo e terico da comunicao; Heinz von Foerster, fsico; Rosenbluth, bilogo; Jean Piaget, psiclogo e epis-temlogo; Margareth Mead, antroploga.
Neste captulo, destacarei contribuies e autores desse processo de superao da linearidade causal em direo compreenso sistmica da vida, do mundo e da natureza.
-
32 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
2.1 A primeira contribuio: os processos circulares e a retroalimentao
Um dos primeiros a ser citado nessa empreitada e o mate-mtico Norbert Wiener, fundador da Ciberntica, nos anos 40. Valendo-se de teorias como a da informao (Shan-non), dos jogos (von Neumann) e a dos sistemas gerais (von Bertalanffy) props-se a estudar princpios organizati-vos que pudessem ser usados tanto nas mquinas artificiais quanto nos organismos vivos e nos fenmenos psicolgicos e sociais. Wiener concebia e construa mquinas com cir-cuitos circulares que possibilitassem mesma corrigir seu funcionamento. Esses circuitos circulares permitiam reinserir no sistema os resultados de sua histria passada. Esse me-canismo circular de reinsero tornou-se conhecido como retroalimentao negativa.
A retroalimentao um processo pelo qual um sistema realimenta seu processo com algo que ele mesmo produz, a fim de manter seu padro e estado de organizao, evitan-do que a contnua produo da mesma coisa gere sua des-truio. Por exemplo: o corpo humano produz energia para manter-se acordado. Esse processo de produzir energia para estar acordado gera a fadiga (cansao) que produz sono. O processo do sono necessrio para restabelecer (sempre de novo processo circular) as condies necessrias para pro-duzir o estar acordado.
Ludwig von Bertalanffy que, a partir da dcada de 30, bus-cando descrever leis que explicassem o funcionamento dos sistemas gerais independentes de sua substncia, formulou
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 33
a Teoria Geral dos Sistemas. Apesar do mecanismo de cir-cularidade superar a causalidade linear, para Bertalanffy ele ainda conserva aspectos mecanicistas. A retroalimentao e a homeostase1 so insuficientes para descrever ou explicar os organismos vivos, que protagonizam atividades espontneas, processos de criao, de crescimento e outros, pois so siste-mas fechados nos quais no se considera a possibilidade de transio para estados de maior complexidade. Para a ciber-ntica, um sistema fechado desenvolve-se em direo a uma desordem crescente ou indiferenciao a lei da entropia na termodinmica. Para Bertalanffy, os organismos vivos contradi-zem essa lei, pois neles possvel tanto o aumento da ordem quanto a diminuio da entropia.
2.2 A segunda contribuio: a retroalimentao positiva
Por quase duas dcadas o trabalho na perspectiva sistmica viveu uma espcie de dilema. Por um lado, havia os que enfa-tizavam a importncia da retroalimentao positiva como um fator construtivo-positivo nas relaes familiares (MINUCHIN,
1 Retro significa atrs. Retroalimentao o processo pelo qual o produto de um sistema retorna para alimentar o prprio sistema. Por exemplo, o sistema de uma geladeira produz frio. Contudo, o prprio frio produzido dispara a vlvula termostti-ca, desligando o motor a fim de que o sistema permanea no estado de resfriamento (temperatura) para o qual foi projetado (homeostase). Ou seja, o frio (produto do sistema da geladeira) volta para evitar que congele tudo, implodindo o sistema sobre si mesmo (entropia). Quando a temperatura ultrapassa o estado de resfriamento do sistema, este retoma a produo de frio em um processo circular contnuo: liga o motor resfria desliga o motor temperatura sobe liga o motor...
-
34 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
1982). Por outro, massiamente, destacava-se seu potencial destrutivo no sistema, privilegiando seu equilbrio. Na prti-ca, buscava-se a mudana a partir e mediante um referencial de estabilidade, resistncia e homeostase. Acreditava-se que sistemas homeostticos, isto , equilibrados, s poderiam ser modificados a partir de perturbaes externas, pois estariam imunes s suas prprias flutuaes e possibilidades de mudan-a. Espontaneamente, no conseguiriam mudar seu padro de relao.
Com Bateson foi dado um passo a mais na superao da linearidade causal. At ento, a ciberntica estava mais preo-cupada com os mecanismos e processos de homeostase, isto , com as estratgias de ao dos sistemas e organismos para manter sua estabilidade, apesar da mudana permanente nas interaes entre seus componentes e do fluxo ininterrupto des-ses componentes como o caso dos organismos vivos. Em outras palavras, por mais que circulassem informaes dife-rentes dentro do sistema e, por mais que houvesse intercmbio de informaes com o ambiente, a preocupao se centrava no estabelecimento e manuteno do equilbrio do sistema. Para Bateson, os modelos cibernticos tambm so dotados de outro tipo de mecanismo de retroalimentao que, ao invs
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 35
de corrigir o desvio, aumenta-o retroalimentao positiva2. O que pode levar sua destruio ou a uma mudana des-contnua, transformando o padro de funcionamento.
Nesse novo padro de funcionamento, a evoluo do sis-tema no tempo e sua continuidade dependem de uma com-binao do aleatrio e da redundncia da ordem e da de-sordem. Essa mudana descontnua foi descrita por Bateson (1986) como mudana de segunda ordem, pois estava alm daquelas reversveis e adaptativas que mantm o sistema prximo ao seu padro, mediante os mecanismos de correo do desvio.
2.3 A terceira contribuio: as estruturas dissipativas, a ordem a partir do rudo e a autorreferncia
A circularidade acentuadamente mecanicista passou, en-to, a ser estudada em termos de desordem, complexidade, instabilidade e coerncia. Os sistemas biolgicos e sociais passam a ser vistos como extremamente complexos, em pa-tamares distantes do equilbrio. Prigogine fala em estruturas
2 Retroalimentao positiva aquela que aumenta o rudo, o desvio, o problema, produzindo elementos e informaes novas, capazes de proporcionar as condies necessrias para o sistema se estabilizar em patamares mais com-plexos de organizao. Por exemplo, se em um grupo de amigos (sistema) um dos integrantes ofender outro, essa ofensa pode produzir um processo interminvel de ofensas mtuas. Uma primeira ofensa desencadeou a produo de muitas ofensas (retroalimentao positiva). Se a produo de ofensas no for interrompida, poder destruir o grupo (entropia). Contudo, se, ao surgirem as primeiras ofensas, o grupo desenvolver mecanismos para negativar as ofensas produzidas e evitar o acmulo de novas, estar desenvolvendo um processo de retroalimentao negativa (que aniquila o rudo as ofensas).
-
36 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
dissipativas (PRIGOGINE, 1984). Nestas, as mudanas so amplificadas de tal forma que tm destino imprevisvel e irrever-svel, gerando uma infinidade de pontos instveis. Esses pontos so possibilidades de caminho para o seu futuro. A escolha do caminho que o sistema seguir imprevisvel ao observador e no pode ser controlado. O sistema autorreferencia-se. Trata--se da ordem atravs do rudo (FOERSTER, 1991) ou, da ordem atravs da flutuao (PRIGOGINE, 1984).
A autorreferncia o processo pelo qual, considerando a teia de relaes e interaes, os sistemas estabelecem seus parmetros, condies e valores. Respaldados nesses parme-tros, condies e valores atribuem significado a tudo o que chega e sai do seu sistema metablico. Em outras palavras, criam e estabelecem um conjunto de elementos a partir dos quais decidem o que fazer em cada circunstncia.
A autorreferncia, cujo crculo criativo e virtuoso no vicioso e repetitivo, passa a determinar a verso da circulari-dade. O sistema passa a ser visto como uma rede de produ-o de componentes que, por sua vez, produzem novos com-ponentes, em um processo recursivo e autorreferente. Nessa verso (MATURANA; VARELA, 1995), embora a relao com o ambiente seja fundamental, ela no controla nem determina o curso do sistema. Tais sistemas no permitem que sua direo seja determinada desde fora de sua coerncia, como no caso da entropia. Perturbaes do meio apenas geram comporta-mentos compatveis com sua constituio.
A partir da ordem atravs da flutuao (PRIGOGINE, 1984), quando o afastamento do equilbrio deixou de ser visto
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 37
como perturbao temporria, passando a ser encarado como fator de evoluo do sistema atravs de saltos descontnuos, a perspectiva sistmica comeou a superar a viso de equilbrio, em direo a uma viso orientada para a compreenso dos processos pelos quais o sistema (vivo, social) evolui.
O olhar foi dirigido para as alternativas disponveis nas flu-tuaes, que pudessem servir mudana. Viu-se, assim, que um sistema capaz gerar os recursos necessrios para realizar mudanas. Os sintomas deixaram de ser vistos como meca-nismos homeostticos. Olhou-se para eles como uma alter-nativa amplificada, uma soluo possvel para um sistema em determinado momento. A crise deixou de ser um perigo para ser parte imprescindvel no processo de mudana. A questo (RAPIZO, 1998, p. 69) no era mais fazer o sistema resistente mudana. No trabalho com famlias, por exemplo, o profis-sional passou a atuar mais no sentido de mobilizar recursos familiares, levantar e ampliar informaes at ento irrelevan-tes para o discurso oficial da famlia. Voltou-se para o desco-nhecido, o perifrico, o no valorizado, que funcionasse como uma alavanca de mudana. Perguntar, reconstruir a histria e redefinir papis passou a ser o centro a atuao do profissio-nal, que tinha na linguagem da famlia sua via de acesso ao sistema familiar.
-
38 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
2.4 A quarta contribuio: observao e linguagem no so neutras
Se, por um lado no permitem essa determinao de destino, por outro, os circuitos de circularidade expandem-se a ponto de enlaar o prprio observador. No processo de observar, o observador delimita em si mesmo um outro sistema autnomo, no qual observador e sistema observado interatuam a partir de processos autorreferenciais, superando a clssica distino dicotmica entre observador e observado. Com isso, so questionados os pressupostos da objetividade e da repre-sentao, fortemente presentes na primeira ciberntica.
Sensvel s teorias construtivistas, a ciberntica apontou que o critrio de cognio no podia continuar sendo o da representao correta de um mundo que se d de antemo. Para a ciberntica, se considerarmos a autonomia dos siste-mas auto-organizadores, precisamos reconhecer que o co-nhecimento revela as propriedades emergentes do observador, e no uma realidade independente, l fora. Isto , o que percebido uma construo de quem percebe e no a reali-dade em si. Exemplificando, a famlia que eu descrevo no a famlia em si, mas a que eu percebo. Precisamos abandonar a noo de correspondncia entre conhecimento e realidade, ou a de que o conhecimento a construo de mapas que correspondem a um territrio, pois a realidade no determina o conhecimento, mas revela a estrutura3 do observador. Em
3 Estrutura designa um sistema complexo que compreende desde a cor-poralidade at as tradies culturais e lingusticas do mundo em que se vive.
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 39
outras palavras, no h realidade independente da linguagem (RAPIZO, 1998, p. 69).
Para ressaltar a importncia da observao, como resul-tado da dinmica interna do observador enquanto ser hu-mano vivo em relaes , Maturana e Varela defenderam que tudo o que dito dito por um observador (MATURANA; VARELA, 1995). Acentua-se, assim, que o mundo no um sistema externo que se capta ao observar, mas uma constru-o que surge na dinmica da nossa experincia de seres em relao, ou seja, ativamente participamos da construo do mundo em que vivemos.
Cresceu a importncia de verificar as relaes entre obser-vador, linguagem e sociedade. Para Sluzki (1997) ser obser-vador estar em um barco, constru-lo e naveg-lo, ao mesmo tempo. Para Foerster, tudo o que dito dito a um observador (1991, p. 89). Estabelece-se um duplo jogo de observao que precisa ser considerado na compreenso dos processos sociais e cientficos: um observador observa e expressa por meio da linguagem o que observou e, quem in-terage com o que foi expresso outro observador. Significa que aquilo que foi observado passou por duas observaes/interpretaes/recriaes.
Foerster quis apontar que os observadores se conectam pela linguagem, e, ao se conectarem, estabelecem relaes, constroem uma sociedade o mundo em que vivem. Nesse processo, a linguagem constitutiva do sujeito e do mundo. Ela no transmite informaes, nem denota objetos ou refle-te o mundo, mas expressa e cria o mundo e o sujeito desse
-
40 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
mundo. Ela compem a autorreferncia dos sujeitos e grupos. Logo, no h como estabelecer uma anterioridade lgica ou cronolgica entre observador, linguagem e sociedade, pois cada um constitutivo e constituinte de si mesmo e dos outros.
Mais uma vez, fecham-se as portas para a dicotomia ra-cional e objetiva entre sujeito e objeto, para a descrio, a avaliao e a representao objetivamente construdas, pois o conhecer passa a ser entendido como uma atividade circular que enlaa a ao e o conhecimento, o conhecedor e o co-nhecido. No contexto do trabalho com famlias, Rapizo assim sintetiza essa mudana:
...neste momento, quase todos os baluartes sobre os quais a terapia sistmica de famlia se apoiava, co-meam a ruir. Nem homeostase, nem intervenes que causam mudanas, nem possibilidade de con-trole. Impossvel a observao objetiva. Os sistemas evoluem descontinuamente, usam a desordem para alcanar novas ordens, no so determinadas pelo meio, mas sim por sua estrutura; no caso dos sistemas sociais, so sistemas de linguagem, e ainda por cima, apenas distines de um observador que no tem nenhuma fundamentao objetiva para seu conheci-mento... No h mais um terapeuta/observador que descreve uma famlia/sistema observada. H uma ruptura dessa diviso e surge em seu lugar o sistema observante/teraputico, onde o sistema emerge como distino, construo de seus participantes. O conhe-cimento uma construo social, lingustica, biolgi-ca, feita no seio de uma comunidade de observadores
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 41
em convivncia. A pergunta no mais como esse sistema? mas como geramos o sistema que descre-vemos? Uma famlia no um sistema. Uma famlia uma distino de um observador ou comunidade de observadores, que podem ou no usar uma lingua-gem sistmica para falar dela. Assim, podem existir tantas famlias quantos observadores, com elementos compartilhados e no compartilhados nessa distino (1998, p. 70).
As regras fixas, os a priori, foram substitudos pela lingua-gem e pelo profissional. O problema deixou de ser localizado no sistema (familiar, comunitrio) para ser procurado na cons-truo da realidade (familiar e comunitrio-social). O sistema deixou de ser visto como resultado de uma organizao social. A interao profissional-famlia/grupo (usurio) passou a ser visto mais como colaborativo que hierrquico.
A partir dessa perspectiva sistmica, o trabalho profissional se tornou um contexto exploratrio de possibilidades e restri-es mudana, em detrimento da busca por mudanas. Ou seja, os profissionais no se viam mais como os agentes de mudanas, mas como um parceiro do usurio na busca por alternativas. Eliminou-se o espao para dirigir o processo de trabalho ou a vida das pessoas envolvidas. O foco do trabalho profissional sistmico se deslocou daquilo que possvel intro-duzir no sistema para aquilo que o sistema pode selecionar. Em outras palavras, se valorizou as diferentes narrativas sobre o problema, bem como, as diferentes expectativas e alternati-vas existentes no interior do sistema em crise.
-
42 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
O papel do sistema profissional-usurio deixou de solu-cionar problemas, buscando superar os impasses na soluo de problemas, mediante um melhor agenciamento do sistema para a tomada de decises e a mobilizao de seu potencial de autoproduo e auto-organizao. A complexidade de nar-rativas passou a ser introduzida na tentativa de construir intera-es dialgicas4 entre as diferentes vozes.
4 Dialgico no pode ser confundido com dialogal ou interao dialoga-da. Podemos encontrar dilogos dialticos, lgico-lineares e dialgicos. O que vem a ser dialgico? Dialgico composto por dois termos gregos: di, que significa atravs; logiks, que expressa o logos (saber) organizado, lgico. Assim, dialgico expressa uma forma de saber que ultrapassa a lgica. Ao mesmo tempo, a compo-sio de dialgico pode ser vista da seguinte forma: di + a + logikos. Di significa dois, mais de um, plural. A expressa negao (apoltico, por exemplo). Assim, dialgico expressa uma forma de conhecer e conhecimento na qual mais de uma verdade, mesmo contrrias entre si, podem ser verdadeiras.
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 43
Recapitulando
Vimos que o processo histrico da perspectiva sistmica foi sensvel aos novos conhecimentos produzidos, particularmente aos da Ciberntica e do Construtivismo. Em sua fase inicial, caracterizava-se pela objetividade e pela neutralidade. A partir de elementos da Ciberntica e da Teoria Sistmica comeou a superar essa objetividade e neutralidade, pois os fatos, as pessoas e os acontecimentos passaram a ser vistos globalmen-te interligados. A histria de cada um, seja das pessoas, dos grupos ou dos acontecimentos, passou a ser lida de forma circular. A nenhum elemento do sistema se permitia controlar ou determinar unilateralmente o outro.
Quando, nesse processo, a homeostase a grande meta da perspectiva sistmica de primeira ordem foi superada pela concepo da retroalimentao positiva, abriu-se espa-o para ler pessoas, acontecimentos, fatos, sistemas etc., em termos de desordem, desequilbrio, complexidade, insta-bilidade e coerncia. O sistema passou a ser visto como uma rede de produo de componentes, em um processo circular recursivo e autorreferente. Nele, os componentes do sistema produzem o sistema e a si mesmos, em um processo imprevi-svel e incontrolvel.
-
44 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Atividade
Marque V (Verdadeira) ou F (falsa) nas afirmativas abaixo:
( ) A perspectiva lgico-racional se caracteriza pela certeza, pela lgica racional, pela ordem, pela objetividade, pela neutralidade, pela explicao e pela linearidade.
( ) A perspectiva sistmica concebe o mundo como uma gran-de mquina que, naturalmente, tende ordem.
( ) Para a perspectiva sistmica, a subjetividade, a corporei-dade, a intuio, o desejo, as percepes etc. so enga-nosas, logo seus dados no podem ser considerados na produo de conhecimento.
( ) Para a perspectiva sistmica, a natureza e o mundo so sistemas, constitudos por inmeros subsistemas que se au-toproduzem a auto-organizam em processos circulares.
( ) Para perspectiva lgico-racional, separar e isolar os ele-mentos para compreender algo insuficiente, pois o mun-do est globalmente interligado por cadeias complexas de eventos e a natureza uma complexidade organizada, viva e ativa.
( ) A retroalimentao um processo pelo qual um sistema rea-limenta seu processo com algo que ele mesmo produz, a fim de manter seu padro e estado de organizao, evitando que a contnua produo da mesma coisa gere sua destruio.
( ) Entropia o processo pelo qual um sistema desenvolve a habilidade de se equilibrar em patamares mais complexos de organizao.
( ) Homeostase expressa a habilidade de um sistema retornar, sempre que necessrio, ao seu estado original de equilbrio.
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 45
( ) Retroalimentao positiva aquela que aumenta o rudo, o desvio, o problema, produzindo elementos e informa-es novas, capazes de proporcionar as condies neces-srias para o sistema se estabilizar em patamares mais complexos de organizao.
( ) A autorreferncia o processo pelo qual os sistemas criam e estabelecem um conjunto de elementos a partir dos quais decidem o que fazer em cada circunstncia.
( ) Para Maturana e Varela, no h linguagem neutra, pois tudo o que dito dito por um observador.
( ) Foerster afirma que tudo o que dito dito a um observador, expressando que aquilo que observado passa por duas observaes/interpretaes/recriaes.
-
46 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Referncias
BATESON, Gerard. (1986). Mente e natureza. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S.A.
BATESON, Gregory (1979). Steps to an ecology of mind. To-ronto: Chandler Publishing Company. (Primeira edio pu-blicada em 1972)
BERTALANFFY, Ludwig von.Teoria Geral dos Sistemas. Petrpo-lis: Vozes, 1975.
CAPRA, Fritjof. Conexes ocultas. So Paulo: Cultrix, 2002
CAPRA, Fritjof. O Ponto de mutao. Trad.- lvaro Cabral. 22 Ed.- So Paulo: Cultrix, 2001.
CAPRA, Fritjof. O Tao da Fsica Revisitado. In: WILBER, Ken (org.) O Paradigma Hologrfico e outros Paradoxos. So Paulo: Cultrix, 1995.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco. De mquinas e seres vivos: autopoise a organizao do vivo. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
MATURANA, H. R.; VARELA, F. A rvore do conhecimento: as bases biolgicas do entendimento humano. Campinas, SP: Psy II, 1995
MINUCHIN, Salvador. Famlias, funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1982.
PRIGOGINE, I., STENGERS, I. A nova aliana. Braslia: Univer-sidade de Braslia, 1984.
-
Captulo 2 Do raciocnio lgico-racional ao sistmico 47
RAPIZO, Rosana. Terapia sistmica de famlia: da instruo construo. Rio de Janeiro: Noos, 1998.
SLUZKI, Carlos E., A Rede Social na Prtica Sistmica. Casa do Psiclogo SP, 1997
FOERSTER, H. von. Sobre sistemas auto-organizadores y sus ambientes. In: PAKMAN, M (ed.) Las semillas de la ciber-ntica: obras escogidas de Heinz von Foerster. Barcelona: Gedisa, 1991.
-
Teoria Sistmica de 1 ordem
A palavra sistema vem do termo latino systema que significa reunio, juntura, sistema. O termo grego correspondente (sstema) que significa con-junto, multido, corpo de tropas, conjunto de doutrinas, sistema filosfico.
No captulo anterior, conhecemos contribuies que possibilitaram caminhar do raciocnio lgico-racional ao sistmico. Conhecidos os elementos dessa trajetria, vol-taremos nossa ateno para a Teoria Sistmica. Abordar Teoria Sistmica de Primeira Ordem pressupe que haja mais de uma ordem na compreenso de sistemas. Ba-sicamente, se fala em Teoria Sistmica de primeira e de
Arno Vorpagel Scheunemann
Captulo 3
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 49
segunda ordem. A denominao Primeira Ordem e Se-gunda Ordem vem da Ciberntica. A Ciberntica busca compreender a comunicao e o controle de informaes em mquinas, seres vivos e grupos sociais, comparando mquinas eletrnicas.
A Teoria Sistmica de Primeira Ordem compreende a fase (at os anos 1970) na qual o foco trabalho profissio-nal era a homeostase do sistema, buscando evitar sua en-tropia. Ou seja, se defendia que era necessrio encontrar alternativas de retroalimentar o sistema de tal forma que o rudo fosse diminudo. Em diminuindo o efeito do rudo, seria possvel restabelecer o equilbrio do sistema.
A Teoria Sistmica de Segunda Ordem compreende a fase (a partir dos anos 1970) na qual se passou a consi-derar que um sistema, alm dos mecanismos que resta-belecem o equilbrio, tambm dotado de mecanismos de retroalimentao que, ao invs de corrigir o desvio, aumentam-no retroalimentao positiva. Tal retroali-mentao pode levar sua destruio ou a uma mudana descontnua, transformando o padro de funcionamento, mediante interao aleatria da ordem e da desordem.
A de primeira ordem ser o assunto deste captulo, a de segunda, do prximo. A abordagem da Teoria Sis-tmica de Primeira Ordem se dar sob 4 subtemas. No primeiro, compreenderemos a teoria sistmica como es-tratgia de superao dos reducionismos. No segundo, conheceremos algumas tipologias de sistemas. No tercei-ro, conheceremos elementos das origens da teoria sist-mica de primeira Ordem, bem como alguns pressupostos e conceitos.
-
50 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
3.1 A Teoria sistmica como estratgia de superao dos reducionismos
A Ciberntica uma espcie de teoria dos sistemas de controle baseada na comunicao (transferncia de informao) entre o sistema e o meio e dentro do prprio sistema e do controle (retroao) da funo dos sistemas em relao com o ambien-te. Ciberntica uma palavra que vem do grego Kiberntes (timoneiro) e Kibernet (a arte de pilotar navios), empregadas por Plato. Mais tarde, os prprios gregos passaram a us-la tambm para a arte de governar o Estado. Considerando essa origem, para entendermos o que ciberntica, precisamos ve-rificar em que consiste a arte de pilotar um navio. A arte de pilotar exercida pelo piloto, contudo no ele quem traa o rumo e destino da viagem, quem faz isso o capito. Ao piloto cabe administrar todas as informaes que interferem na viagem (correntes, ventos, chuva, sol etc.). Visto dessa for-ma, uma arte de, em movimento constante, gerenciar todas as informaes e atravessamentos que surgem ao longo da viagem. Significa que o piloto no pode decidir baseado em raciocnios lgico-mecnicos, muito menos em raciocnios te-leolgicos ou teleonmicos.
Na Ciberntica de Primeira Ordem, o foco est na estabi-lidade e na estrutura, pressupondo que o funcionamento dos sistemas tem uma meta: o equilbrio do sistema. O processo de retorno ao equilbrio existente antes da crise a homeos-tase. Esta compreende as estratgias de ao dos sistemas e organismos para manter sua estabilidade. Grandesso sintetiza esse perodo da Ciberntica afirmando que:
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 51
o primeiro perodo da ciberntica de primeira or-dem (primeira ciberntica), se ocupava dos me-canismos e processos pelos quais os sistemas, em geral, funcionavam com o intuito de manter a sua organizao. O sistema, de acordo com essa con-cepo, operava de acordo com um propsito ou meta, cujo alcance era garantido por mecanismos de regulao e controle (...) regulao, enquanto um mecanismo, visa manter a sobrevivncia do sistema medida que controla os distrbios que o atingem, impedindo-os de evolurem para uma mudana, que possa quebrar a sua organizao. Nesse sentido, o sistema ciberntico era compreendido como equiva-lente a uma mquina trivial, fosse ele uma mquina, um organismo biolgico, ou um sistema social, que, tendo uma organizao e um propsito, operava na correo dos desvios, de modo que se mantivessem estvel e sobrevivesse. Esse processo conhecido como retroalimentao negativa, por meio do qual um sistema vivo sobrevive mantendo a sua constn-cia apesar das mudanas do meio, convencionou-se chamar de morfoestase. (2000, p. 124)
Em termos gerais, a Teoria Sistmica de Primeira Ordem compreende os estudos e conhecimentos que partiam do princ-pio de que um sistema se retroalimenta na perspectiva do equil-brio, corrigindo os desvios e rudos processo conhecido como retroalimentao negativa, cuja meta o equilbrio do sistema.
A Teoria Sistmica de Segunda Ordem compreende os es-tudos que entendem que um sistema, tambm, dotado de
-
52 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
outro tipo de mecanismo de retroalimentao que, ao invs de corrigir o desvio, aumenta-o retroalimentao positiva. O que pode levar sua destruio ou a uma mudana descon-tnua, transformando o padro de funcionamento, mediante interao aleatria da ordem e da desordem. Essa mudana descontnua foi descrita por Bateson (1986) como mudana de segunda ordem, pois estava alm daquelas reversveis e adaptativas que mantm o sistema prximo ao seu padro, mediante os mecanismos de correo do desvio. Da a ideia de teoria sistmica de segunda ordem1. Tanto a de primeira ordem quanto a de segunda ordem propem superar o redu-cionismo, o pensamento analtico e o mecanicismo.
Reducionismo um processo pelo qual se reduz a comple-xidade de um acontecimento, fenmeno, objeto etc., lgica simples de uma ou mais de suas partes ou caractersticas. Tal processo reducionista pode acontecer em diferentes ares e as-sumir diferentes formas. O reducionismo ontolgico, que se ocupa com a essncia original de tudo o que existe, defen-de que tudo surgiu de um pequeno nmero de substncias bsicas, regulares e constantes, a partir das quais possvel explicar a complexidade da vida. O reducionismo cientfico entende que tudo pode ser explicado a partir e por meio do mtodo cientfico. O reducionismo metodolgico supe que a explicao para qualquer fenmeno deve assumir apenas as premissas estritamente necessrias explicao do mesmo e eliminar todas as demais. Reducionismo terico parte da pre-missa de que tudo pode ser explicado a partir de poucos con-
1 A de segunda ordem ser o objeto do prximo captulo.
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 53
ceitos bsicos que permanecem ao longo da histria. Reducio-nismo lingustico entende que tudo pode ser descrito a partir de uma linguagem com alguns conceitos bsicos, combinados de diferentes maneiras. Reducionismo materialista afirma que a origem de tudo est na matria. O reducionismo idealista, ao contrrio, destaca que a origem de tudo est na ideia. No h necessidade de referenciar mais reducionismos. A partir dos j mencionados, possvel perceber que a lgica reducionis-ta consiste em deixar de lado a complexidade de elementos, caractersticas e aspectos, e eleger alguns poucos, como se, a partir desses poucos, fosse possvel explicar a lgica e o sentido do todo. A perspectiva sistmica entende que todas as formas de reducionismo so limitadas e falhas, porque deixam de lado elementos, caractersticas e aspectos necessrios para a compreenso do todo e das partes.
O reducionismo analtico entende que o funcionamento do todo pode ser analisado a partir das propriedades de suas partes. Prioriza as propriedades das partes e sua contribuio no todo em detrimento do funcionamento do todo. Em ou-tras palavras, compreende a decomposio dos objetos a seus elementos fundamentais para estud-los e, posteriormente, re-composio do todo mediante a recomposio ou soma das partes. Um exemplo simples de reducionismo analtico o fato de querer conhecer uma sala de aula a partir das proprie-dades (aquilo que prprio) de alguns alunos ao invs de a sala a partir das propriedades do todo (a sala de aula real, ao vivo e a cores). De maneira geral, todas as anlises feitas em laboratrio so reducionistas, porque desconectam algumas partes para, a partir da anlise destas, conhecer o todo. A perspectiva sistmica entende que esse reducionismo deve ser
-
54 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
superado porque o todo precisa ser conhecido tanto a partir e por meio das suas partes quanto a partir e por meio do todo.
O mecanicismo foi o grande movimento intelectual do s-culo XVII, tanto em termos de filosofia quanto de cincia. O reducionismo mecanicista uma maneira particular de com-preender as coisas, resultante desse movimento intelectual, que entende que todos os fenmenos podem ser explicados pela causalidade mecnica linear. Isto , todas as coisas esto mecanicamente conectadas e o que acontece resultado da interao mecnica dos fenmenos, acontecimentos e coisas entre si, bem como, da interao mecnica entre suas partes. O mecanicismo consiste em estabelecer relaes lineares e diretas de causa e efeito, considerando a causa necessria e suficiente para explicar o efeito.
Nessa viso, entende-se que o universo e mundo funcionam como uma grande mquina (relgio) ordenada. Battisti sintetiza:
O mecanicismo, em seus aspectos mais gerais, pode ser definido como um modelo explicativo das mais diferentes ma-nifestaes do mundo natural a partir de cinco eixos bsicos: 1) a uniformizao e a reduo das entidades e dos processos existentes na natureza, de modo que todo fenmeno possa ser explicado por meio de elementos simples, tais como a matria e o movimento, e de seus diferentes arranjos e combinaes; 2) a utilizao de modelos explicativos, inspirados na concep-o e no funcionamento das mquinas, de sorte que os fe-nmenos naturais possam ser entendidos como mecanismos semelhantes aos inventados pelo homem e cujo conhecimento implique a possibilidade de sua decomposio e reconstruo
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 55
e, portanto, de sua reproduo e imitao; 3) a introduo da matemtica como instrumento de anlise e de explicao cientfica, de maneira que o conhecimento de um fenmeno s estar completo se puder ser traduzido, em algum sentido, quantitativa ou geometricamente; 4) a substituio da distin-o entre coisas naturais e coisas artificiais pela distino entre mundo humano e mundo natural, entre o mundo da liberdade e da conscincia, por um lado, e o mundo do determinismo material, por outro, de modo que no se poder mais transpor propriedades entre eles nem avaliar um a partir do outro; 5) a clara distino entre causa final e causa eficiente ou operativa, com a consequente negao da possibilidade de conhecer, caso existam, as causas finais da natureza. (2010, p. 29)
A teoria sistmica entende que a compreenso mecnica, ma-temtica e determinista parcial, pois a interconexo entre os componentes dos sistemas e entre os sistemas alm de mecnica, matemtica e determinista, tambm orgnica e aleatria.
3.2 Sistemas: tipologia
Partindo das estruturas mais simples s mais complexas, Ken-neth Boulding (1956) construiu uma tipologia com nove siste-mas diferentes:
1 sistemas ou estruturas estticas cristais, mapas etc.;2 sistemas dinmicos simples (com mecanismos predetermi-
nados): relgios, alavancas, sistemas solares, dnamos etc.;
-
56 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
3 sistemas cibernticos simples (com mecanismo de contro-le), utilizando a comunicao e a retroao para retornar ao estado de equilbrio termostato, mecanismos home-ostticos nos organismos;
4 sistemas abertos (com fluxo de matria, insumos, metabo-lismo com o ambiente) clula, os rios, as chamas etc.;
5 sistemas da vida vegetal (organismos inferiores), cujos componentes (as clulas) formam razes, folhas, sementes e exercem a funo reprodutiva;
6 sistemas da vida animal, com rgos sensoriais que rece-bem informaes (olhos, ouvidos) e sistema nervoso que faz circular informaes, possibilitando aprendizagem, mobilidade, comportamento e comeo da conscincia;
7 sistemas humanos ou da vida do ser humano, que apre-sentam capacidade de autorreflexo, memria, fala, sim-bolismos, e autoconscincia reflexiva;
8 sistemas socioculturais ou da organizao social orga-nismos, organizaes, comunidades constitudos mediante trocas simblico-culturais, sistemas de comunicao etc.;
9 sistemas simblicos sistemas abstratos com linguagem, lgica e regras de jogo (matemtica, cincias, arte, moral etc. Acredita que os sistemas e as redes virtuais se consti-tuem como sistemas simblicos, com a diferena que esta-belecem diferentes relaes com o tempo, as distncias, a localizao e a prpria comunicao.Dependendo do critrio de anlise, os sistemas podem ser
divididos em diferentes tipos. Tomando como critrio sua cons-tituio e origem, os sistemas podem ser divididos em dois grandes grupos: vivos (organismos) e organizados (organiza-
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 57
es). Os vivos nascem e herdam seus traos estruturais; tm tempo, e o ciclo de vida so determinados pela estrutura e morrem, pois no podem transformar a prpria estrutura; pro-blemas so vistos como desvios do processo vital. Os orga-nizados so construdos e constroem sua estrutura ao longo do processo; tm tempo de vida indeterminado e podem ser reorganizados; o ciclo de vida no pr-determinado, pois podem transformar a prpria estrutura2; problemas so vistos como desvios nas normas sociais.
Tomando como critrio a interao com o ambiente, os sistemas podem ser fechados (no trocam informaes com o ambiente), abertos (trocam informaes com o ambiente). Se o critrio for a sua natureza, os sistemas podem ser divididos em fsicos ou concretos e conceituais ou abstratos. Fsicos quando so constitudos de equipamentos e subsistemas reais, sejam materiais (mquinas, circuitos etc.), sejam biolgicos (corpos e organismos vivos). A partir da influncia do ambiente, podem ser divididos em estveis (sofrem pouca, ou nenhuma, influn-cia do ambiente) e dinmicos (mudam constantemente em fun-o da influncia do ambiente). Considerando sua durao, podem ser divididos em permanentes (duram muito tempo 10 anos ou mais) e temporrios (duram pouco tempo alguns dias, meses ou anos).
Em relao dinmica, os sistemas podem apresentar a seguinte tipologia:
2 Morfognese.
-
58 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
1 Sistema determinstico simples: possui poucos componen-tes e inter-relaes, sendo previsveis (determinveis) em termos de dinmica, como, por exemplo, o jogo de bilhar, processo de assar um po;
2) Sistema determinstico complexo: seu comportamento no for totalmente previsvel, como, por exemplo, um compu-tador eletrnico. Como trabalha com linguagem binria, mesmo realizando operaes complexas, est determina-do a operar com apenas duas alternativas;
3) Sistema probabilstico simples: um sistema simples, cuja dinmica e movimento so imprevisveis, como, por exem-plo, o jogar-se uma moeda e o controle estatstico de qua-lidade de um produto;
4) Sistema probabilstico complexo: um sistema que pode ser descrito, por mais que seja complexo, como, por exemplo, o lucro de uma empresa ou seu estoque, uma organiza-o, um grupo;
5) Sistema probabilstico excessivamente complexo: apresenta tamanho emaranhado de interconexes e inter-retroaes que no pode ser totalmente descrito, como, por exem-plo, o crebro humano, a economia nacional, um grupo de pessoas. Quanto mais complexo um sistema se tornar, maior ser o nmero de subsistemas.Sistemas vivos costumam ser avaliados na perspectiva da
qualidade do seu processo vital (equilbrio dos elementos e subsistemas) e da qualidade de vida. Sistemas organizacionais so avaliados em termos de eficincia e eficcia. Eficincia compreende o COMO fazer, isto : fazer certo o que se pro-pe; produzir sem erros, com menor quantidade de recursos.
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 59
Eficcia compreende O QUE fazer, isto , fazer as coisas cer-tas na hora mais acertada, pelo caminho mais apropriado.
3.3 Teoria Sistmica de Primeira Ordem: origens, pressupostos e conceitos
Cabe frisar que a teoria sistmica resultado de um conjunto de estudos, descobertas e teorias, gestados no mbito das te-orias administrativas. Chiavenato sintetiza essas contribuies destacando cinco nfases:
A Teoria Geral da Administrao (TGA) comeou com a nfase nas tarefas3 (atividades executadas pelos oper-rios em uma fbrica), atravs da Administrao Cientifica de Taylor. A seguir, a preocupao bsica passou para a nfase na estrutura com a Teoria Clssica de Fayol e com a Teoria da Burocracia de Weber, seguindo-se mais tarde a Teoria Estruturalista. A reao humanstica surgiu com a nfase nas pessoas, por meio da Teoria das Relaes Humanas, mais tarde desenvolvida pela Teoria Comporta-mental e pela Teoria do Desenvolvimento Organizacional. A nfase no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas, sendo completada pela Teoria da Contingncia. Esta, pos-teriormente, desenvolveu a nfase na tecnologia. Cada uma dessas cinco variveis tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia provocou, a seu tempo, uma dife-rente teoria administrativa, marcando um gradativo passo
3 Grifo das nfases deste trabalho
-
60 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
no desenvolvimento da TGA. Cada teoria administrativa privilegia ou enfatiza uma ou mais dessas cinco variveis. (2000, p. 08)
O bilogo alemo Ludwig Von Bertalanffy avanou criando uma Teoria Geral dos Sistemas (TGS), mostrando a necessida-de de compreender tudo de forma sistmica, interconectada. Defendia a ideia de que o mundo e o saber no deveriam ser divididos em reas (economia, poltica, cincia, filosofia, sade etc.), porque a realidade complexa e interligada (sistmica), no podendo ser conhecida a partir de abordagens disciplina-res. Ao mesmo tempo, os elementos de uma realidade ope-ram simultaneamente para produzir algo maior que a soma de suas partes. A Teoria Geral dos Sistemas foi criada em 1937, contudo as primeiras sistematizaes datam de 1925. Em vez de dividir, Bertalanffy entendia que era necessrio conceber o mundo e o saber com sistemas em geral, cuja compreenso deve se dar a partir e atravs da interconectividade de e entre as suas partes.
A partir da dcada de 1960 a TGS passou a ser efetiva-mente reconhecida e trabalhada na Administrao. Enquanto a nfase do mtodo lgico-racional estava na separao e detalhamento das partes, a teoria geral dos sistemas a nfa-se passou a ser inter-relao e interpendncia entre os com-ponentes que formam um sistema, uma totalidade integrada, cujos elementos no podem ser estudados separados uns dos outros. Assim, qualquer mudana em uma das partes afetar todo o sistema. Superou-se, assim, a perspectiva do ajusta-mento das partes ao todo como nica perspectiva.
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 61
Para Bertalanffy, sistema : um conjunto de elementos dina-micamente relacionados, formando uma atividade para atingir um objetivo; operando sobre dados, energia, matria; para fornecer informao, energia e matria (1972). A Teoria Geral dos Sistemas fundamenta-se em trs premissas bsicas:
os sistemas existem dentro de sistemas, isto , cada sis-tema, ao mesmo tempo, constitudo de subsistemas e faz parte de um sistema maior;
os sistemas so abertos, isto , cada sistema existe den-tro de um ambiente constitudo por outros sistemas com os quais troca energia e informao;
as funes de um sistema dependem de sua estrutura, isto , cada sistema tem um objetivo ou finalidade que defi-ne seu papel no intercmbio com os outros sistemas do ambiente. Por exemplo, o sistema fgado tem uma finali-dade. Sua estrutura est organizada para realizar essa fi-nalidade e seu papel na interao com os outros sistemas do ambiente definido por essa finalidade. Logo, o que o fgado realiza depende mais da sua estrutura que do ambiente. Se no tivesse a constituio que tem, poderia integrar o mesmo corpo, contudo, no teria as mesmas funes, nem exerceria os mesmos papis.
Um sistema sempre apresenta duas caractersticas bsicas:
os elementos (unidades, partes) de um sistema e as rela-es entre eles constituem um arranjo que visa um obje-tivo ou finalidade, ou seja, para compreender o objetivo ou a finalidade de um sistema, necessrio compreen-
-
62 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
der os elementos e o arranjo de interconexes (rela-es), que est em permanente mudana.
um sistema sempre reagir globalmente a qualquer es-tmulo produzido em qualquer parte ou unidade que o constituem. Por exemplo, ao bater o dedinho do p con-tra o p da mesa, todo o corpo reage e no apenas o p ou a perna.
Todo sistema constitudo por determinados elementos: entradas, processador (mecanismo de processamento), re-troao (feedback), sada (produto). Entradas ou insumos compreendem os materiais, a energia e a informao para o funcionamento do sistema. Processador o mecanismo que transforma entradas em sadas. Sadas ou produtos so o resultado da reunio dos elementos e das relaes que se constituram nessa reunio. Retroao (retroalimentao) ou feedback a funo do sistema que compara a sada com um padro ou critrio previamente estabelecido. Exemplifiquemos com o sistema de produo de um po. Nesse sistema, as ENTRADAS compreendem: farinha, ovos, fermento, gordura, lquido (leite, gua), acar, sal, tempo, energia (eltrica ou fogo, humana), conhecimento, tcnica. Os MECANISMOS DE PROCESSAMENTO compreendem o forno e a combinao apropriada dos ingredientes, do tempo e da temperatura. O mecanismo de RETROAO (feedback) nesse sistema o ter-mostato do forno que controla a temperatura. Ou seja, ele faz o aquecimento no passar de um determinado limite (nmero graus Celsius). O PRODUTO (sada) o po pronto, assado.
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 63
Sistemas mecnicos, eletrnicos e digitais produzem ope-racionalizando automaticamente seus processadores. Nos sistemas organizacionais humano-sociais, os mecanismos de processamento requerem agentes, ou seja, pessoas ou gru-pos que articulam e operacionalizam os mecanismos de pro-cessamento (usurios, assistentes sociais, demais profissionais e colaboradores administrativos).
No Servio Social o objetivo no assar pes. Logo, um exemplo do universo de trabalho do(a) assistente social ser apropriado. Tomemos, como exemplo, o Sistema nico de As-sistncia Social (SUAS) e procuremos identificar os elementos. ENTRADAS: demandas institucionais e profissionais, conheci-mentos e habilidades tcnico-profissionais, conhecimentos e habilidades dos usurios. MECANISMOS DE PROCESSAMEN-TO: acolhimento, atendimentos individuais e coletivos; grupos, visitas domiciliares, articulao das redes, articulao com re-cursos e equipamentos socioassistenciais institucionais e co-munitrios etc. MECANISMOS DE RETROAO: aquilo que retroage evitando a desintegrao do sistema, restabelecen-do determinado patamar de equilbrio. No mbito do SUAS podem figurar como mecanismos de retroao: insero em programa de renda mnima; medida protetiva (nos casos de violncia); realizao de grupos; articulao com recursos co-munitrios (grupos, espaos e redes de apoio, de significado, de convivncia, de f, de lazer etc.). SADAS: pessoas e grupos fortalecidos, inseridos nas polticas sociais na perspectiva da incluso social, econmica e poltica; servios comunidade; pessoas e grupos protegidos; sujeitos conhecedores dos seus direitos etc.
-
64 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
A relao entre os elementos de um sistema definida pelo conhecimento. No exemplo do po, fazem-se necessrios co-nhecimentos e tcnicas para interconectar informaes, ingre-dientes, tempo e equipamento de processamento de tal forma que resulte um po gostoso. Normalmente, esses conhecimen-tos compreendem as informaes presentes na receita, con-tudo, a qualidade da sada (po) estar intimamente ligada habilidade do padeiro em escolher/construir e operacionali-zar as tcnicas apropriadas. Isto , a tcnica de mistura dos ingredientes (ao mesmo tempo, aos poucos, em recipientes separados etc.), a tcnica de espera entre o misturar e o assar (se vai deixar a massa ao ar livre, coberta, aquecida, resfriada etc.) e a tcnica de assamento do po (qual tipo de forno, qual temperatura, temperatura constante, temperatura varivel, tempo de durao, hora e forma de retirada etc.) de-finir as peculiaridades do po que resultar do processo. As habilidades tcnicas do padeiro estaro intimamente ligadas aos conhecimentos que ele tem a respeito dos ingredientes do po e dos componentes do sistema de produo do po. De maneira semelhante, a qualidade das sadas do SUAS esta-r intimamente ligada aos conhecimentos que os profissionais tem a respeito das entradas, dos mecanismos de processa-mento, dos mecanismos de retroao presentes e possveis no mbito do sistema.
De forma resumida, possvel construir o seguinte quadro:
-
Captulo 3 Teoria Sistmica de 1 ordem 65
TEORIA SISTMICA DE PRIMEIRA ORDEM
Sistemas tendem ao equilbrio.
Sistemas funcionam base de mecanismos de controle e organizao a fim de manter seu estado de organizao (homeostase) e sua forma de organizao (morfostase).
Os mecanismos de controle e organizao tm como meta o controle dos desvios (retroao negativa).
Os rudos e desvios precisam ser controlados para evitar a imploso do sistema sobre si mesmo (entropia).
Por causa dos mecanismos de retroao negativa, os organismos e sistemas conseguem manter o estado da sua organizao (homeostase) e sua forma de organizao (morfostase), apesar das mudanas no ambiente.
Foco do trabalho profissional est no sintoma, buscando compreender os padres de relao que o mantinham. O importante a funo do sintoma no sistema, no o comportamento em si que revelava o sintoma.
As estratgias e tcnicas visam burlar a homeostase, induzindo o sistema crise, a fim de que se organize de forma mais funcional se a necessidade do sintoma.
O objetivo do trabalho do profissional consiste em, a partir do sintoma, definir claramente o problema e planejar aes para o sistema se organizar de forma funcional e harmnica sem a necessidade do sintoma.
O sintoma revela um desajuste ou problema do integrante do sistema que o apresenta.
O sintoma um mecanismo homeosttico que impede que o sistema mude, implodindo sobre si mesmo (entropia).
A relao entre os componentes do sistema, o sistema e ambiente funcional, isto , cada parte contribui para a harmonia e equilbrio do todo. Se h desequilbrio, porque uma ou mais partes no esto desempenhando bem a sua funo.
Trata da reorganizao dos sistemas para retomarem seu equilbrio (automanuteno).
-
66 Fundamentos Terico-Metodolgicos Contemporneos I
Recapitulando
Neste captulo, abordamos a Teoria Sistmica de Primeira Or-dem. Essa abordagem foi organizada em quatro subtemas. No primeiro, vimos que a teoria sistmica se entende como uma estratgia de superao dos reducionismos, do pensamento analtico e do mecanicismo, uma vez que, para ela, a compre-enso mecnica, matemtica e determinista parcial, porque a interconexo entre os componentes dos sistemas e entre os sistemas alm de mecnica, matemtica e determinista, tam-bm orgnica e aleatria.
No segundo, conhecemos tipologias de sistemas, organi-zando-as segundo: a constituio e origem; a interao com o ambiente; a sua natureza; a influncia do