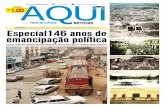253-579-1-PB.pdf
-
Upload
zeca-carouche -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of 253-579-1-PB.pdf
-
269 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Mmesis e crtica em Luiz Costa Lima
Thiago Castaon Loureiroi (UFRJ)
Resumo: Em plena segunda metade do sculo XX, Luiz Costa Lima e os irmos Augusto e Haroldo de Campos citam a constelao histrica do primeiro romantismo alemo nos trpicos. Tendo em comum o acentuarem o papel da criticidade do poeta e da poiesis do crtico, sem confundir os espaos da palavra potica e do juzo analtico, suas obras exacerbam o questionamento dos significados herdados de crtica e poesia. Assim, em sua raiz, o modelo de crtica visado por LCL se aproximaria mais de um modelo potico que de um paradigma cientfico, aquele que os liga a todos poesia crtica de Joo Cabral de Melo Neto. Poesia e crtica de inveno, sem medo da teoria, nem da mmesis. Para sair de seu embarao seria preciso relacion-los reviravolta que LCL prope sobre a categoria milenar da mmesis. Essa a hiptese que move a escavao aqui empreendida dos pressupostos que fazem da obra do escritor pernambucano pea chave de uma crtica da razo esttica (B. Nunes). Palavras-chave: mmesis, crtica, Luiz Costa Lima Abstract: Fully in the second half of the twentieth century Luiz Costa Lima and the brothers Augusto e Haroldo de Campos cite the historical constellation of the first germanic romanticism in the tropics. Having in common the criticity of the poet and of the critic poiesis, without confusing the areas of the poetic word and the analitic judgement, their works exacerbate the questioning of the inherited meanings of critque and poetry. So, in your root, the critical model endorsed by LCL would get nearer of the poetic model than a scientific paradigm, one that binds all the critical poetry of Joo Cabral de Melo Neto. Poetry and critique of invention, without afraid of theory, neither of mimesis. To get out your embarrassment, would be necessary to relate them to the turnaround that LCL proposes over the milenar concept of mimesis. This is the hypothesis that moves the excavation undertaken here of the assumptions that makes the work from Pernambuco writer the keystone of a critique of aesthetic reason (B. Nunes) Keywords: mimeses, critique, Luiz Costa Lima
-
270 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
1. Sob o signo de Kant e Schlegel
Dentre os intrpretes que j se ocuparam da modalidade de crtica praticada por
Luiz Costa Lima, as intuies recolhidas por Benedito Nunes e Flora Sssekind
seguramente se destacam como as mais agudas. Partindo de seus comentrios, duas
mnimas observaes bastaro para fornecer a moldura adequada do itinerrio
analtico que o presente ensaio prope.
Visando os pressupostos do conceito de crtica formulado na obra de LCL, a
primeira considerao a atrair nosso interesse encontra-se no ensaio de Benedito
Nunes que serve de prefcio a Mmesis e modernidade (1980), Prolegmenos a uma
crtica da razo esttica. A segunda, no artigo publicado por Flora Sssekind em
Pensamento original made in Brasil (1999), A via negativa de Luiz Costa Lima. Ambos
encontram-se reunidos no livro-homenagem Mscaras da mmesis: a obra de Luiz
Costa Lima (1999), organizado por Joo Cezar de Castro e Hans Ulrich Gumbrecht, que
usaremos como referncia.
De modo muito sinttico, segundo o crtico paraense, na obra de LCL, a crtica
literria teria se convertido progressivamente numa crtica da razo esttica. Assim
entendida, ela se distinguiria por ocupar-se das condies de possibilidade do juzo
formulado sobre uma experincia esttica, chegando ao nvel mais abrangente de
uma anlise das condies gerais que se oferecem teoria da literatura para
constituir-se como cincia humana (NUNES, B.: 1999, p.53).
Sem pretender desenvolver diretamente o precioso insight de B. Nunes, ainda
o mesmo paralelo com Kant que parece nortear as consideraes de Flora Sssekind.
Dessa vez, para assinalar o que apareceria como uma forte caracterstica intelectual
da sua reflexo crtica, perceptvel at graficamente, como salienta, com requinte de
preciso, sua primorosa analista.
Marcada pela interrupo metdica e pela demonstratividade do prprio
processo analtico (SSSEKIND, F.: 1999, p.111), a forma terica de LCL carregaria,
-
271 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
assim, um trao negativo pelo qual se explica a desconcertante observao de que,
embora nucleares em sua obra, as categorias da mmesis e do ficcional sejam tratadas
mais do ponto de vista da narrativa de sua represso, isto , da perspectiva negativa
do controle do imaginrio, do que de suas estratgias positivas de produo.
De fato, como bem nota autora, nos escritos posteriores a Mmesis e
modernidade, a fico ser pensada, sobretudo, por negao tanto da fantasia
indiscriminadora e do textualismo, quanto da intocabilidade do cotidiano e do
documental (id., p.112). A que se pode acrescentar, em favor do argumento: da
mesma maneira que sua reformulao da mmesis implica a negao das ideias
correlatas de expresso do sujeito e do realismo documental ou que sua noo de
crtica pressupe a negao sistemtica das vias opostas do imanentismo e do
sociologismo.
II
Embora tenha sido prefigurado no interior do primeiro romantismo alemo por
Friedrich Schlegel, o lugar da crtica como forma discursiva especificamente
moderna, tal como se dispe entre as chamadas cincias humanas, apenas comearia
a se esboar entre fins do sculo XIX e incio do XX. Ou seja, a partir do momento que
se difundisse e socializasse a questo que distingue sua positividade, tomando-se
por objeto de indagao terica esse outro discurso, at recentemente desconhecido,
surgido cerca de um sculo antes, a saber, desde que se tornasse sistemtica a
indagao da literatura.
Cunhada precisamente por Schlegel em sua Introduo histria da literatura
europeia (SCHLEGEL, F.: 2001, p.140) a expresso teoria da literatura apenas
voltaria a ser empregada na ambincia de formao do grupo dos formalistas russos,
em 1905, por Alexander Portebnia, em suas Notas para uma teoria da literatura;
livro que ser objeto de considerao de Victor Chklovski em 1917, aparecendo ainda
em Boris Tomachevski (1925). Mas o termo s se difunde a partir da publicao, em
-
272 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
1942, do famoso livro de Wellek e Warren.1
No ser, pois, seno a ttulo de ilustrao de um processo bem mais amplo que
se tomar consensualmente o artigo de Victor Chklovski A arte como procedimento
(1917) como marco de formao desse novo status da crtica literria, que a situa ao
lado das outras cincias humanas como figura positiva na ordem do saber.
Feita essa contextualizao preliminar, venhamos ao decisivo. No era acidental
que os formalistas russos tomassem por impulso bsico de constituio do novo
campo a abertura de uma terceira via intervalada por dupla recusa, a saber: que sua
afirmao da prxis terico-literria se fizesse contra o historicismo positivista, de um
lado, e contra o esteticismo impressionista, de outro.
Tampouco por simples coincidncia que nesse mesmo perodo o jovem Walter
Benjamin, sentindo a necessidade de recriar a crtica como gnero (apud. ARENDT,
H.: 1987, p.153; carta de 20/01/30 a Scholem), tenha iniciado o resgate de F. Schlegel
em sua tese de doutorado O conceito de crtica no romantismo alemo (1919).
Vale recordar a observao decisiva que sua anlise pioneira aporta para o tema
que estamos investigando: tendo sido com os primeiros romnticos, mas, sobretudo,
pelas mos de Schlegel, que a expresso crtico de arte (Kunstkritiker) se estabeleceu
de forma definitiva, por oposio tanto ao antigo juiz-de-arte (Kunstrichter), quanto
aos teoremas do Sturm und Drang que conduziam, inversamente, a uma dissoluo de
quaisquer critrios de julgamento; como conclua genialmente a propsito das duas
vias recusadas:
Aquela tendncia poderia ser considerada como dogmtica, esta, em suas consequncias, ctica; ento era totalmente natural ambas consumarem a superao na teoria da arte sob o mesmo nome com que Kant, na teoria do conhecimento, aplainou aquela oposio (BENJAMIN, W.: 2002, p.58).
Resumidamente, ento: o projeto inicial da teoria da literatura, no momento em
que a disciplina se estabelece nas primeiras dcadas do sc. XX redefinindo o status
dos estudos literrios, surgia por oposio ao relativismo, ao subjetivismo e ao carter
judicativo da crtica impressionista, bem como, inversamente, ao determinismo, ao
1 No Brasil, comea a ser lecionada nos anos 50 por Afrnio Coutinho, Augusto Meyer, seguidos por Antonio Candido e Helton Martins, sendo introduzida no currculo universitrio em 1962. Para outros usos da expresso no Brasil antes dos anos 50, cf. SOUZA, R.: 2006, p.52-53; 58.
-
273 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
positivismo e ao carter normatizante da histria literria e sua exigncia de resgate
do sentido nico do texto, objeto de uma interpretao verdadeira, a ser desvelado
por um leitor privilegiado (SOUZA, R.: 2006, p.69).
Dupla negatividade que, a concordar com F. Sssekind, vemos surgir como
princpio sistemtico de construo da obra de LCL.
Como j acusava sua excepcional antecipao por Schlegel, a condio para se
estabelecer como figura positiva na ordem do discurso supunha, na expresso lapidar
de Benjamin, que a crtica consumasse na teoria da arte a superao das orientaes
antagnicas do dogmatismo e do ceticismo, numa terceira via vale dizer: crtica e
no dialtica que fosse capaz de determinar limites para o exerccio da razo potica.
Apenas se acrescente: pressupondo a dupla negao das vias dogmtica do juiz-de-
arte e ctica do romantismo normalizado a linha oblqua traada pela nascente teoria
da literatura recolocava em cena, nas primeiras dcadas do sculo XX, a questo
basilar de toda e qualquer crtica de arte: como so possveis juzos artsticos
intersubjetivamente vlidos?
Significativamente, entretanto, apesar de j estarem dadas as condies para a
afirmao daquela terceira via desde Schlegel, ao longo da primeira metade do sculo
XX, as correntes tericas emergentes iro se dispor ou redistribuir em duas grandes
direes: a que privilegia o polo do sujeito e/ou do texto e a que se dirige para o polo
da representao e do contexto. Em sua oposio, elas se equilibram: crtica
imanentista e crtica sociolgica, teorias antirreferencial e representacional
constituindo, como diria Foucault, o ponto de heresia e o campo de possibilidades
da teoria esttica moderna.
Ora, como se explica esse obstinado apagamento da via oblqua da crtica seno
pelo modo como a prpria era, ento, definida? Para dizer em poucas palavras:
supondo a concepo de crtica como ensaio sua incluso entre os gneros literrios, e
sendo a literatura entendida como espao da no-verdade (i.e., como fico), que
necessidade haveria de perguntar por seus critrios? Assim fazendo, que se elidia
seno a prpria indagao do que fosse o ficcional?
Inversamente, se a crtica era entendida como cincia, isso significava que lhe
cumpria desenvolver mtodos rigorosos de abordagem da literatura; mas sendo o
mtodo cientificamente modelado, como evitar que a poeticidade do potico fosse
-
274 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
hipostasiada em uma propriedade objetiva do texto, fazendo-se abstrao de sua
historicidade?
Assim, havemos de concordar com a afirmao de Wolgang Iser de que, em seus
primrdios, a teoria primariamente teorizava a abordagem da literatura e no ela
prpria (ISER, W.: 2002, p. 931). O que significa dizer: se no primeiro caso, sua
indagao se tornava simplesmente ociosa, no segundo, compreendendo-se como
cincia, a crtica desenvolvia mtodos i.e., um arsenal de regras, tcnicas e
procedimentos aplicveis de interpretao e no propriamente teorias um
conjunto de ideias, categorias e critrios questionveis de orientao.
De qualquer modo, por ambas as vias, era a prpria questo kantiana da
validade objetiva do juzo esttico que era dada como insofismvel.
III
J em seu primeiro livro, Dinmica da literatura brasileira (1961), um trabalho
monogrfico, de circulao restrita, editado pelo prprio LCL, ressalta a
predominncia do procedimento-menos como princpio construtivo de sua escrita,
para lembrar a expresso de Iuri Lotman.
Sendo o propsito declarado do livro fornecer ao seu autor o instrumental
bastante para que ele descobrisse o seu prprio caminho (LIMA, L. C.: 1961, p.3),
ainda em suas primeiras pginas se expe a divergncia quanto ao gnero de crtica
dominante na poca: No pretendemos fazer um ensaio de sociologia da literatura
[...] O que intentamos fundar uma teoria de tipo novo que, por estar atenta ao
resultado da expresso, no tenha por acessrio o seu fator comunicacional (id., p.13,
grifo nosso). Necessidade de reformulao de modelos tericos que se faria sentir
medida que as estticas vigentes, centradas ora na apreenso do aspecto
estritamente social da obra literria (fator comunicacional), ora exclusivamente
textual (fator expressivo), se mostravam francamente insustentveis:
[...] as correntes nascidas de ambas as direes, em seu estgio atual, so arbitrrias porque unilaterais; o que no significa no reconhecermos validez da crtica contempornea. Apenas sabemos a
-
275 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
insuficincia terica do seu presente estgio. Pois, enquanto os inclinados ao primeiro tipo tendem a valorar a obra apenas como expresso, os inclinados ao segundo valoram exclusiva ou quase exclusivamente a obra como comunicao. No que o ideal esteja no meio-termo. Se ser ideal ser complexo, nenhuma das duas direes parecer-nos- merecer este nome por no possuir a complexidade necessria. (id., p.17, grifo nosso).
Embora sumria, a reflexo composta suficiente para que, apesar da
inspirao marcadamente marxista do ensaio, se declare sua recusa soluo
dialtica do impasse. Apenas preciso inverter a ordem da exposio para que se
esclarea o argumento. Ao constatar serem as correntes estticas ento vigentes
parciais porque igualmente arbitrrias, LCL pe sob forte suspeita a possibilidade de
sua incorporao como momentos de uma anlise dialtica, pela qual se
eliminariam suas opostas arbitrariedades.
Assim formulada, sua reflexo crtica colocava em cheque antecipadamente o
caminho que seu principal interlocutor viria propor apenas quatro anos depois para a
consituio sua prpria terceira via:
Hoje sabemos que a integridade da obra no permite adotar nenhuma dessa vises dissociadas; e que s a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretao dialeticamente ntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convico de que a estrutura virtualmente independente, se combinam como momentos necessrios do processo interpretativo. (CANDIDO, A.: 2010, p.13-14).
No acidental, portanto, que o dilogo nuclear de Dinmica da literatura
brasileira: situao de seu escritor (1961) se estabelecesse com a Formao da literatura
brasileira: momentos decisivos (1959). Suas relaes de proximidade e distanciamento,
estabelecidas desde o ttulo, acusam a inteno de demarcar uma posio estratgica:
dinmica se afasta e aproxima de formao, fazendo recair a nfase no sobre os
momentos, mas sobre a situao do escritor. O que sugere, por contraste, uma
viso transformativa do processo histrico e da prxis literria, enquanto capaz de
interao com seu fator formativo, i.e., de reagir sobre a materialidade histrica que
condiciona a produo e circulao do texto.
Contraste que se reafirma numa segunda aluso, contida em Sociedade e
discurso ficcional (1986). Dessa vez, ao ttulo de Literatura e Sociedade (1965),
-
276 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
conforme explicita sua dedicatria: A Antonio Candido, por sua dignidade humana e
intelectual (LIMA, L. C.: 2007, p.29). Se aqui se revela uma inteno comum de
nfase na articulao de discurso ficcional com sociedade, ou seja, de
revalorizao da mmesis, a esta logo vem se somar a divergncia implcita entre a
ideia de expresso do sujeito, da histria, do esprito , contida em literatura, e a
experincia de seu desdobramento imaginrio.
Portanto, se no pretende realizar uma abordagem sociolgica tradicional,
tampouco satisfaz o crtico uma visada puramente imanente do texto. Onde a
princpio pareceria tratar-se de um simples ajuste de contas entre duas perspectivas
contrrias, supostamente complementares, o questionamento de LCL subverte todas
as solues automaticamente esperveis. No caso, contrapondo manuteno de
uma contradio dialtica dos opostos a recusa, a problematizao e reformulao
dos termos em conflito.
Assim se explica a necessidade sentida de fundar uma teoria de tipo novo. No
porque uma e outra metodologias fossem simplesmente parciais, mas na medida em
que ambas se apoiavam em pressupostos tericos igualmente arbitrrios. Numa
palavra, porque uma legtima teoria da literatura, capaz de fornecer uma nova base
para a abordagem do objeto potico, compatvel com o marco epistemolgico das
cincias humanas, ainda estaria por se constituir.
Do que decorre um primeiro marco geral para nossa investigao do conceito de
crtica de LCL: irredutvel ideia de crtica como trabalho do negativo, de matriz
hegeliana, a negatividade explorada por LCL se mostra irredutvel via dialtica,
identificando-se com a concepo diametralmente oposta, de matriz kantiana, da
crtica como anlise dos limites da razo.
2. O tribunal da esttica
em Estruturalismo e teoria da literatura (1973) que LCL trava seu primeiro
confronto com Kant. A importncia desse embate para os rumos que sua obra tomar
a partir de ento no pode ser subestimada sem grave prejuzo do leitor. De imediato,
-
277 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
por ser a partir desse choque que ganha forma o argumento que vai caracterizar sua
obra de maturidade. Mas esta, aqui, apenas se esboa.
Livro memorvel em muitos aspectos, podemos supor tenha sido sua recepo
bastante prejudicada pela conjuno entre dois fatores: a tematizao do
estruturalismo e a emergncia de uma figura intelectual indita nos trpicos que ali se
afirmava, a figura do crtico terico. Isso numa paisagem extremamente adversa a
ambos, como demonstra o episdio que ficaria conhecido em 1975 como querela do
estruturalismo ou polmica da teoria, envolvendo diretamente o caso de LCL. Do
contrrio, seria de estranhar o completo silncio que se formou, no digo em torno do
livro, mas da acusao que nele se dirigia crtica e aos crticos como um todo.
Remetendo metfora kantiana da crtica como tribunal, LCL prope, logo de
sada, instaurar um verdadeiro tribunal da esttica. Como escreve na introduo:
trata-se de efetuar a abertura deste processo (LIMA, L. C.: 1973, p.17), i.e., de avaliar
a legitimidade de suas pretenses como cincia.
Ao refazer seu percurso, veremos, entretanto, como a expresso crtica da
razo esttica referida ao trabalho de LCL perde progressivamente seu carter
metafrico. O que fica patente atravs do rigoroso paralelo que se pode traar entre o
argumento que Kant elabora a propsito da metafsica e o que orienta sua prpria
indagao da crtica.
Ambos partem de uma dupla negao sobre a qual propem desenvolver uma
terceira via que, nas palavras de Grard Lebrun, distinguindo-se como saber
negativo da mera negao do saber (ceticismo), no nos devolve a uma nova
verdade (dogmtica), mas, sim, se prope a pensar de outra forma (LBRUN, G.:
2002, p.48). Para ambos, igualmente, esta via se deixa compreender como uma
sada. Sada para um impasse que se faz, ento, objeto de uma crtica, isto , de um
tribunal.
Assim, tal como Kant fizera em relao metafsica, Costa Lima principia por
indagar(-se): como possvel a crtica como cincia? E do mesmo modo como o
autor da Crtica da razo pura, sua resposta conduz ao estabelecimento de limites
razo. Mas desde logo, a prpria formulao da pergunta que supe uma traio
afirmao feita pelo autor da Crtica da faculdade do juzo da impossibilidade de
constituir uma cincia do potico.
-
278 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Declaradamente: LCL teria recusado, de incio, a legitimao kantiana do juzo
esttico, ensaiando novamente a questo de sua possibilidade como cincia. Mas, em
seguida, concluindo pela mesma impossibilidade de uma crtica cientfica, sua
concordncia posterior, formulada apenas em Mmesis e modernidade (1980), reabre
definitivamente o desafio lanado pelo filsofo.
Vista mais de perto, porm, a enunciao inaugural do problema crtico por LCL
na tese de 1973 j traz inscrita em sua letra a necessidade de uma retomada mais
vigorosa da obra de Kant, como atesta a resenha excepcional de Eduardo Viveiros de
Castro. J em sua primeira frase, pergunta o antroplogo, colocando sob suspeita a
inteno declarada do autor: (Como) possvel uma Potica cientfica?. E sua
inferncia antevisora pode ser includa, ao lado dos comentrios de B. Nunes e F.
Sssekind, entre as crticas mais agudas j escritas sobre LCL: deste trabalho,
possvel que no saiam intactas nem a ideia de arte, nem a de cincia (CASTRO, E.:
1973, p.97, grifo nosso). Pois,
[se] o positivismo cientfico e a esttica romntica encarnam o estgio ltimo duma partio que remonta abertura do projeto da Metafsica [...] [ento] sair da Esttica implica repensar a Cincia. Caso contrrio, o paradoxo duma cincia da arte [...] continuar sendo resolvido como uma ameaa e um enigma. Ou seja, por um deslocamento deixa-se de falar da arte para falar de seus efeitos [...] e por um recalcamento: a arte submetida ao jugo da tica, lugar-tenente do Logos, Verdade como lugar-comum da moral e da razo (id., sublinhado nosso).
Mas apenas not-lo ainda no resolve o problema capital: como seria possvel,
afinal, a crtica literria? Acaso ela se reduziria a ser apenas uma modalidade de
projeo do ideolgico, caso em que no haveria teoria que no fosse postuladora de
alguma normatividade? Ou, inversamente, o juzo esttico no seria capaz de dizer
seno do modo como o intrprete individualmente afetado, caso em que nada
poderia declarar acerca de seu objeto, mas somente das impresses particulares de
seu receptor, como teria dado a entender o prprio Kant?
Objetivamente normalizadora ou subjetivamente arbitrria, seria
absolutamente infundada a pretenso da crtica de produzir alguma modalidade de
conhecimento acerca das obras de arte?
Bem se reconhecem a as recusas contrapostas do dogmatismo e do ceticismo
-
279 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
que definem a via negativa de LCL a que Flora Sssekind se refere. Entendendo que a
soluo kantiana no ter sido suficiente para superar a estetizao da crtica, nem
para por limites arbitrariedade do intrprete, LCL retoma pela raiz a problemtica
legada pela terceira crtica. E no difcil prever que resistncias sua mera recolocao
em cena estaria destinada a provocar em seus leitores imediatos. Como j ponderava
o filsofo a partir de sua experincia pessoal:
Chegar a perguntar-se se uma cincia possvel pressupe que se duvide da realidade da mesma. Tal dvida, porm, ofende a todos aqueles cuja riqueza consiste talvez neste pretenso tesouro; assim se explica que aquele que deixa transparecer esta dvida s encontre resistncia a sua volta (KANT, I.: 1980, p.8).
3. A falncia da Lei
Estabelecido este primeiro recorte, passemos a um enfoque menos
generalizante. A fim de rastrear o processo de transformao operado sobre o
conceito de crtica no conjunto da obra de LCL, partimos da citao seguinte, tomada
como metfora detonadora de sua inquietao terica:
Na cincia, como na vida cotidiana, quando um paradigma se faz inconteste, teorizar se torna ocioso. Enquanto o modo de conduta vitoriano foi paradigmtico, o que se chamava histeria pde grassar vontade e os romances de Dickens e Hardy podiam despertar muita lacrimosa emoo, sem que a sociedade se interessasse em saber que reprimia a sexualidade [...] enquanto o modelo da biologia continuou a fascinar as nascentes cincias sociais e o paradigma positivista, com sua exaltao do cientfico, continuou a tranquilizar as testas srias dos historiadores, Droysen podia deblaterar quanto quisesse e Michelet reviver as sombras picas do passado de 89, sem que o ideal da objetividade historicizada fosse perturbado [...] O interesse em teorizar no se generaliza sem que antes se difundam os sinais de crise, seja no modo de compreender um certo objeto (crise em uma disciplina), seja no lidar at com o prprio cotidiano (crise de um paradigma). (LIMA, L. C.: 1989, p.17-19)
significativo que o incio da obra de LCL coincida com um momento de crise
tanto dos paradigmas como das disciplinas e da crtica literria em particular. Deve-se
a essa conjuntura especfica que a motivao para a radicalizao do questionamento
-
280 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
da crtica adquirisse uma razo marcadamente poltica: em resposta ao
recrudescimento dos regimes ditatoriais a partir de 1968, a crtica literria se converte
em arma estratgica da crtica ideolgica, impulsionando um flego renovado para o
trabalho de teorizao.
Da que, para seus protagonistas, se tratasse no somente de tomar posio em
defesa da arte, contra o torpor de um esteticismo satisfeito de si e contra o
mecanicismo reflexolgico a que o marxismo ficara reduzido; nesta conjuntura,
teorizar constitua uma opo simultaneamente intelectual e poltica (LIMA, L. C.:
2002b, p.13). Com isso a nfase se deslocava para a anlise das relaes entre
literatura e poder.
Vista mais de perto, porm, a crise esttica vinha de mais longe e com ela j
assomava uma articulao sociopoltica de razes mais profundas. Crise que pode ser
percebida pelo menos desde a publicao de Madame Bovary e As flores do mal. Como
atesta o enquadramento policial de seus autores.
Mais precisamente, desde que, instalada no poder, a burguesia tornara patente
ante as revolues de 1848 seus ntidos interesses de classe, desmentindo suas
pretenses de detentora dos interesses da humanidade, criando para o artista
moderno uma situao particularmente problemtica.
medida que suas obras interiorizam o conflito, absorvendo na estrutura formal
da vivncia de choque (Benjamin) a contestao dos valores dominantes, instala-se
progressivamente um hiato entre a produo potica que mais tarde seria
reconhecida como de qualidade e a prtica do crtico, que permanece em sua rotina
pragmtica ante o que no mais entende. Hiato que no diminui, [mas] apenas
melhor camuflado, pela adoo dos mtodos da historiografia positivista (LIMA, L. C.:
1981, p.202).
Desse modo, ser apenas uma questo de tempo para que se configure
plenamente o quadro paradigmtico da arte moderna, em que o frequente ser, como
j diagnosticava o jovem LCL, a inverso e a deslocao dos juzos de valor,
acompanhada da desorientao mais aguda sempre do pblico, incapaz de distinguir
a arte da no-arte (LIMA, L. C.: 1966, p.14).
Essa, ento, a conjuntura que motivar o nascimento da teoria da literatura nas
primeiras dcadas do sculo XX. Seus pais-fundadores, maximamente representados
-
281 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
pelos formalistas eslavos, eles mesmos estreitamente ligados aos artistas da
vanguarda russa, encontrando na necessidade de diminuir a distncia entre a crtica (o
pblico em geral) e as produes mais avanadas da arte moderna a motivao bsica
para por em curso um questionamento sistemtico do paradigma terico vigente.
Nas palavras precisas de Iser:
a conjuntura da teoria da literatura originou-se menos de uma preocupao intensificada com o seu objeto do que do estado de crise reinante nos departamentos que lidam com a literatura. A tentativa de reagir perda de prestgio da literatura na conscincia pblica ajudou ao aparecimento da teoria da literatura, com o que ela, de fato, foi levada a enfrentar as dificuldades que lhe so prprias (ISER, W.: 2002, p.929).
O que no significa que as dificuldades que lhe so prprias fossem
imediatamente colocadas. Muito pelo contrrio. Pois, como vimos, em suas primeiras
manifestaes a teoria da literatura primariamente teorizava a abordagem da
literatura e no ela prpria, desencadeando uma esterilizante luta dos mtodos
(ISER, W.: 2002, p.931).
II
Tendo em seu prprio horizonte as obras recentemente surgidas de Joo Cabral,
Guimares Rosa e Clarice Lispector; participando do processo de reavaliao de
escritores como Sousndrade, Oswald de Andrade e Cornlio Penna; sendo, enfim,
contemporneo e aliado estratgico da vanguarda concretista, LCL constata, no calor
do momento, esta defasagem entre a crtica e o prprio desdobramento da arte
moderna que, ao radicalizar seu autoquestionamento, punha em xeque os parmetros
com os quais se supunha classicamente poder julg-la.
Ficava patente, dessa forma, a incapacidade da crtica perante a literatura
moderna, que ora se fechava contra a apreenso atravs de tais critrios, ora surgia
como abstrusa, quando submetida a eles (ISER, W.: 1996, p.8).
Vimos tambm que, sobretudo a partir de Estruturalismo e teoria da literatura,
Costa Lima comeara a encaminhar seu projeto no sentido de uma ultrapassagem da
-
282 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
crise do paradigma moderno da crtica. Mantendo em vista essa ambincia de fundo,
vejamos como o problema do status da crtica se desenvolve na obra de LCL,
atentando para as indicaes da crise.
A comear pelo prprio livro de 1973, nele a crtica definida como anlise do
discurso, mas seu lugar, conforme a aposta metodolgica adotada no livro,
referido, no captulo O lugar da anlise do discurso literrio (LIMA, L. C.: 1973,
p.217ss.), como situado entre a psicanlise e a antropologia:
A anlise literria tem por lugar o ponto de cruzamento formado por uma atitude epistemolgica, o estruturalismo, e uma cincia, a psicanlise. Tal cruzamento determina uma situao antropolgica. Esta, por conseguinte, no se confunde com o campo ocupado pela cincia da antropologia. (id.)
No se duvida de que, nesse livro, LCL pretendesse alcanar um estatuto
cientfico para a crtica, a saber, ao mesmo tempo isento de qualquer interferncia da
subjetividade do analista e capaz, se no de resultados objetivamente verificveis, ao
menos rigorosamente demonstrveis, com base na cadeia argumentativa montada
sobre uma rede de conceitos.
Mas nem por isso a inquietao do autor se deixa repousar numa concepo
grosseiramente mecnica de cincia, como demonstra o inspirado fragmento do
mesmo perodo, extrado de A Metamorfose do silncio (1974):
Mergulhado numa empiria que parece sempre ultrapassar a capacidade de recorte de nossos conceitos, o crtico se comporta como o navegante antigo, do qual o cu nublado escondia a orientao das estrelas. E, como seu antepassado, o crtico se obriga inveno. Mas preciso pensar melhor. A maneira como falamos em inveno d a entender que ela forosa por conta de nossa indigncia. Ora, independente das insuficincias de hoje, o crtico um inventor e no um descobridor, pois a descoberta implica a prvia existncia de um tesouro apenas encoberto e no, como na inveno, de existncia apenas provvel. Se somos descobridores no sentido de que revelamos um possvel [...]. Acrescentemos ainda: a inveno crtica s se distingue do jogo tambm rigoroso da imaginao porque no visa a construir uma fico dentro de outra fico. [...] A crtica uma inveno que pe limites inveno. (LIMA, L. C.: 1974, p.119, grifo nosso).
-
283 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Espcie de cincia inventiva, o modelo de crtica visado por LCL se aproximaria,
por seu lema declarado imaginao com rigor , mais de um certo modelo potico
que de um paradigma cientfico.
Tendo em comum, a poesia crtica de Augusto de Campos e a crtica poitica
de LCL o acentuarem o papel da criticidade do poeta e da poiesis do crtico, sem
confundirem os espaos respectivos da palavra potica e do juzo crtico, suas obras
exacerbam o questionamento do significado admitido de crtica e poesia, num
gesto, que cita constelarmente o primeiro romantismo alemo nos trpicos.
Seguindo a ordem cronolgica de publicao, da coletnea Teoria da literatura
em suas fontes (1975) importam-nos os dois ensaios autorais que, nesta primeira
edio, contribuem para precisar a ideia de crtica feita pelo autor.
No ensaio de abertura, O labirinto e a esfinge, consequente identificao do
estatuto da crtica com o lugar das cincias humanas, conferida sua teoria a
posio de um anlogo da epistemologia. Do estudo introdutrio da seo 6, A
anlise sociolgica, importa reter o conceito de crtica, ento definida como anlise
sociolgica do discurso literrio e no apenas anlise do discurso, como poderia
supor o leitor que desconhecesse o duplo plano em que Costa Lima procura se
inscrever desde seus primeiros trabalhos (lembre-se apenas a ttulo de exemplo a
definio que dava em 1966, no prefcio de Lira & antilira, da sua tentativa de
constituir uma crtica sociolgico-estrutural).
J em 1975, no artigo polmico Quem tem medo de teoria?, embora se
mantenha o pressuposto do estatuto cientfico da crtica, este comea a expor uma
acentuada instabilidade. Referindo-se cincia freudiana enquanto cincia
desejosa de conhecer o desejo, LCL observa que tal estatuto pressupe uma
subverso do conceito tradicional de cincia (LIMA, L. C.: 1981, p.196).
Ainda no mesmo artigo, pondera que a julgar pelo estado da crtica brasileira
atual, tomando por parmetro Afrnio Coutinho, Antonio Candido e Haroldo de
Campos, com todas as suas diferenas internas e de qualidade, que o salto terico
apenas hoje se prepara (id., p.194). De modo que, no avano representado pelos
trs crticos, LCL l, em negativo, a descontinuidade de planos entre teoria e mtodo:
sua novidade estaria na frente metodolgica que abrem e no na discusso
propriamente terica (id.) que desenvolvem. Vale reproduzir na ntegra a passagem:
-
284 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Para que se entenda o argumento necessitamos ter bem presente que metodologia no se confunde com teoria. No h por certo uma sem a outra, mas podemos desenvolver um argumento metodolgico ou deixando implcito seu embasamento terico como frequente em Candido ou o explicitando por repeties do j escrito o caso em A. Coutinho ou ainda por desenvolvimentos assistemticos a exemplo do que sucede em Haroldo de Campos. No dizemos, portanto, que o pensamento crtico permaneceu parado, mas sim que, numa escala de ruptura, ele se manteve mais prximo da situao tradicional que o todo da criao literria. [...] Este salto maior apenas hoje se prepara. Ele depende de, j no se confundindo crtica com apreciao de uma ou outra obra, mediante tal ou qual posio ou combinao metodolgica, desenvolver o pensamento crtico at a dimenso da teorizao sobre a prpria literatura, como um discurso entre muitos. Entre ns, tal passagem, quando tentada, sempre revelou a marca da dependncia cultural. (id., p.194-195)
Mas somente em 1976, na introduo de A perverso do trapezista, que LCL
lavra a pea acusatria de seu processo contra a crtica:
o que d ao crtico o direito de falar sobre o texto? Dito de maneira menos vaga, o que assegura a algum a legitimidade de sua interpretao? Dentro de uma rbita estritamente jurdica, diremos que tal direito confiado a algum que tem o poder de execut-lo. A questo do direito, ento, se desloca para a do poder. Dentro da mudana, acrescentemos que esse poder determinado por um conjunto de normas historicamente mutveis, vigentes no interior de um sistema literrio. [...] De posse desses esclarecimentos preliminares, avancemos nosso ponto de vista: a base sobre a qual se cria o poder do crtico contemporneo uma base equvoca (LIMA, L. C.: 1976, p.12-14, grifo nosso).
E, finalmente, em entrevista de 1978 a crtica ser considerada como no sendo
nem uma modalidade de cincia, nem de literatura. Afastados os modelos
imediatamente disponveis, impe-se definitivamente a necessidade de repensar a
crtica como gnero. A comear por sua relao com o modelo cientfico:
At que ponto a concepo que tenho de Cincia no uma concepo histrica, ligada s Cincias exatas? E o que no Cincia, o que ? Se a gente no se contenta com a soluo neokantiana (Cincias da explicao, Cincias da compreenso e as Cincias da compreenso eram as cincias inferiores, as cincias sociais), se a gente no se contenta com isso, a gente obrigado a pensar mesmo sobre a idia de Cincia, medida em que se pensa a tarefa do analista. (LIMA, L. C.: 1981, p.214)
-
285 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Indagao que se prolonga no prefcio que escreve para A literatura e o leitor,
(1979), onde faz um balano do alcance das pretenses da esttica da recepo:
Em toda construo terica, seja a cientfica, seja a do saber popular [...], h um plano de pressupostos, orientador, mesmo quando o analista no conhea, da indagao prtica, e um plano metodolgico, que diz respeito ao arsenal de regras e tcnicas com que se lida com o objeto. Portanto, se a esttica da recepo se diferenar apenas pelo realce do leitor, aquele primeiro plano permanecer intacto. Contudo, se por acaso o exame a que vamos submeter os textos provar o contrrio, quais sero as consequncias? Para diz-lo com poucas palavras: neste caso, a esttica da recepo implicaria o caminho para uma mudana paradigmtica (LIMA, L. C.: 2002a, pp. 40-41, grifo nosso).
Como revela a citao da expresso de Thomas Kuhn, LCL ainda hesita em
abandonar o referencial da cincia: se o paradigma objetivo que tem guiado a
prtica analtica deve ser ultrapassado, isto se impe para que as cincias, at agora
tidas por menores, possam alcanar seu verdadeiro estatuto (id., p.41, grifo nosso).
Mas o resgate do leitor ser suficiente para introduzir um transtorno na concepo de
crtica em construo.
III
Ser assim que Mmesis e modernidade, escrito em 1979, vai explicitar a
contradio prenunciada pela letra de seus textos desde 1973. Para dizer
sumariamente, a contradio entre a afirmao kantiana da impossibilidade de uma
cincia da arte e a manuteno de uma concepo cientfica da crtica. Ao traz-la ao
enunciado, Costa Lima no mais hesita em optar: A crtica esttica no nos leva a
postular uma cincia do potico (LIMA, L. C.: 2003a, p.80, grifo nosso).
A entrada em cena do leitor, trazendo consigo a da subjetividade do crtico, vai
impor uma drstica reavaliao de posies. At aqui, LCL partia do pressuposto de
que seria possvel alcanar uma formulao objetiva do discurso literrio. Embora j
apontasse para seu extravio, a rigor, ainda se mantinha prisioneiro de um quadro
terico substancialista.
-
286 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Apenas com a afirmao da realidade da fico por Wolgang Iser, o objeto que
define o espao da crtica recebe uma formulao flexvel e complexa o suficiente, a
partir da qual LCL poder visualizar, fora de um quadro substancialista, o lugar que
ocupar a atividade do crtico. Dispondo de um conceito capaz de indicar com
preciso, mas em negativo, os limites de seu discurso, sem que seus termos sejam
sequer alterados, a noo de crtica como inveno que pe limites inveno
(LIMA, L. C.: 1974, p.119) recebe uma retificao imediata: inveno que se distingue
da inveno potica por no constituir uma fico dentro de outra fico.
Da o novo giro que apresenta seu dilema:
A crtica se coloca numa posio extremamente ambgua. No h crtica sem poiesis [...] mas isso no converte a crtica num gnero literrio. [...] progressivamente eu vinha a verificar que todo o problema com que eu me deparava, todo o problema da teorizao, resultava do lugar ambguo que a crtica ocupava. Por que ambguo? Ambguo por que, de um lado, digamos, se a crtica a face concreta da teorizao e eu no acredito em crtica sem inventividade , portanto, a crtica faz parte da poiesis. Mas ela, crtica, por outro lado, no um gnero potico, quer dizer, eu no escrevo crtica como escreveria uma ode; eu no escrevo um romance, mesmo o romance que j est aqui, prximo, pela prosa em que se realiza, como eu escrevo uma crtica. Ento, ela, crtica, por um lado, no se confunde com os gneros poticos; por outro lado, entretanto, sendo poiesis, tem uma articulao interna com eles. Quer dizer, ela no se pe de fora do objeto. algo que pertence ao objeto de que ela fala, sem ser desse objeto. essa posio ambgua, essa situao precria, que o crtico h de descobrir. Descobrir esse caminho significa dizer j no optar [entre a alternativa dentro ou fora do potico], mas, sim, tentar desencravar uma dritta via, um terceiro caminho, que recupere, que atualize, melhor dizendo, esse seu carter inventivo sem que torne esse inventivo gnero potico (LIMA, L. C.: 2001).2
Em uma palavra, trata-se de indagar sobre a relao que os discursos da fico e
da crtica travam com a mmesis de que se alimentam: assim como a poiesis, a
criticidade no privilgio de um discurso particular, seja o da crtica ou da poesia;
nesta, a criticidade depende de uma poiesis que escoa pela via da fico; na crtica,
2 Na transcrio, suprimi as repeties da exposio oral e introduzi entre colchetes uma variao da resposta original, onde se lia j no fazer a opo racionalismo/estruturalismo versus hermenutica, que se vinculava estritamente pergunta formulada pelo entrevistador. Substituindo-a pela expresso entre a alternativa dentro/fora do potico, que procura explicitar seu sentido dentro da argumentao investigada.
-
287 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
embora se origine do mesmo cho que o da mmesis (LIMA, L. C.: 2000, p.395), seu
xito depender, ao contrrio, de ela no se converter em uma nova fico verbal.
De modo que a concepo de crtica da obra madura de LCL ficar subordinada
compreenso de como o juzo esttico se comporta perante a experincia da
mmesis.
Da que a plena problematizao do lugar da crtica por LCL s se estabelea
aps seu contato com a obra de Iser. No por acaso essa se enuncia no penetrante
ensaio Questionamento da crtica literria (1979), que prolonga e complementa a
reflexo de Mmesis e modernidade.
Primeira consequncia da mudana de perspectiva que se introduz, ela se
concentra na constatao de que:
ao menos no circuito esttico, no h verdades, essncias da obra, a serem encontradas. O tempo histrico reage sobre as obras, no apenas as envolve, e ou as faz perder seu interesse ou revela outra razo para elas. E como o analista no escapa deste mesmo lugar histrico, no poder tampouco pretender que enuncie verdades. Mas a ausncia de verdades a descobrir no se confunde com o relativismo do vale-tudo; com a aceitao de enunciados desde que persuasivos. (LIMA, L. C.: 1981, p.206, grifo nosso)
O que fora LCL a uma verdadeira epoch da compreenso da crtica, uma
suspenso metdica da evidncia de seu status:
se no sei precisamente o lugar que ocupar ou ocuparia um discurso que se sabe nem cientfico, nem ficcional, sei quando nada que advog-lo tem o propsito de tentar romper com a ideia que toma a cincia como detentora da lgica (LIMA, L. C.: 1981, p.207).
Sabendo-se que a palavra lgica faz aluso, aqui, s expresses lgica do
inconsciente (Lacan) e lgica do concreto (Lvi-Strauss), por oposio concepo
tradicional que identificava depreciativamente os objetos da antropologia e da
psicologia com uma anormalidade ou distrbio, seja da ordem social ou individual,
no se estranhar a insistncia do termo na formulao da meta torica do autor:
visamos ao desenvolvimento de uma atividade capaz de mostrar a lgica de um
objeto, experimentado como esttico (id., p.206).
Tampouco acidental, que a teorizao de LCL mantenha um dilogo constante
com a antropologia e a psicanlise, estando ambas visceralmente ligadas s teorias da
-
288 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
mmesis e do controle do imaginrio a que o crtico brasileiro submete a ideia de
discurso ficcional de Iser.
Com isso, podemos destacar um segundo marco capaz de delimitar a via
assumida por LCL. Por ele se afirma que a reformulao do pressuposto central da
crtica proposta por LCL vai se opor tanto anlise imanentista, que rejeita a mmesis
em nome da diferena do texto, quanto sociolgica, que a reduz semelhana com
o contexto.
4. Transtorno e reviravolta
No prefcio segunda edio da Crtica da razo pura Kant cunha a famosa
metfora da revoluo copernicana pela qual a metafsica deveria encontrar a via
segura da cincia. Mas o caminho espinhoso da crtica lhe aparece, afinal, como a
nica via transitvel para a filosofia. No dispondo de uma via segura, como conclui
o prlogo da Crtica da faculdade do juzo: a crtica deve fazer as vezes da teoria.
Igualmente, LCL s encontra uma via negativa para crtica literria. Mas se no
abandona a pretenso de encontrar uma via possvel para crtica, ainda que esta no
fosse segura como a da cincia, para descobrir seu terceiro caminho seria preciso
operar uma nova revoluo copernicana sobre o juzo esttico. Com efeito, o
repensar da mmesis no significa outra coisa. Assim, para entendermos o conceito de
crtica de LCL ser preciso relacion-lo reviravolta que prope sobre o conceito de
mmesis, como produo de diferena.
Ancorado na articulao estabelecida entre o juzo esttico e a experincia da
mmesis, o segundo ponto de aproximao do conceito de crtica de LCL, que se nos
oferece, obriga-nos a retomar o problema kantiano da validade do juzo:
que lastro de objetividade poder ter o valor esttico se entendermos que, na experincia em causa, como j se afirmava em Kant, a imaginao produtiva? Ou seja, que o receptor no capta um reflexo mas estabelece uma configurao, isto , organiza, filtra e seleciona o que recebe? (LIMA, L. C.: 2002b, p.17).
Sabemos que, para o jogo rigoroso da imaginao produtiva ativado no juzo
-
289 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
esttico no se confundir com o julgamento arbitrrio, sua inveno, em princpio,
toma outro caminho que o da mmesis de que se alimenta.
De um lado a mmesis necessria para que no se constitua uma fico dentro
de outra fico. Pois, se a obra de arte no tem um referente [...] como pode ser ela
apreciada? Ou como essa apreciao deixar de ser mais que um puro arbtrio? (LIMA,
L. C.: 2000, p.53). Mas se o crtico estabelecer essa correspondncia de forma
imediata, seja referindo-a a uma cena histrica, um pensamento terico ou uma viso
de mundo, pela exacerbao da semelhana entre a imagem potica e os
pressupostos do intrprete, a mmesis se converte em imitatio: ilustrao de uma
norma.
Por outro lado, atravs da reflexo abstrata e seu instrumento bsico, o
conceito, afirma LCL, que o crtico opera. No havendo separao drstica entre a as
fantasmagorias do intrprete e sua lucidez analtica, as possibilidades de se
desprender de suas prprias fices so muito relativas e altamente dependentes da
reflexo. Como o juzo esttico no parte de um conceito j dado, mas pode apenas
encaminhar uma concepo ou enunciado que funcione como se fosse um conceito
, ser pela inveno de conceitos, com a explicitao de seus pressupostos, que ele
se tornar o meio apto para LCL criar obstculos mmesis praticada pelo crtico.
Nesse circuito, o conceito atuaria como um instrumento de choque: no abole a
mmesis do crtico, apenas restringe seu imprio.
De modo que podemos reler o percurso intelectual de LCL como uma resposta
sistemtica ao problema da perverso da mmesis (i.e., da exacerbao da semelhana
com o modelo), como primeiro caso do controle do imaginrio. Mais especificamente,
como uma resposta questo da arbitrariedade do intrprete e da legitimidade do
juzo.
Donde as altas expectativas depositadas na indagao da mmesis. Dela se
espera ser capaz de formular uma nova base terica para a crtica. Entendido como
meio de reflexo sobre os limites da razo, o conceito de mmesis encerra para LCL
uma dupla tarefa: de mediao social da obra potica e denncia (desarme) da
autoridade do intrprete privilegiado.
Assim, afirmao da mmesis ativa do poeta se segue, como sua sombra, a
negao da mmesis passiva do crtico.
-
290 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
Na medida em que o resgate da mmesis potica se formula contra a prpria
mmesis do intrprete, o projeto de sua crtica da razo esttica revela-se portador de
um ponto opaco:
mesmo porque aceitamos que inexiste um critrio imanente de poeticidade, mesmo porque sabemos que, sem a entrada do leitor, a suprir os vazios da obra, esta no passa de um esquema incompleto, que defendemos a no transparncia entre experincia esttica e juzo sobre o potico. (LIMA, L. C.: 1981, p.206)
Convocada para romper o privilgio danoso de um sujeito privilegiado (LIMA, L.
C.: 2000, p.55), a mmesis visa criar parmetros de relativa objetividade para o juzo do
crtico. Mas como este no pode ser seno reflexivo, o suplemento de sentido que
atrubui ao texto apenas pode contar com o apoio de sua prpria cadeia
argumentativa.
II
Esta situao paradoxal do crtico perante a mmesis que atua involuntariamente
sobre seu juzo pode se tornar mais clara pelo paralelo que LCL permite traar com a
prtica do historiador. Pensada por oposio tanto cincia quanto arte, sua
indagao aponta igualmente para uma terceira destinao: Se rejeita a reduo da
histria fico, devido ao apoio daquela na aporia veraz, o terico no deixa de
questionar a inscrio da verdade no domnio do factual (ALCIDES, S.: 2006, p.340).
De modo que a caracterizao positiva desse terceiro lugar pressupe uma
crtica da concepo substancialista da verdade (id.) pedra angular da concepo
padronizada da escrita da histria e, em decorrncia desta, sua diferenciao quanto
ao modelo de verdade praticado seja pelo filsofo, seja pelo cientista. Entendida
como um valor, resultado de um juzo, e no captura de uma substncia, a prtica
veraz da escrita da histria prescinde, por um lado, dos processos de experimentao
e verificao das cincias e, de outro, no se investe necessariamente de uma
pretenso ontolgica, capaz de fixar sentidos aos rumos da existncia.
Nem operacional, nem especulativa, a verdade histrica antes reivindica uma
-
291 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
prtica semelhante da investigao judiciria (Franois Hartog), pois implicaria a
adequao de um caso particular a uma norma (escrita ou costumeira). Adequao
afirmada pela interpretao da autoridade que se julga competente (apud.
SCHWARTZ, A.: 2006, p.8). Mas diferena da autoridade jurdica, que atua a partir
de normas preestabelecidas, o historiador se v obrigado a explicitar seus
pressupostos, i.e., a questionar as regras do juzo que formula, devido mmesis que
pratica e no fico que supostamente engendra, como pensara Hayden White
(LIMA, L. C.: 2006, p.157).
Sendo a crtica, por definio, originria do mesmo solo que a mmesis, o que se
afirma sobre o historiador se torna tanto mais incisivo na rea do crtico.
Parafraseando, ento, o que LCL diz sobre aquele: embora seja uma forma discursiva
inconfundvel com a fico potica, por seu apoio especfico na aporia do valor
esttico, isto , da validade interssubjetiva do juzo, a crtica guarda consigo uma
reserva de mmesis.
Por isso, a incapacidade de formular conceitos torna o crtico potencialmente
portador de valores que transporta para seu objeto. A mmesis que nele opera
independe, ento, de sua vontade e chega a atuar contra ela. Torn-la indistinta da
mmesis ativa, intencional, engendradora de uma nova configurao potica, no
faria bem nem ao poeta nem ao crtico.
Donde a necessidade de explicitar seus pressupostos e questionar as regras do
juzo que formula a fim de evitar que a mmesis do crtico se resolva numa modalidade
de fico externa fico que no se declara fico. Ao contrrio, dela se distancia
pela reflexo demonstrativa de seu prprio processo analtico. Pois ao passo que o
verossmil ficcional trava uma relao paradoxal com a verdade (LIMA, L. C.: 2000, p.
64) no dispondo de operadores, ele teria por limite a impossibilidade de propor
outra verdade; no tendo a verdade como seu horizonte, a reencontra apenas na
forma de questo o verossmil crtico estabelece com ela uma estranha dialtica:
Tendo em seu horizonte a ideia de verdade da verdade, observe-se no necessariamente como captura de uma substncia , o conceito um dos meios crticos contra a conscincia bruta e automatizada. Meio por certo limitado [...] porque, no sendo a verdade a adequao, afirmada classicamente, entre uma coisa e o que dela se enuncia, sendo ao invs produto da interferncia de um juzo
-
292 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
humano sobre a propriedades ento postas em relevo do objeto, a promessa do conceito dizer o Ser do que conceitua nunca se cumpre (LIMA, L. C.: 1991, p. 50).
III
Seguindo seu rastro, havamos chegado ao ponto em que o autor se viu impelido
a estabelecer uma epoch radical do estatuto da crtica. Cumpre destacar, agora, que
se LCL declara desconhecer o lugar que a crtica ocuparia entre os saberes positivos,
isso no afeta imediatamente a formulao de seu conceito. Tanto que este
permanecer contido na definio de anlise do discurso literrio ao menos at que
Limites da Voz (1993) o redefina, em termos rigorosamente kantianos, como anlise
dos limites da razo. Conceito que se precisa, finalmente, em Histria. Fico.
Literatura (2006), para a forma que rene e explicita as anteriores: anlise dos limites
do discurso ficcional.
Vemos surgir, assim, o conceito de crtica da obra madura de LCL como
plenamente definido a partir da triangulao do lugar da crtica pelas questes da
mmesis e da fico e da mancha inevitvel de controle que se projeta sobre seu
juzo.
No obstante, dispormos do enunciado retificado do conceito de crtica
correspondente ao estgio mais alto da obra de LCL no assegura que possamos
declarar algo acerca seu estatuto discursivo que no seja apenas negativo, como
demonstra a continuao da anlise.
Estando afastada a referncia ao discurso cientfico, sua formulao prossegue
concentrada, como vimos, na relao com o ficcional: a crtica no est nem dentro,
nem fora do puro espao literrio. Faz parte da poiesis, sem se confundir com o
potico (LIMA, L. C.: 2005, p.215). Partindo da alternativa dentro/fora do territrio da
fico, Costa Lima ensaia, ento, uma nova aproximao de suas marcas discursivas:
O que de fato sucede que a aceitao da criatividade do analista [...] bloqueada pelas marcas que assinalam as reas discursivas hoje reconhecidas. Identificando-se o discurso dominante, o da cincia, com o discurso da verdade, a um dos distintos, o da fico, concede-se academicamente a marca de inventivo. [...] Tambm
-
293 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
aqui possvel uma terceira posio: o analista, tanto como terico, quanto como crtico, tem seus limites assinalados pelas marcas do discurso que pratica. O seu um discurso judicativo i.e., que procura fundar os juzos pelos quais apreciamos a fico. (fundar os juzos no significa necessariamente ditar normas; ser antes explicar porque se l certa obra de certa maneira, porque se desprezam tais outras, etc.). (LIMA, L. C.: 1988, p.351-2, grifo nosso)
Enunciado que tem a vantagem de pr a descoberto a raiz da dificuldade que
encontra na afirmao da positividade do discurso judicativo da crtica: no seria
apenas pelo modo como se conduz em face da subjetividade, mas sobretudo em
funo presena da Lei e da posio que assume perante ela, que a crtica se mostra
dificilmente teorizvel. Pois quanto menos se dobre s injunes das prticas de
verdade estabelecidas, quanto menos dependente de seu condicionamento pela
mmesis, tanto mais complicada sua aceitao pela Lei, o que tornaria a crtica
particularmente sensvel ao controle.
Ora, no sendo o seu estatuto nem mais, nem menos complexo de apreender,
em princpio, que o da antropologia, da psicanlise ou da escrita da histria; sua
dificuldade comum decorrendo da legitimao moderna do conhecimento fundado no
paradigma do sujeito; ser, finalmente, a partir da reformulao da concepo
moderna de subjetividade que Costa Lima encontrar a base necessria para sua
concepo renovada de crtica (LIMA, L. C.: 2006, p.134-140).
Sinteticamente, ento: a terceira via proposta por LCL se deixa ler, por esse
prisma, como uma alternativa tanto epistemologia moderna, fundada no sujeito
uno, autocentrado, e sua correlata concepo objetiva de representao, de que o
conceito (Begriff) constitui o modelo privilegiado; quanto epistemologia ps-
moderna, declaradora da morte do homem e do fim da representao, que teria
na metfora sua formulao adequada.
Na primeira ponta, a legitimao de uma epistemologia piramidal, que, tendo
a cincia em seu pice, estabelece uma hierarquia dos saberes regulada pelo modelo
de um discurso da verdade representado maximamente pelo uso conceitual
(legislador) da linguagem. No extremo oposto, a deriva assumida exemplarmente por
Derrida dela permanece no obstante prisioneira, na medida em que apenas a
desconstri sem a perda de sua forma geomtrica a pirmide deixa de ter como
cume o conceito, o enunciado unvoco, para que tenha a disseminao incessante de
-
294 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
um metafrico interminvel (LIMA, L. C.: 2010, p.21). Donde a tendncia inversa do
pensamento contemporneo de substituir o predomnio do modelo de saber
privilegiado fornecido pelo discurso cientfico, pondo em seu lugar o modelo do
discurso potico-ficcional. De modo que ambas as epistemologias pressupem, em
comum, uma organizao piramidal dos discursos (LIMA, L. C.: 1989, p.128).
Ora, o reconhecimento dos limites do discurso ficcional significa a crtica da
idia de um centro nico e no a postulao doutro centro (id., p.106). Se a
ultrapassagem da dicotomia clssica entre sujeito e objeto pretendida na dissoluo
da categoria do sujeito revelou-se, afinal, apenas um sintoma do privilgio mais
radical concedido subjetividade (LIMA, L. C.: 2000, p.283), para LCL, a crtica da
posio hegemnica do cientificismo moderno, no leva necessariamente sua
ocupao pela estetizao do saber. Pois, como adverte: estabelecer um
compromisso seja com a cincia, seja com a fico diluir o que h de mais ousado e
promissor na reflexo contempornea. (LIMA, L. C.: 1989, p.67).
Recusando ambas as direes LCL busca, finalmente, desobstruir seu prprio
caminho para a crtica atravs da reformulao do par axial das categorias de sujeito e
representao na teoria do sujeito-fraturado e da representao-efeito (LIMA, L.
C.: 2000), e pelo simultneo investimento em uma teoria no substancialista dos
territrios discursivos (LIMA, L. C.: 2006).
5. A crtica fora da arquitetnia kantiana
primeira vista, a via assumida por LCL se distingue apenas negativamente. De
um lado, por sua afirmao da crtica como criadora, mas distinta do ficcional, e de
outro, como conhecedora, mas diversa da cincia. Ela no literatura, ou melhor,
no participa do discurso potico-ficcional, pois suas proposies, ao contrrio do que
sucede ao texto ficcional, esto sujeitas ao critrio de verdade/falsidade, i.e., no
seriam apreciadas em funo de seu valor esttico, seno por sua validade cognitiva.
Pois, que um texto potico admita uma pluralidade de sentidos e imponha a tarefa
infinita da interpretao no significa que qualquer interpretao seja vlida a priori.
A afirmao da ausncia de verdades a descobrir no se confunde com o relativismo
-
295 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
do vale-tudo.
Mas ela tambm no uma cincia, posto que seu objeto no cabe sob leis, nem
se pode prever (prescrever) as reaes de seu receptor. A rigor, escreve LCL, o crtico
no dispe sequer de um mtodo: aprende-se com a experincia passada, a prpria
e a alheia, mas, quando tentamos converter experincias, mesmo que exitosas, em
mtodo, perdemos e estragamos a singularidade do objeto que nos move. Por isso,
o que se diz sobre a poesia, sobre a fico literria, sobre a arte, no respaldado por
instrumentao cientfica. Pois o que dela sabemos pela experincia em que entram.
Querer definir a experincia esttica pretender apreend-la cientificamente (LIMA,
L. C.: 2002a, p.46).
Sem mtodo, portanto, o crtico tampouco dispe, propriamente falando, de
conceitos:
como mostram os ensaios sobre teoria das cincias sociais de Max Weber, tambm as cincias histricas e humanas no contam com uma regularidade do objeto que permita a formulao de leis e mtodos de indagao uniformes. Ou, como diria Georg Simmel, o homem, mesmo por no ser s instinto, no apenas um ser governado pelo mecanismo da causalidade. [...] Por acaso, a biologia saiu-se melhor com a vida, que pretensamente seria seu objeto? A cincia operacionaliza um modo de ser; capaz de instrumentaliz-lo, de definir suas instrumentaes, mas no de definir seu objeto, seno de maneira ociosa. Como Weber j sabia, ao mdico cabe prolongar a vida do paciente. No lhe compete saber para qu. (LIMA, L. C.: 2002a, p.17, 45).
Se esta declarao da impossibilidade de definies da teoria literria no se
converte em axioma porque diz apenas dos limites da razo crtica: o imagtico e
as formas da conceitualidade traam os limites para a razo (id., p.19). Mas ao
contrrio do que sucede s cincias ditas exatas, onde a dimenso imagtica
necessariamente estiola pois que interessa ao bilogo que o termo clula tenha
como lastro metafrico original pequena cela? , se o crtico no considera essa
distino particular de sua linguagem ele arrastado a converter seu prprio texto
em competidor daquele que examina (id.).
Em sua acepo cientfica, enquanto operador, o conceito um enunciado
tanto mais poderoso quanto mais unvoco [...] literalmente Begriff, i.e., algo que
agarra e prende (LIMA, L. C.: 2010, p.20). Mas aqui LCL faz intervir uma distino
-
296 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
preciosa:
O latim forneceu ao alemo a possibilidade de um par, Konzept. Mas, no lxico corrente, Konzept significa esboo, projeto, programa. Para que o termo diga de sua funo na filosofia teramos de ressaltar sua etimologia: konzipieren, derivado de concipere. A crtica poitica medida que supe a abertura para uma concepo que ela ento elabora. Longe de tornar as imagens ociosas, o poitico da crtica no compete com as voltas e giros, torses e deslocamentos do ficcional literrio, mormente de sua espcie poemtica. Muito menos pretende alcanar a preciso e limite dos Begriffen. Ela visualisa o indeterminvel, minoritariamente o indecidvel (id., grifo nosso).
Ao enveredar por esse caminho, LCL est consciente de seguir uma via j
indicada por Kant. Como a importncia dessa reformulao se concentrar na
caracterizao do que o filsofo oferece do juzo de reflexo, lembremos sua
distino bsica face ao juzo determinante:
A faculdade do juzo em geral a faculdade de pensar o particular como contido no universal. No caso de este (a regra, o princpio, a lei) ser dado, a faculdade do juzo, que nele subsume o particular, determinante (...). Porm, se s o particular for dado, para o qual ela deve encontrar o universal, ento a faculdade do juzo simplesmente reflexiva (KANT, I.: 2005, p.23).
Limitemo-nos a notar com LCL, primeiramente, que a aparente simplicidade da
distino (um parte do geral para o particular, o outro percorre o caminho inverso)
ainda no basta para explicar a particularidade do juzo reflexivo. Esta supe uma
relao indita com a noo de finalidade revista pela terceira crtica.
Sendo indeterminado do ponto de vista dos conceitos em termos kantianos,
das leis gerais em que subsume o particular, o juzo reflexivo, ao contrrio do
determinante, passar a ser considerado
segundo uma tal unidade, como se um entendimento (ainda que no o nosso) as tivesse dado em favor de nossa faculdade de conhecimento, para tornar possvel um sistema da experincia segundo leis da natureza particulares. No como se deste modo tivssemos de admitir efetivamente um tal entendimento (pois somente faculdade do juzo reflexiva que esta ideia serve de princpio, mas para refletir, no para determinar); pelo contrrio, desse modo, esta faculdade d uma lei somente a si mesma e no natureza (id., p.24, grifo nosso).
-
297 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
A prpria necessidade de retornar ao juzo determinante e distingui-lo do
reflexivo, como observa LCL, resulta de o filsofo haver compreendido que a fora
organizadora do juzo determinante est longe de homogeneizar toda a experincia,
pois seus operadores funcionavam quanto experincia possvel, mas se paralisavam
diante da multiplicidade do estritamente emprico (id., p.125).
Na primeira crtica se estabelecera a distino entre pensar e conhecer, tendo
por base que o entendimento s pode conhecer o que se oferece atravs da
experincia, os fenmenos particulares que, com a ajuda da imaginao, subsume em
seus conceitos (Begriffen). No podendo tratar das coisas-em-si, a estas s caberia
serem pensadas pela ideias da razo, sem que se possa atribuir um predicado de
existncia a seu objeto. Ao entendimento ficaria resguarda, enfim, a capacidade de
legislar sobre o fenomnico, ao passo que razo s caberia prestar um servio a sua
meta cognitiva, fornecendo-lhe (meros) princpios reguladores.
essa arquitetura do juzo que a terceira crtica vem abalar. Ao questionar sua
capacidade de apreenso da multiplicidade contingente de leis empricas, a
prpria identidade entre conhecer e legislar (conceber, determinar e definir atravs
de um Begriff) que se torna problemtica. Assim, se antes era a razo que recebia
limites s possvel conhecer o que se d atravs da experincia possvel , agora
o entendimento que ver restringido seu alcance: sequer as cincias (ditas) exatas
podem pretender legitimamente conhecer a totalidade do que se oferece
experincia concreta, pois o tipo de juzo em que se apoia o enunciado cientfico, o
juzo determinante, s d conta do que nesta se inscreve na ordem da causalidade
mecnica da natureza.
Ao contrrio, ao juzo reflexivo caber tratar do que no se inscreve nessa ordem
causal, o que Kant assinala como sendo da ordem da intencionalidade:
o juzo de reflexo cumpre-se fora do mbito das leis mecnicas que regem a natureza. Por isso mesmo, ele opera com uma ideia que, mesmo porque ideia [...] no tem a capacidade de esclarecer a realidade material do objeto: a ideia de fim. [...] enquanto (mero) produto da razo que a ideia de finalidade considerada como explicativa da prpria forma como um objeto aparece. [...] O que equivale a reiterar: a ideia de fim no cabe no juzo determinante, no declara as propriedades do objeto; um suplemento de sentido
-
298 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
com que a razo contribui para que as coisas tenham sentido (LIMA, L.C.: 2000, p.48).
Destaque-se o inesperado da concluso: o juzo de reflexo no declara as
propriedades do objeto, em contrapartida ele seria um suplemento de sentido.
Relendo Kant a partir de Iser, LCL extrai do filsofo uma consequncia que nele no se
inscreve.
Dizer que o juzo reflexivo no declara as propriedades do fenmeno, por certo
equivale a aceitar a concluso de Kant de que ele no pode conhecer, ao menos no
sentido em que a cincia conhece. Porm, se a crtica no diz das propriedades
objetivas de seu objeto, isso no impede que ela possa pens-lo. O que, por sua vez
significaria que ele opera com ideias e no com conceitos, ao menos no sentido em
que o entendimento opera com seus Begriffen.
Mas mesmo porque aqui o pensamento pensa o que se apresenta a uma
experincia concreta no caso do crtico, uma experincia esttica , seria errneo
confundi-lo com o que Kant declarava na primeira crtica a respeito da razo pura, que
se ocupava ilegitimamente do suprassensvel. Em forma direta, que se supe aqui
seno uma outra modalidade tanto de conhecimento quanto de conceito?
De fato, observa LCL:
Em toda a Terceira Crtica, conceito empregado em um sentido mais amplo do que na Primeira, pois no significa um enunciado que declara as propriedades objetivas de um fenmeno, seno que assinala as propriedades a este atribudas pelo agente humano [...] no acidental que se fale em conceitos da razo [...] todas as operaes de que trata a Crtica da faculdade de julgar antes enfatizam o papel da razo que do entendimento [...] a rea de eficcia deste , por conseguinte mais restrita do que a Crtica da razo pura nos levava a pensar. Essa rea se restringe ao campo mecnico. Por conta dessa limitao, mesmo antes que entre em cena a experincia esttica, o mundo se mostra mais refratrio ao sentido do que uma primeira leitura da Primeira crtica teria feito supor. (LIMA, L. C.: 2000, p.169-170).
Se, como j se afirmava na primeira crtica, s o real enquanto experimentvel
propriamente cognoscvel, no ser a razo coextensiva ao real no significa que
no tenha o direito de indagar sobre o que no propriamente cognoscvel (id.,
p.239). Assim, se o carter sui generis da experincia da arte impede que a crtica
-
299 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
assuma uma direo normativa, isso no impede que o crtico empregue conceitos;
apenas o conceito perde a sua necessria conotao de reconhecedor da
homogeneidade do objeto. Em seu lugar, na crtica de arte ele se tornaria, para falar
com W. Benjamin, um medium-de-reflexo.
Haveria, pois, outro entendimento possvel para conceito, mais prximo do
termo corrente alemo Konzept (esboo, projeto, programa), que realaria seu lastro
metafrico original como concepo, o que supe um processo de produo
terica, uma atividade poitica do conhecimento. Mas diversa da que suposta pelo
juzo determinante, onde a imaginao apenas presta um servio ao entendimento,
no juzo reflexionante a imaginao produtiva, o que significa que no se limita a
converter em representaes (Vorstellungen) os dados da experincia, seno que se
pe a funcionar no mesmo nvel do entendimento como faculdade das apresentaes
(Darstellungen):
ao contrrio do que se d nos parmetros do conhecimento estrito, a experincia esttica singular, i.e., por ela a imaginao do sujeito ativada e posta a funcionar no mesmo nvel que sua capacidade de entendimento (id., p.240, grifo nosso).
Haveria ainda outra destinao para o uso emprico da razo no juzo esttico
que o de declarar apenas o modo como o sujeito afetado pelos fenmenos: ela pode
pens-lo e, atravs de um ato inventivo original da imaginao (o como se
teleolgico), conferir ao objeto um suplemento de sentido:
O conceito de fim [...] visa suplementar um sentido impossvel de ser alcanado conforme os simples mecanismos da natureza [...] A representao do efeito aqui o fundamento determinante de sua causa (B 33). Com facilidade da se deduz que o fim o produto de uma faculdade especfica, a da apetio, que se atualiza por meio da vontade [...] representao do efeito, provocadora de uma causalidade que no ultrapassa o crculo subjetivo, o conceito de fim nos faz verificar que o conhecimento do mundo se estende alm da aferio cientfica (id., p.170-171).
Assim, necessariamente se reformula a relao entre o real e o pensar, numa
concepo de que sai extremamente enriquecida a interpretao de Kant:
O ato de leitura crtica implica a recolha de sinais e marcas que, sem
-
300 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
recuperar o real [...] o indiciam. O real assim no nem o que se pe diante de mim e exige uma linguagem que o torne transparente, nem tampouco o que se embaralha em uma cadeia deslizante de significantes, i.e., de promessas de sentido, sempre autodestrudas. O real isso e aquilo; algo que est a e algo que se constri (id., p. 398).
Concepo de que segue, como seu pendant, a inferncia de que a
indeterminao da realidade do ficcional, sem permitir a figura do mestre eis a
interpretao certa admite o sentido, certo que sempre provisrio. (id., p.399).
6. O horizonte do precrio
Tirada de sua arquitetnica, a terceira crtica admite uma releitura imprevista.
Ao invs de garantir a homogeneidade da experincia, nela a realidade humana como
um todo, e no apenas a que se apresenta experincia esttica, se mostrou ainda
mais refratria ao sentido do que j se afirmava na primeira crtica.
Consequncia direta do afastamento do projeto arquitetnico de Kant, a crtica
aparecer para LCL como uma atividade eminentemente (a) reflexiva no
normativa e (b) argumentativa no apodtica (LIMA, L. C.: 2002a, p.11-12). E
tampouco se poder confundir sua teoria com um mero conjunto de axiomas, pois ser
ela argumentativa significa que sua concepo de literatura, por exemplo j no
caber numa definio (id., p.40).
De modo que na crtica de arte e de literatura o conceito se torna ferramenta
para o pensar; algo por definio plstico e modificvel de acordo com o objeto
singular que analisa, com sua posio no espao e no tempo (LIMA, L. C.: 2000, p.17).
Assim entendida, a teoria estabelece limites para o juzo do crtico, a fim de
restringir sua arbitrariedade. Nem promove sua extenso, nem garante sua
correo, servindo apenas para favorecer e consolidar seu exerccio, abrindo-lhe
novos caminhos, que a crtica interpretativa meramente pragmtica desconhece. O
desvio que pratico, escreve ao final de Mmesis: desafio ao pensamento, [visa] criar
parmetros de relativa objetividade, cuja qualidade depender do prprio exerccio
crtico (LIMA, L. C.: 2000, p.398-399).
-
301 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
A partir dessa demarcao, LCL ensaia nova aproximao do lugar da crtica,
propondo repens-la como uma atividade que no se encerra em sua mera funo
pragmtica: apreciar o mrito ou demrito de certa(s) obra(s) (LIMA, L. C.: 2005b,
p.120). Visto que a funo prtica imediata da crtica consiste na apreciao do
valor esttico, assim entendida a crtica seria um exerccio de mediao; um modo
de tornar mais acessvel o que, por si, ora mais, ora menos evasivo compreenso
(id.).
Mas tomado em seu sentido meramente pragmtico, prossegue LCL, o conceito
de crtica bifurca-se em duas modalidades: a crtica preceptstica e a crtica
interpretativa. A que se esgota no exerccio puramente judicativo e a que supe
uma linha interpretativa que leva a um juzo valorativo. Enquanto o crtico que se
adapta ao modelo judicativo trabalha com dois pesos a norma e sua justificao
[...], na sua segunda espcie de crtica prtica, a justificao substituda pela
interpretao, que, de sua parte, no subordinada a uma norma prvia. (id.).
Como a obra literria, porm, no fornece por si mesma conceitos, o crtico
interpretativo, consciente ou inconscientemente, lana mo de textos que admitam a
produo de conceitos ou ferramentas de generalizao (id.), sejam extrados da
historiografia, da filosofia, da psicanlise, das cincias sociais, etc. Porm, utilizando-
os nos moldes da uma atividade pragmtica, emprega-os como instrumentos a serem
operacionalizados (Begriffen), ou seja, por sua aplicao ao texto, que dessa forma
tendencialmente se converte em ilustrao seja de uma linha de pensamento, seja de
um momento histrico. Pois, para que mantenha seu carter mediador, a crtica
prtica no se interessa por discusses tericas (id, p.121).
Mas tendo em vista que a literatura exige menos o julgamento de suas obras ou
de seu prprio discurso do que a fundamentao do juzo que delas se faa (LIMA, L.
C.: 1981, p.200), a crtica pragmtica depara-se com um limite que ela no pode
transpor, sem repensar drasticamente seus pressupostos:
como o crtico pode legitimamente mediar se seu objeto no cabe sob leis? Aqui est o problema capital. A crtica mediadora, mesmo a que se recusa a ser preceptiva, se baseia em exemplos prvios. No ter a literatura como as artes em geral leis prprias significa que os exemplos modelares so sempre passveis de ser reconfigurados. Mas quando poder o crtico saber se a tradio perdeu sua vigncia
-
302 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
ou se o novo que se lhe apresenta mais que um mero apelo mercadolgico? justamente porque no pode sab-lo de antemo que a atividade crtica no se basta com mediadores, e sua face prtica. ainda por isso que, em cada cultura, nos momentos de desestabilizao, os mediadores se mostram insuficientes [...] nesse instante que a inveno crtica se impe, ela em sua via
especfica: a via da teorizao. O gesto inicial da teorizao consiste em se interrogar alm do que est assegurado pela prtica herdada ou admissvel (LIMA, L. C.: 2005b, p.122, grifo nosso).
Ao lado das duas modalidades pragmticas vem se colocar, assim, uma terceira
espcie, a crtica de inveno pela qual se concretiza a via da crtica terica. Mas,
insiste LCL, esta se pe ao lado da crtica prtica, pois perguntar por sua
especificidade no supe negar validade s modalidades anteriores. A crtica terica
no prescinde delas, nem as relega ao ostracismo. Mesmo porque no menos
pragmtico, sua funo bsica a mesma, a apreciao do valor esttico, e sua
operao no menos interpretativa, o crtico inventivo se caracteriza inicialmente
apenas por uma negao no se restringe funo mediadora, qual estabelece
limites e por uma tautologia se diferencia por sua disposio para enfrentar e
dialogar com a reflexo terica ou at impulsion-la, apenas em raros casos,
afirmando-se como autor de escritos tericos. (id.)
A que se acrescenta uma segunda srie de negaes aproximativas: ao
contrrio da obra de arte, que s pode ser inventiva, a inveno [apenas] uma
modalidade da crtica (id., p.124). Ao passo que naquela a inveno se afirma (ou se
nega) por sua prpria textura, na crtica ela depende de um encaminhamento
demonstrativo. Pelo que a crtica se disporia na metade do caminho entre a arte e a
reflexo filosfica. Como a arte, ela precisa de um veio poitico. Como a reflexo
filosfica, este veio se apoia em uma rede de conceitos (id.).
Mas se supe o uso de conceitos, ao contrrio da cincia, no faz afirmaes
gerais, no nivela as obras particulares em espcies (id.). Embora seja legtimo falar
em gneros literrios, saber o que singulariza o trgico ou a pica ainda nos deixa
longe de uma compreenso razovel, tanto de Sfocles ou Homero, quanto mais de
Eurpedes ou Dante.
Argumentao que quase uma retomada literal do que LCL j escrevia h mais
de uma dcada: a crtica no est nem dentro, nem fora do puro espao literrio. Faz
-
303 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
parte da poiesis, sem se confundir com o potico, pelo que s se podia dizer que a
crtica reside em certo intervalo (LIMA, L. C.: 2005a, p.215, grifo nosso.) Mas com
um acrscimo negativo que trai seu avano sobre a formulao antecedente: tambm
no discurso do filsofo o conceito rompe com seu estatuto de Begriff.
Assim, desde que LCL abandonara sua pretenso cientfica, a crtica que num
primeiro momento se designava apenas por dupla negao (nem cincia, nem
literatura), embora j pressupondo uma afirmao negativa ( um saber sem ser
cincia, inventivo sem ser potico), no segundo ato de seu questionamento
mantm-se os limites j conquistados, acrescentando uma primeira aproximao
negativa (nem dentro, nem fora do potico). Numa terceira etapa, enfim, mantendo
as duas marcas anteriores, incorpora uma segunda aproximao negativa (nem
dentro, nem fora da filosofia). Pelo que ela permanece ainda num certo intervalo,
mas no o mesmo que servira de ponto de partida: agora o intervalo habitado pela
crtica situa-se a meio caminho entre a arte e a filosofia.
Pelo primeiro ato, afirmava-se: tem positividade. Pelo segundo: tem poiesis. E
pelo terceiro: tem conceitos. Mas bem se v que o movimento da srie no se cumpre
por sntese dialtica. A cada afirmativa permanece ligando o predicado: mas no
como. Resta por conceber uma outra noo de conhecimento e uma outra
modalidade de conceito, bem como o papel que neles desempenha a inveno
crtica. Nem cincia, nem arte, nem filosofia... Deslocam-se as negaes, mas a via
da crtica permanece, a cada etapa, sempre oblqua e terceira.
Apenas esboando-se, aqui e ali, alguns indicadores parciais de sua regio
discursiva, mesmo dentro de seu prprio campo ela ainda a terceira espcie, que s
se deixa apreender por negao: diametralmente oposta prtica normativa, por seu
carter reflexivo; heuristicamente divergente da prtica mediadora, por seu
procedimento argumentativo; de ambas diversa, por sua prtica terica. Exceto por
uma afirmao positiva: a crtica de inveno incorpora e explicita como problemas
os atributos de suas modalidades pragmticas. Ser, assim, justamente de sua
pertena a um espao comum que LCL vai extrair formulao que mais nos interessa
do ponto de vista de uma caracterizao positiva do lugar da crtica:
Das trs espcies referidas de crtica, legtimo dizer-se: (a) suas
-
304 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
diferenas so apenas de grau, muito embora a distino entre a normativa e a crtica de inveno chegue a parecer de natureza; (b) diferenas de grau pelas posies que ocupam no espao formado pelos polos do julgamento e do juzo. (id., p,123)
Serem suas diferenas apenas de grau, e no qualitativas, equivale a dizer que a
modalidade terica se mostra to problemtica quanto as anteriores em relao a sua
margem de arbitrariedade ela pode converter igualmente seus critrios em normas
ou suas categorias em operadores. Do mesmo modo que as modalidades pragmticas
compartilham do estatuto precrio daquela, pois ao contrrio das profisses liberais,
o crtico no se justifica pelo que faz ou deixa de fazer (LIMA, L. C.: 2000, p.13).
Mas na anotao (b) que LCL abre, de fato, uma perspectiva indita, traando
um esboo de concepo das marcas discursivas que assinalam por dentro os limites
da crtica por dentro, e no apenas por suas fronteiras com outros discursos. Em
forma desenvolvida: os polos opostos, julgamento e juzo, que ladeiam o espao
crtico, se caracterizam pela correspondncia que mantm, respectivamente, quanto
estabilidade da norma e a atitude de reindagao do que se toma por norma (LIMA,
L. C.: 2005b, p.123, grifo nosso).
Traado esse permetro, LCL passa a especificar as referidas diferenas de grau
das trs modalidades conforme as posies que ocupem nesse espao crtico.
Na primeira ponta, localiza-se o homem do julgamento, o crtico normativo ou
juiz-da-arte (Kunstrichter), que opera a partir de uma legislao implcita, que tem a
fora de um costume. Sendo legislador, ele simplesmente repele a reflexo terica.
No polo oposto, dispe-se o crtico de inveno, homem do juzo, que seria ao
contrrio aquele cuja apreciao assenta em uma disposio, conceitual ou
propensamente conceitual, a que alude ou demonstra, que firma uma relao
constitutiva com a teorizao. O que no significa menos passvel de arbitrariedade.
Na posio intermdia, est o crtico interpretativo, homem da mediao por
excelncia. Por ser interpretativo, conta de antemo com uma norma, embora no a
tome como cristalizada, pronta para servir de preceito; mesmo porque toda
interpretao ou insinua sua base terica ou d condies para que a teorizao
subjacente se explicite a posteriori. Teorizao que tanto pode explicitar um corpus
j constitudo, quanto esboar uma teoria a ser ainda elaborada. Visto que, embora
-
305 Eutomia, Recife, 11 (1): 269-310, Jan./Jun. 2013
mantenha a desconfiana quanto teorizao, em princpio no lhe adversa. (id.)
Desse modo, conforme as posies assim ocupadas no espao crtico,
estabelecem-se igualmente trs modalidades distintas de relacionamento com a
prtica terica: indiferena ou averso a ela (preceptstica), suspeita potencial ou
internalizao de uma reflexo j constituda (interpretativa) e dilogo explcito com
o corpus terico com que opera ou que desenvolve (inventiva) (id.).
7. Uma consequncia imprevista?
Mas acaso j podemos falar, aqui, em uma concepo positiva do territrio da
crtica? A rigor, o esquema do espao crtico traado por LCL no configura ainda uma
teoria do seu discurso. medida que seu projeto interioriza no espao crtico a dupla
negao, ao invs de eliminar o risco do dogmatismo ou da estetizao da crtica, a
observncia de sua via oblqua passa a ser constitutiva da sua possibilidade,
intensificando a prpria urgncia de uma criticidade que acompanhe cada passo seu
(LIMA, L. C.: 2005a, p.238).
Por cert