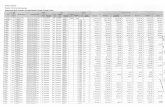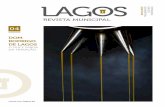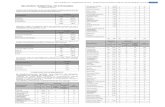(2)_Florentina_Souza_-_Literatura_Afrobrasileira
-
Upload
lisi-gaspar -
Category
Documents
-
view
128 -
download
0
Transcript of (2)_Florentina_Souza_-_Literatura_Afrobrasileira
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA
Presidente da Repblica Lus Incio Lula da Silva Ministro da Cultura Gilberto Gil Fundao Cultural Palmares Ubiratan Castro (Presidente) Universidade Federal da Bahia-UFBA Reitor da UFBA Naomar Almeida Diretora da FFCH Lina Aras Diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais-CEAO Joclio Teles dos Santos
Reviso Maria Nazar Mota de Lima Eleyde Lima Alves dos Santos Editorao Bete Capinan Capa Nildo e Renato da Silveira
L775 Literatura afro-brasileira / organizao Forentina Souza, Maria Nazar Lima. _Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Braslia: Fundao Cultural Palmares, 2006. 220p. ISBN: 85-88070-049 1. Negros na literatura. 2 Literatura brasileira - Escritores negros. 3. Tradio oral. 4. Negros - Literatura infanto-juvenil. I. Souza, Florentina. II. Lima, Maria Nazar. III. Universidade Federal da Bahia. Centro de Estudos Afro-Orientais. Fundao Cultural Palmares. CDD - B869.09 809.896
Florentina Souza Maria Nazar Lima(organizadoras)
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA
Centro de Estudos Afro-Orientais Fundao Cultural Palmares 2006
Apresentao
A Lei 10.639, sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo Presidente Lus Incio Lula da Silva, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional e incluiu a obrigatoriedade do ensino da Histria e Cultura Afro-Brasileira em todos os currculos escolares. Este advento criou a imperiosa necessidade de produo de material didtico especfico, adaptado aos vrios graus e s diversas faixas etrias da populao escolar brasileira. Considerando o atendimento demanda de projetos educacionais empreendidos pelas associaes culturais e pelos grupos organizados do Movimento Negro, notadamente os cursos de pr-vestibular, os cursos profissionalizantes e os cursos noturnos em geral, a Fundao Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministrio da Cultura, adotou como prioridade a produo de suportes pedaggicos apropriados aos jovens e adultos, pblico alvo destes projetos. Para tanto foi estabelecido um convnio com a Universidade Federal da Bahia, atravs do Centro de Estudos Afro-Orientais-CEAO, para a realizao de concursos nacionais para a elaborao de dois vdeos documentrios e de trs livros, um dos quais este volume que apresentamos. O resultado exitoso deste projeto deveu-se participao de todos os especialistas que integraram as comisses julgadoras, ao empenho administrativo da Profa. Mestra Martha Rosa Queirs,
Chefe de Gabinete da Fundao Cultural Palmares e do Prof. Dr. Joclio Telles, Diretor do CEAO-UFBA. Agradecemos especialmente liderana acadmica do Prof. Dr. Joo Jos Reis e da Profa. Dra. Florentina Souza. Para assegurar o acesso de todos educadores aos resultados deste projeto, desde j esto franqueados os respectivos direitos de reproduo a todos os sistemas pblicos de ensino e a todos empreendimentos educacionais comunitrios. Acreditamos que o ensino da Histria e da Cultura AfroBrasileiras representar um passo fundamental para um convvio social caracterizado pelo mtuo respeito entre todos os brasileiros, na medida em que todos aprendero a valorizar a herana cultural africana e o protagonismo histrico dos africanos e de seus descendentes no Brasil. Ubiratan Castro de ArajoPresidente Fundao Cultural Palmares
Sumrio
Captulo I Literatura negra, literatura afro-brasileira: como responder polmica? Captulo II Sculos de arte e literatura negra Captulo III Tradio oral e vida africana e afro-brasileira Captulo IV Autores contemporneos Captulo V Literatura infanto-juvenil com personagens negros no Brasil 179 113 77 39 9
LITERATURA NEGRA, LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: COMO RESPONDER POLMICA?Maria Nazareth Soares Fonseca
10 Literatura afro-brasileira
O Atlntico Negro e a Literatura
As expresses literatura negra, literatura afro-brasileira, apesarde bastante utilizadas no meio acadmico, nem sempre so suficientes para responder s questes propostas por pessoas cujas atividades esto relacionadas com a literatura, a crtica, a educao. Quando discutimos os vrios sentidos contidos nessas expresses, utilizamos argumentos construdos a partir da literatura produzida em outros lugares, geralmente Estados Unidos, Antilhas negras e frica. Em relao, por exemplo, chamada literatura negro-africana, as pessoas quase nunca questionam a expresso, pois a consideram adequada, embora desconheam as implicaes que ela traz. No entanto, quando dizemos literatura negra ou literatura afro-brasileira em referncia produo artsticoliterria no Brasil, vrias questes so suscitadas. Para compreendermos melhor os sentidos dessas expresses, necessrio que nos reportemos a certos acontecimentos relevantes. A expresso literatura negra, presente em antologias literrias publicadas em vrios pases, est ligada a discusses no interior de movimentos que surgiram nos Estados Unidos e no Caribe, espalharam-se por outros espaos e incentivaram um tipo de literatura que assumia as questes relativas identidade e s culturas dos povos africanos e afro-descendentes. Atravs do reconhecimento e revalorizao da herana cultural africana e da culturaLiteratura afro-brasileira 11
popular, a escrita literria assumida e utilizada para expressar um novo modo de se conceber o mundo. Para muitos tericos e escritores do Brasil, das Antilhas, do Caribe e dos Estados Unidos, a utilizao do prefixo afro no consegue evitar os mesmos problemas j verificados no uso da expresso literatura negra. Segundo eles, tanto o termo negro(a) como a expresso afro-brasileiro(a) so utilizados para caracterizar uma particularidade artstica e literria ou mesmo uma cultura em especial. Com base nesse raciocnio, ambos os termos so vistos como excludentes, porque particularizam questes que deveriam ser discutidas levando-se em considerao a cultura do povo de um modo geral e no apenas as suas particularidades. No caso do Brasil, por exemplo, se deveria levar em conta a cultura brasileira e no apenas a cultura negra. Numa opinio contrria, outros tericos reconhecem que a particularizao necessria, pois quando se adota o uso de termos abrangentes, os complexos conflitos de uma dada cultura ficam aparentemente nivelados e acabam sendo minimizados. Nessa lgica, o uso da expresso literatura brasileira para designar todas as formas literrias produzidas no Brasil no conseguiria responder questo: por que grande parte dos escritores negros ou afro-descendentes no conhecida dos leitores e os seus textos no fazem parte da rotina escolar? Neste sentido, importante ressaltar que o poder de escolha est nas mos de grupos sociais privilegiados e/ou especialistas os crticos. So eles que acabam por decidir que autores devem ser lidos e que textos devem fazer parte dos programas escolares de literatura. Por isso, vale a pena aprofundar um pouco mais a discusso sobre a dificuldade de nomeao da arte e da literatura produzida por autores no eleitos pela crtica.
12 Literatura afro-brasileira
Literatura negra ou afro-brasileiraMesmo entre os escritores que se assumem como negros, alguns deles muito sensveis excluso dos descendentes de escravos na sociedade brasileira, existe resistncia quanto ao uso de expresses como escritor negro, literatura negra ou literatura afrobrasileira. Para eles, essas expresses particularizadoras acabam por rotular e aprisionar a sua produo literria. Outros, ao contrrio, consideram que essas expresses permitem destacar sentidos ocultados pela generalizao do termo literatura. E tais sentidos dizem respeito aos valores de um segmento social que luta contra a excluso imposta pela sociedade. Essas discusses so importantes para que possamos compreender os mecanismos de excluso legitimados pela sociedade. Por exemplo, quando nos referimos literatura brasileira, no precisamos usar a expresso literatura branca, porm, fcil perceber que, entre os textos consagrados pelo cnone literrio, o autor e autora negra aparecem muito pouco, e, quando aparecem, so quase sempre caracterizados pelos modos inferirorizantes como a sociedade os percebe. Assim, os escritores de pele negra, mestios, ou aqueles que, deliberadamente, assumem as tradies africanas em suas obras, so sempre minoria na tradio literria do pas. As expresses literatura negra, poesia negra, cultura negra circularam com maior intensidade na nossa sociedade a partir do momento em que tivemos de enfrentar a questo da nossa identidade cultural. Nesse processo, tambm tivemos que assumir as contradies acirradas pelo fato de o Brasil querer se ver como uma cultura mestia, uma democracia racial. Quando as contradies afloraram de forma mais constante, os preconceitos contra os descendentes de africanos tornaram-se mais evidentes, embora tais preconceitos quase nunca sejam realmente contestados, sendo at assumidos como no ofensivos. Houve, ento, um momento em que se tornou inevitvel discutir sobre a literatura produzida por negros ou que trata dos conflitos vividos pelos negros. Com isso, surge uma interrogaoLiteratura afro-brasileira 13
sobre os critrios de identificao desta literatura: como seria, num Brasil que se diz mestio, uma literatura negra? Que traos a distinguiriam da literatura no negra? Alguns tericos da literatura defendem a manuteno da expresso literatura negra mesmo aps a popularizao da expresso literatura afro-brasileira. Se observarmos alguns ttulos de antologias publicadas a partir da dcada de 80, no Brasil, vamos perceber como isso acontece: Cadernos Negros, coletnea publicada, a partir de 1978, pelo Movimento Quilombhoje de So Paulo; Antologia contempornea da poesia negra brasileira (1982), organizada pelo poeta Paulo Colina; Poesia negra brasileira (1992), organizada por Zil Bernd. Em todas as colees que renem, em sua maioria, poemas a questo negra aflora. Essas antologias constituem um material de pesquisa muito importante, pois apresentam textos literrios que circulam pouco nos meios acadmicos e nos programas de literatura das escolas de ensino fundamental e mdio. Elas tambm so relevantes porque discutem questes que dizem respeito excluso vivida por grande parte da populao brasileira. Merecem ser consideradas, neste sentido, as propostas explcitas nos textos publicados pelos Cadernos Negros, a seleo privilegiada pela antologia Poesia negra brasileira (1992), organizada por Zil Bernd, ou as possibilidades de leitura do ttulo da antologia Quilombo de palavras: a literatura dos afro-descendentes. Na proposta inicial dos Cadernos Negros defendido o uso da expresso literatura negra para nomear uma expresso literria que se fortalecia com as lutas por liberdade no continente africano, na dcada de 70. O processo de independncia que propiciou, nessa dcada, o nascimento das naes africanas de lngua portuguesa, foi a motivao maior do surgimento dos Cadernos Negros, que procurava trabalhar a relao entre literatura e as motivaes scio-polticas. Os primeiros textos da coletnea buscavam, como afirma Miriam Alves (2002)1, desconstruir uma tradio literria que exclui a produo literria marcadamente poltica. Os Cadernos Negros, na contramo da literatura legitimada, assumiam a rebeldia de segmentos da populao negra em sua luta contra a chamada democracia racial. Propunham, como considera Miriam14 Literatura afro-brasileira
1
Ver o artigo Cadernos Negros (nmero 1): estado de alerta no fogo cruzado.
Literatura afro-brasileira 15
Alves, negar a negao de toda uma vivncia-existncia da populao negra (2002, p. 225). Considere-se que, a partir de um certo momento, talvez a partir do nmero 18, os Cadernos Negros assumiram os subttulos: poemas afro-brasileiros e contos afro-brasileiros. Esse acrscimo d ao ttulo uma significao mais ampla, atenuando a questo tnica que estava muito transparente nos nmeros iniciais da coleo e ainda est presente na produo de vrios escritores que publicam em nmeros mais recentes. O primeiro volume de Cadernos Negros (1978-), a antologia de literatura afro-brasileira de vida mais longa, j que desde 1978 vem sendo anualmente publicada, procurava, de certa forma, ampliar a herana deixada por escritores negros brasileiros. Propunha, seguindo o caminho j trilhado por Solano Trindade e outros escritores, expandir o espao de publicao dos escritores negros e trabalhar com temas relacionados cultura negra no Brasil. Os objetivos so considerados como estratgia de reverso da imagem do negro visto como mquina-de-trabalho, como coisa-ruim ou como objeto sexual. Desse modo, incentivada uma viso crtica sobre os preconceitos disseminados na sociedade e so apontadas as possibilidades de apresentar o escritor negro como consciente de seu papel transformador. Os escritores que aderiram ao projeto dos Cadernos Negros sempre tiveram a preocupao de refletir sobre o lugar ocupado pela literatura produzida por eles no cenrio literrio brasileiro. Embora a coletnea consagrasse a expresso literatura negra, essa no era assumida por todos os participantes do movimento Quilombhoje. O texto Palavras jongadas de boca em boca, publicado em Criao crioula, nu elefante branco (1987),2 discute as posies de escritores pertencentes ao movimento e os significados de expresses como literatura negra ou literatura afro-brasileira. A discusso retomava questes que ganharam fora com o movimento da Negritude, na dcada de 30, na Europa. Recuperando essas discusses sobre a chamada literatura negra, os integrantes dos Cadernos Negros tambm se interrogam sobre a produo, circulao e recepo de seus textos, num momento em que defendiam a legitimao de uma literatura negra produzida no Brasil.16 Literatura afro-brasileira
2
Cuti et al. Criao crioula, nu elefante branco. So Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1987.
Os autores dos Cadernos Negros buscaram dar visibilidade sua produo e ampliaram a reflexo sobre a condio de trabalho dos escritores negros, sobre a circulao de seus textos, a marginalidade dessa produo e a linguagem com que se expressam. Numa criao literria mais preocupada com a funo social do texto, interessa-lhes, sobretudo, a vida dos excludos por razes de natureza tnico-racial. A relao entre cor e excluso passa a ser recorrente na produo literria denominada pela crtica como negra ou afro-brasileira. Na antologia Poesia negra brasileira (1992),3 a expresso literatura negra convive com outras vises e conceitos. No prefcio, o terico e poeta Domcio Proena Filho alude aos elementos afro-brasileiros postos em evidncia na poesia de Lino Guedes (p. 8); na pgina 9, uma epgrafe extrada da obra do poeta angolano Ruy Duarte de Carvalho, mesmo afirmando o princpio do princpio da palavra, no deixa de indicar mudanas sugeridas por vocbulos como torrente, renovar-se, movimento. Como se percebe, mesmo se afirmando como uma coletnea de poesia negra, a antologia articula vozes que expem misturas, mesclagens, convivncias. Durante muito tempo, essa antologia foi uma das obras mais estudadas em cursos de literatura que assumiam a produo de escritores negros e afro-brasileiros. A antologia Poesia negra brasileira dividida em partes que procuram mapear, desde o sculo XIX, expresses significativas da literatura comprometida com a situao do negro no Brasil. Na parte relativa ao sculo XIX, a antologia registra alguns poemas do abolicionista Luiz Gama, que representa a poesia negra na fase pr-abolicionista. Cruz e Souza o grande nome da poesia negra na fase ps-abolicionista, juntamente com Lino Guedes, que publicou suas obras na poca do Modernismo, embora no tenha aderido ao movimento. No intitulado Perodo contemporneo, a organizadora recolhe poemas de diferentes tendncias da chamada literatura de resistncia (p. 45). Sob o nome Conscincia resistente, agrupam-se poemas de Solano Trindade; Conscincia dilacerada acolhe poemas de Eduardo Oliveira, Oswaldo de Camargo e DomcioLiteratura afro-brasileira 17
3
BERND, Zil (Org.). Poesia negra brasileira. Porto Alegre: AGE; IEEL; IGEL, 1992.
Proena Filho; Conscincia trgica resgata poemas de Cuti, Mirian Alves, Oliveira Silveira, Antnio Vieira, Paulo Colina e Abdias do Nascimento. Finalmente, a antologia apresenta poemas alusivos posio de grupos como o Quilombhoje, de So Paulo, Negrcia, do Rio de Janeiro e outros que desenvolviam, poca, na Bahia, uma poesia negra de resistncia. Tentando explicar que a literatura negra tem como um dos temas mais importantes a questo identitria, Zil Bernd seleciona poemas com essa temtica. Considera a obra Trovas burlescas, de Luiz Gama, um verdadeiro divisor de guas na literatura brasileira, porque funda uma linha de indagao sobre a identidade(p. 17). O poema que inicia a pequena seleo de textos do poeta baiano no outro seno Quem sou eu, em que o sujeito lrico analisa suas virtudes (Amo o pobre, deixo o rico) e ao mesmo tempo focaliza, com grande ironia, os males da sociedade baiana da poca:......................................... Os birbantes mais lapuzes Compram negros e comendas, Tm brazes, no das Calendas, E com tretas e com furtos Vo subindo a passos curtos (p. 19).
Includo no Perodo contemporneo, o Canto dos Palmares, de Solano Trindade, salienta os feitos dos quilombolas, que deixam de ser vistos como representantes da marginalidade forada-lei e passam a ser cantados como heris, a exemplo do que ocorre nas epopias clssicas. Como acentua a organizadora, esse um dos papis da poesia de resistncia, que elege os valores e mitos necessrios passagem do sentimento de identidade a uma verdadeira conscincia identitria mediante a qual se elaborar uma auto-representao tnica e cultural positiva (p. 45). Ressalta-se a inteno de se construir uma epopia um canto s glorias de um heri como a Ilada e a Odissia, de Homero, e Os Lusadas, de Cames:
18 Literatura afro-brasileira
Eu canto aos Palmares Sem inveja de Virglio de Homero E de Cames Porque o meu canto grito de uma raa Em plena luta pela liberdade! (p. 47)
O poema que d ttulo fase Conscincia dilacerada Dionsio esfacelado, do escritor e crtico Domcio Proena Filho. O poema representa a tentativa do autor de escrever a epopia do Quilombo dos Palmares e, assim, reforar a luta do povo negro pela constituio de sua identidade. Na parte intitulada Via sacra, o poeta compara o sofrimento dos escravos africanos com o de Jesus Cristo, vendido por trinta moedas:Apenas trinta dinheiros Em So Paulo de Loanda Apenas trinta dinheiros A alma o corpo Vendido Companhia holandesa De Maurcio de Nassau Homens-adubo Das terras plantadas beira-mar Tanto mar De sangue e mgoa O sangue e suor Da frica para adoar os dinheiros Dos holandeses De Maurcio de Nassau (p. 76/77).
Em Conscincia trgica, a organizadora assinala os recursos utilizados pelos poetas para expor as agruras do povo negro. Nesse ponto, h um aspecto que se deve observar quanto abordagem da organizadora. Se, em outros momentos de anlise, a sua viso bastante lcida para perceber as estratgias utilizadas pelos afro-descendentes no Brasil a fim de construir uma imagem satisfatria de si, nessa parte se nota uma dificuldade em lidar com a necessidade de se exporem as feridas nunca cicatrizadas que, imageticamente, reconstroem um corpo negro dilacerado pela escravido e pelos preconceitos.Literatura afro-brasileira 19
H trs poemas de Luiz Silva (Cuti), selecionados pela organizadora, que podem ser avaliados como peas de um grande mural em que se destaca o eu negro Esses poemas so muito importantes para se compreender que a exibio dos sofrimentos impostos ao corpo negro e s vezes explorados de forma excessiva pela poesia negra de resistncia tem a inteno de conscientizar o leitor ou leitora. A conscientizao acontece na medida em que se percebem os detalhes de um corpo aprisionado pelo trabalho forado, por instrumentos de tortura ou pela fome e doena. Nesses poemas, a exposio do corpo negro visa, pois, denncia e provocao. Essa preocupao com detalhes do corpo negro, do corpo do eu que se mostra no poema, est em muitos textos publicados pela antologia. A idia de ver-se como um corpo fragmentado aparece no poema Compor, decompor, recompor, de Mirian Alves:Olho-me espelhos Imagens que no me contm. Decomponho-me Apalpo-me. (p. 94)
A busca da identidade , portanto, a expresso mais forte dos poemas selecionados por Zil Bernd para compor a sua antologia. Como a busca se manifesta no espao da literatura, importante tambm destacar as estratgias literrias a privilegiadas. Essa questo enfatizada em outras partes deste livro que analisam textos de afro-descendentes de diferentes regies do Brasil. Esses escritores, unidos por uma mesma inteno, a de dar maior visibilidade s questes do segmento social a que pertence a maioria da populao brasileira, realizam diferentes trabalhos com a linguagem escrita. Como se v, ainda que a expresso literatura negra figure em grande parte dos estudos sobre a produo literria de escritores negros ou em antologias que coletam a produo de escritores negros, muitas questes ainda no foram resolvidas no tocante aos significados dessa expresso. Substitu-la por expresses como literatura afro-brasileira ou literatura afro-descen-
20 Literatura afro-brasileira
dente tambm no soluciona a polmica, embora possa apresentar novos argumentos. Neste sentido, interessante observar o ttulo e a proposta de uma outra coletnea, publicada em 2000, em Salvador/Bahia. A antologia foi organizada pelo escritor baiano Jnatas Conceio e Lindinalva Barbosa, militante do movimento negro da Bahia. Tratase de Quilombo de palavras: a poesia dos afro-descendentes, que demonstra, j pelo ttulo, a preocupao da maioria das coletneas em assinalarem a expresso poesia negra em seus ttulos. A antologia rene poemas de vrios escritores baianos, mas tambm abre espao para a produo potica de autores nascidos em outras regies do pas. Muitos dos escritores selecionados pela antologia so autores de poemas e contos publicados em vrios nmeros dos Cadernos Negros, em sua longa trajetria iniciada no ano de 1978. No prefcio de autoria da pesquisadora Florentina Souza destacado o fato de a produo literria dos escritores negros ou afro-descendentes brasileiros constituir ainda um circuito editorial alternativo (p. 9). O ttulo da antologia, Quilombo de palavras, quer homenagear essa produo literria que, como afirma a prefaciadora, de modo similar aos quilombos histricos, estrutura-se como smbolo da resistncia e preservao cultural (p. 9). A opo por um subttulo denominado A literatura dos afro-descendentes indica uma diferena com relao s antologias j referidas, que optam pela expresso poesia negra. Qual poderia ser a importncia dessa nova denominao? importante destacar que, na antologia, poemas que trazem a questo identitria ainda como o tema mais forte misturamse com outros em que a memria e as lembranas de fatos do passado percorrem os espaos da intimidade dos enunciadores para trazer escrita modos diversificados de apreenso do mundo. O poema Diariamente (p. 15), do poeta baiano Jos Carlos Limeira, expe imagens do cotidiano dos trabalhadores acossados pelo relgio de ponto e pela necessidade de apresentao de documentos sempre que a polcia os exige. Representa-se, assim, o dia-a-dia vivido pelo negro. Os versos finais do poema aludem ao enfrentamento das ordens sociais, seguramente mais severas para os brasileiros de cor negra:Literatura afro-brasileira 21
......................................... Me basta mesmo essa coragem quase suicida de erguer a cabea e ser um negro vinte e quatro horas por dia. (p.15)
No poema No nordeste existem Palmares, Jnatas Conceio explora a sonoridade das palavras palmeira e Palmares, para se referir aos novos palmares que crescem nos centros urbanos, trazendo novas verdades e recuperando, talvez, os sentidos que esto presentes na observao de um antigo viajante: Palmeiras so smbolos de paz e sossego. No poema, o trabalho com a sonoridade dos vocbulos tambm procura deslocar sentidos previstos, possibilitando ao leitor perceber que os novos palmares, transplantados para o nordeste, exibem cabeas tranadas que enfeitam as paisagens, qual palmeiras ao vento. O jogo de sentidos que fica explcito na aproximao dos termos palmeira e Palmares procura, poeticamente, povoar os bairros de casebres e barracos com as leves brisas que amenizam passadas febres. A memria cultuada em vrios poemas da antologia e constitui o tema mais forte dos poemas Il Iy/Casa da Memria (p. 33) e Il Aiy/ Casa do Segredo (p.35-38), de Jaime Sodr. Os poemas descrevem a criao do mundo segundo a mitologia iorub: o orix Olorum, o que tem a forma das nuvens, o que NUVEM/ VRIOS ROSTOS/VRIOS CORPOS/DIVERSAS FORMAS (p. 36) preenche de vida o nada, o vcuo. Do gesto inaugural do deus Olorum nascem mares, terras e outros deuses que saem todos de Yemanj, deusa me, rainha das guas, cujo corpo delineia os espaos / ATLNTICOS/NDICOS/MARES VERMELHOS/MARES DE SAL/MARES DE SEIXOS (p. 36). A dificuldade vivida no dia-a-dia est tambm no poema Todas as manhs, da escritora mineira Conceio Evaristo, que vem cultivando uma escrita mais comprometida com o universo da mulher. O poema constri-se com referncias ao cotidiano dos pobres, reunindo tambm alguns ndices que apontam para heranas africanas: Todas as manhs junto ao nascente dia/ouo a minha voz-banzo,/ncora dos navios de nossa memria. A lem22 Literatura afro-brasileira
brana do passado marcado pela escravido expressada atravs dos sentidos produzidos pelos termos banzo e navios, recurso criativo utilizado por uma produo potica que brota da experimentao das inmeras dificuldades vividas no dia-a-dia: Todas as manh tenho os punhos/ sangrando e dormentes/tal a minha lida/cavando/cavando torres de terra (p. 100). Tambm a escritora Esmeralda Ribeiro, de So Paulo, faz meno dureza do dia-a-dia a ser enfrentado por grande parte da populao de afro-descendentes no Brasil. A dureza pode estar tanto na luta diria por vencer a pobreza que ronda a maioria das pessoas quanto na dificuldade ainda vivida pelos afro-brasileiros. No poema Trocar de mscara, a poeta alude a essas dificuldades:Talvez temendo entrar na arena dos lees eu esconda a coragem nos retalhos coloridos da vida. A plida lua traz o sabor das provaes transformando o olho em ostra Cismo: a pele em roupa no tem mais razes, para ser trocada e assim me recolho e me cubro com a mortalha De anulaes. (p. 151).
Como se pode perceber, os temas presentes em muitos poemas das antologias referidas dizem respeito s dificuldades enfrentadas pelos negros, afro-brasileiros. Essas dificuldades so motivaes para a produo literria de escritores que assumem a funo social da literatura, ainda que no desconsiderem a importncia de essa funo estar sempre relacionada com o trabalho criativo da linguagem. Em alguns poemas, como se viu at aqui, a inteno mais forte a denncia e a proposta de resistncia excluso. Mas tambm j se mostrou que o tema da denncia e da resistncia pode ser trabalhado com um estilo textual criativo, principalmente atravs do aproveitamento de ritmos e de movimentos que so cultivados pelas camadas populares, nos guetos das favelas ou em espaos mais distantes dos grandes centros urbanos. Conforme se discutiu at agora, a denominao literatura negra, ao procurar se integrar s lutas pela conscientizao da populao negra, busca dar sentido a processos de formao daLiteratura afro-brasileira 23
identidade de grupos excludos do modelo social pensado por nossa sociedade. Nesse percurso, se fortalece a reverso das imagens negativas que o termo negro assumiu ao longo da histria. J a expresso literatura afro-brasileira procura assumir as ligaes entre o ato criativo que o termo literatura indica e a relao dessa criao com a frica, seja aquela que nos legou a imensido de escravos trazida para as Amricas, seja a frica venerada como bero da civilizao. Por outro lado, a expresso literatura afrodescendente parece se orientar num duplo movimento: insiste na constituio de uma viso vinculada s matrizes culturais africanas e, ao mesmo tempo, procura traduzir as mutaes inevitveis que essas heranas sofreram na dispora. Atividades 1 Entreviste professores, professoras de literatura, escritores, escritoras e procure apreender a viso deles sobre as expresses literatura negra, literatura afro-brasileira e literatura afro-descendente. 2 Procure na Internet os vrios sentidos dessas expresses. Faa um fichrio com as vrias definies e procure discuti-las com seus colegas e professores/as.
24 Literatura afro-brasileira
Literatura afro-brasileira 25
Outras expresses culturais afro-brasileirasTentando desconstruir o esquecimento imposto produo de artistas e escritores afro-descendentes, o artista plstico baiano Emanoel Arajo tem organizado vrias exposies sobre a influncia das culturas africanas sobre a arte brasileira. Desde A mo afro-brasileira,4 realizada em 1988, o artista tem se preocupado em retomar a arte e a literatura que reverenciam as tradies preservadas pelos descendentes dos antigos escravizados no Brasil. Na exposio Os herdeiros da noite, de 1995, ele ressaltou a importncia de levar ao pblico objetos e textos indicadores da corporeidade que as lembranas dos escravizados africanos ganharam no Brasil. Nas vrias exposies, o pblico pde ter acesso a criaes que mostram como os antigos escravos e seus descendentes conseguiram reelaborar as tradies africanas, construindo objetos de uso e de reverncia ao sagrado, apesar da violncia e brutalidade que sofriam nos extenuantes trabalhos nas minas, nos engenhos de cana e nas fazendas de caf (p. 1). Nas diferentes exposies realizadas por Emanoel Arajo, foram fornecidas informaes importantes sobre os quilombos e as insurreies freqentes no perodo do Brasil escravocrata. So informaes que os textos dos manuais didticos de Histria no enfatizam ou omitem. O pblico tambm teve acesso a objetos produzidos pelos escravos e que escapam funo meramente utilitria. Merecem destaque as miniaturas de santos catlicos, denominadas ns de pinho, feitas por escravos, nas regies de lavras e lavouras no interior do Estado de So Paulo, durante o sculo XIX. Essas peas tm como matria-prima os ndulos da raiz do pinheiro do Paran, material durssimo, manipulado com ferramentas rudimentares que exigiam persistncia e devoo dos escravos-artistas.
4
ARAJO, Emanoel (Org.). A mo afro-brasileira: significado ou contribuio artstica e histrica. So Paulo: 19Temenge, 1988. 97, p. 1.
26 Literatura afro-brasileira
Arte e religiosidadeO nome ns de pinho, que remete ao material de que so feitas as imagens, passou a significar um tipo de escultura religiosa que revela a presena do sagrado africano em regies brasileiras de lavras e de lavouras. Essas peas da arte sacra catlica feita por escravos talvez funcionassem como amuletos, significando a manuteno de rituais prprios de culturas africanas recompostos no Brasil, ainda que tivessem de se adaptar religio dominante. A devoo a Santo Antnio prevalece na feitura dessas pequenas imagens, em que se notam certos traos da arte africana, como as formas geomtricas e a reduo de algumas figuras, apresentadas de modo sugerido ou insinuado. Assim, o Menino Jesus, carregado por Santo Antnio, quase sempre apenas insinuado. Atividades: 1 Voc j tinha ouvido falar nas esculturas denominadas ns de pinho? Procure mais informaes sobre elas. Na exposio Arte e religiosidade no Brasil heranas africanas (1997), o curador enfatizou a notvel tenacidade dos escravos africanos na preservao de tradies sagradas. Os escravizados viviam distantes de seus costumes, desligados de seus pares para dificultar a convivncia que poderia induzir a fugas e a vinganas e, ainda, ocupavam-se com ofcios que s tinham interesse para o seu proprietrio. Porm, mesmo diante dessas dificuldades, eles conseguiram preservar tradies como o Congado, a Festa do Rosrio, o culto aos orixs, vistos como foras da natureza, e aos antepassados. surpreendente encontrar, em muitos objetos por eles produzidos, as particularidades das suas culturas de origem e tambm detalhes dos modos como foram assimilados os novos costumes impostos. As adaptaes se foram operando nas formas como a memria retomava dados das culturas africanas e os projetava nos objetos cristos.
Literatura afro-brasileira 27
Isso talvez se explique pela busca de um contato mais prximo com o sagrado ou de um lenitivo para o trabalho rduo. Da adeso obrigatria dos escravos ao cristianismo nascem os santos cultuados em irmandades, como a Nossa Senhora dos Homens Pretos, e a venerao aos santos negros, como Santo Antnio de Cartager, Santa Efignia e So Benedito.
Atividade: Pesquise, na sua cidade ou regio, sobre o trabalho de artesos e artistas negros que fizeram, em seus trabalhos, a juno entre arte e religio.
Ainda na Mostra do Redescobrimento, comemorativa dos 500 anos do Brasil, particularmente no mdulo Negro de Corpo e Alma, ficou atestada a importncia das pesquisas coordenadas pelo artista Emanoel Arajo sobre a arte produzida por africanos e seus descendentes em diferentes momentos da cultura brasileira. Muitas das transformaes formalizadas por artistas que se interessam em pesquisar as tradies deixadas pelos africanos escravizados reaparecem nos anjos e santos esculpidos por Aleijadinho, na fase barroca em Minas Gerais, nas imagens e anjos criados pelo escultor Maurino Santos, em fase mais recente, e nos objetos produzidos com nervura de palmeira, couro, contas e bzios por Mestre Didi. atravs desses objetos sagrados e de seus arranjos que se expem as tradies preservadas na memria e a herana de devoes cultivadas pelos africanos no Brasil. So formas de dar sentido ao sofrimento vivido em terras que os reconheceram somente como pea de uma prtica de trabalho definida pelo interesse de seus proprietrios. Para concluir essa discusso, retomemos duas vises de literatura negra ou afro-brasileira. A primeira dada por Zil Bernd, que recorre ao conceito de reterritorializao, proposto por Gilles Deleuze e Flix Guattari, no livro Kafka: por uma literatura menor (1975). Para a autora da antologia Poesia negra brasileira (1992), a literatura negra seria a tentativa de preencher vazios criados pela perda28 Literatura afro-brasileira
gradativa da identidade determinada pelo longo perodo em que a cultura negra foi considerada fora-da-lei, durante o qual a tentativa de assimilar a cultura dominante foi o ideal da grande maioria dos negros brasileiros (p. 22-23). A autora procura tambm identificar a poesia negra pela forma como o enunciador se manifesta. Ela afirma que o eu lrico, em busca de uma identidade negra, instaura um novo discurso uma semntica de protesto ao inverter um esquema onde ele era o Outro (p. 50). Com esses critrios, Bernd parece defender uma literatura que se assuma como negra, sem necessariamente ser escrita por negros. Basta que o enunciador manifeste uma identidade negra ou afro-brasileira. Por outro lado, talvez em defesa da expresso literatura afrobrasileira, o escritor Edimilson Pereira da Silva fala da necessidade de se educar o olhar para dar conta da multiplicidade de questes sua volta. E, tentando identificar uma das funes da sua poesia, afirma que esta quer ser uma caixa de ressonncia para o silncio dos negros e no-negros que partilham a condio de excludos e agredidos.5 Funcionar como uma caixa de ressonncia significa tambm deixar serem ouvidas as vozes daqueles que no podem escrever, mas sabem produzir outras formas de expresso. Por exemplo: os escravos que cavaram na madeira dura os ns de pinho ou os produtores dos cantopoemas que, segundo Edimilson Pereira, cultivam um poema sagrado do Congado que se realiza a partir da palavra cantada e da ao dramtica do devoto. Fica, assim, afirmada a importncia das expresses literatura negra ou literatura afro-brasileira nas discusses que pretendem trazer tona a produo de pessoas que, embora segregadas por preconceitos relativos cor da pele ou pobreza em que vivem, comeam a exigir, com atitudes mais concretas, maior visibilidade na sociedade brasileira. Atividade: Identifique artistas afro-descendentes de sua regio cujos trabalhos abordem questes relativas identidade ou cultura afro-brasileira. Organize um painel sobre a histria e a produo cultural destes artistas.
5
6
MARQUES, Fabrcio. Dez conversas: dilogos com poetas contemporneos. So Paulo: Gutemberg, 2004. Idem
Literatura afro-brasileira 29
E, para discutir um pouco mais alguns dados importantes da formao de expresses como literatura negra, poesia negra, cultura afro-brasileira, voltemos a outras informaes importantes que explicam os diferentes momentos em que essas expresses foram empregadas para nomear movimentos de resistncia e contestao.
30 Literatura afro-brasileira
No Atlntico Norte...Desde a primeira dcada do sculo XX fala-se do movimento de intelectuais negros empenhados na valorizao dos descendentes de africanos que, nascidos em territrio do chamado Novo Mundo, pagavam um preo alto pelo fato de trazerem no corpo a marca indelvel de sua origem: a cor da pele, outros traos fenotpicos, assim como suas tradies culturais. Este movimento chamado de Renascimento Negro norte-americano, que teve vrias faces, como o Harlem Renaissance (O Renascimento do Harlem) ou o New Negro (Novo Negro). Em suas vrias ramificaes, este movimento responsvel por uma reflexo terica importante e uma produo literria que trabalha temas relacionados situao vivida pelo negro na sociedade segregacionista americana. So temas atravs dos quais se conscientizavam as massas de negros sobre seus direitos como cidados. Vrios escritores norte-americanos, como Claude Macky, Countee Cullen e Langston Hughes, procuraram responder questo What is Africa to me? e, em seus poemas, reforaram um imaginrio sobre a frica. Tal imaginrio, embora construdo distncia do continente africano, fazia dele o bero de todos os negros e transformava a cor negra num signo de desconstruo dos esteretipos negativos utilizados para excluir os afro-descendentes. A literatura negra assume, por isso, uma inteno de denncia e seus criadores se consideram porta-vozes dos negros da dispora. Algumas tendncias acentuaro, desde os movimentos reivindicatrios da primeira dcada do sculo XX, nos Estados Unidos e em algumas partes da Amrica em geral, os sentidos da expresso literatura negra. Em todas as tendncias crticas, percebese a celebrao de valores e concepes prprios s culturas africanas e a valorizao de elementos de culturas populares, marcadas em vrios espaos das Amricas pela presena dos afro-descendentes. Nas primeiras dcadas do sculo XX, os poemas do norte-americano Langston Hughes e os do cubano Nicolas Guillen so, certamente, a representao mais significativa dessas tendncias. Nesses poemas, a frica ser reinterpretada longe dos paradigmas usuais,Literatura afro-brasileira 31Jazz e blues so ritmos musicais produzidos pelos negros norte-americanos. A importncia de tais ritmos expande o campo da msica popular de matriz africana, produzida na dispora, para assumir uma significao poltica que est ligada aos movimentos de resistncia opresso, desenvolvidos nos Estados Unidos e em vrias regies do continente africano, na fase pr-independncia.
What is Africa to me?Verso do poema Heritage, de Couteen Cullen (1991, p. 104-105). Traduo livre: O que a frica para mim?
O termo dispora foi utilizado durante muito tempo apenas para se referir disperso do povo judeu para vrios lugares, em diferentes sculos. O termo empregado tambm para caracterizar a disperso do povo africano trazido, como escravo, para colonizar o Novo Mundo. Mais atualmente, o termo assume os diferentes sentidos produzidos pela disperso de povos, motivada por preconceitos tnicos, religiosos, polticos e econmicos.
passando a ser percebida nas expresses culturais que se formaram com a presena dos africanos no Novo Mundo. Nas criaes literrias do poeta cubano Nicolas Guillen e de Langston Hughes esto presentes o culto ao jazz, ao blues, aos cantos religiosos (spirituals), e tambm a valorizao da musicalidade da fala do povo, apreendida em conversas, canes, festas populares e preges de rua. Essas so algumas das estratgias de desconstruo dos modelos literrios tradicionais que a literatura negra vai incorporando junto ao protesto e reivindicao. Por se sentirem expurgados de uma sociedade que, embora construda com o trabalho escravo, no os absorveu como cidados, os poetas do Renascimento Negro norte-americano apresentam ao mundo um novo canto, modulado com fortes referncias de uma frica ancestral e com os ritmos difundidos pelos descendentes de africanos nos Estados Unidos, no Caribe e mesmo na Europa. A literatura negra absorve os elementos contestatrios em ebulio nos Estados Unidos e os leva a outros espaos: Caribe, Frana, Portugal e at mesmo Brasil onde, de certa forma, so por vezes ignorados pelos crticos e historiadores do modernismo. Em todos os lugares onde ecoam as vozes negras americanas principalmente aps a adeso de vrios artistas negros, que expandiram os ritmos frenticos do jazz, a dolncia dos blues, os poemas de Langston Hughes e os de outros poetas negros americanos fortaleceu-se uma tendncia artstica que valorizava as matrizes culturais africanas semeadas na cultura crioula e em cultos e rituais praticados pelo povo. Como conseqncia desses impulsos vindos do Renascimento Negro norte-americano e do Negrismo cubano, reforam-se vises menos preconceituosas da frica. Finalmente, mostram-se ao Ocidente as culturas a existentes antes da chegada do colonizador europeu. Ao ser redescoberta, a frica passa a ser vista como um mosaico de vrias culturas e no mais como um espao homogneo. Desse modo, intensificam-se os estudos sobre as diferentes tradies do continente africano. Os movimentos dos negros norte-americanos repercutem na Europa, principalmente na Frana, e aderem a outras expres-
32 Literatura afro-brasileira
ses artstico-literrias, como o Indigenismo do Haiti e o Negrismo de Cuba, levadas pelos estudantes negros do Caribe. Essas tendncias artsticas esto na base de Negritude, movimento surgido na dcada de 1930, em Paris, que tem como principais fundadores os escritores Lopold Sdar Senghor, do Senegal, Aim Csaire, da Martinica, e Leon Damas, das Guianas Francesas. Pode-se dizer que, no incio, Negritude foi um movimento de intelectuais nascidos na frica ou em espaos colonizados pelos franceses e teve como principal meta lutar pelo fortalecimento da conscincia e do orgulho de ser negro. O Negritude ter influncia capital na formao dos nacionalismos que empreendero as independncias de diversas regies africanas a partir dos anos 1960. Apesar da importncia do movimento Negritude, muitas crticas podem ser feitas s idias defendidas por seus seguidores. Talvez a crtica mais importante seja a de que, por ser fundado na Europa, distante da frica, o movimento acabou reforando imagens ainda contaminadas por um olhar depreciativo sobre o continente africano e sobre o negro. As imagens de uma frica mtica ou a viso do continente africano como um lugar paradisaco recuperavam, de certa forma, algumas tendncias do exotismo que o prprio movimento lutava por desconstruir. Por outro lado, a defesa de uma essncia africana incentivava o orgulho de uma raa e fortalecia essencialismos, o que, de certa maneira, acabava por acirrar o conflito entre negros e brancos. Todavia, apesar das diversas contradies com que teve de lidar, na Europa e fora dela, o movimento Negritude expressou, principalmente na literatura e nas artes em geral, a revolta dos descendentes de africanos contra os sistemas escravocrata e colonialista e deu novos rumos luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas negras. Alm disso, o movimento foi responsvel pela publicao de peridicos importantes, que divulgaram idias e textos produzidos por intelectuais e escritores negros. Alguns dos ttulos mais conhecidos so a Revue du Monde Noir (Revista do Mundo Negro), surgida em Paris em novembro de 1931, a revista Lgitime dfense (Legtima Defesa), de 1932, e o jornal Ltudiant Noir (O Estudante Negro). O primeiro nmero deste jornal saiu em 1935, com artigos de Aim Csaire, LopoldLiteratura afro-brasileira 33
A expresso malgaxe utilizada para designar os naturais ou habitantes da Ilha de Madagascar, localizada no Oceano ndico, prxima a Moambique.
Senghor e do escritor cubano Alejo Carpentier, alm de textos de vrios poetas ligados ao movimento surrealista, os quais aderiram causa dos estudantes negros e, principalmente, condenao da Guerra da Etipia, na frica. Em agosto de 1937, Aim Csaire publica o Cahier dun retour au pays natal (Caderno de um retorno ao pas natal), obra hoje considerada como o marco do Negritude. Ainda em decorrncia dos movimentos impulsionados por Negritude, Lopold Senghor publica, em 1948, a famosa Anthologie de la nouvelle posie ngre et malgache (Antologia da nova poesia negra e malgaxe), que servir de modelo para vrias coletneas de poesia negra.
34 Literatura afro-brasileira
A produo literria afro-brasileiraAs estatsticas atestam que somos o segundo pas do mundo com maior nmero de negros. Porm, na maneira de lidar com a nossa representao enquanto povo, nos enxergamos como um pas moreno,mestio. Essa atitude tem um significado relevante para compreender as crticas expresso literatura negra, formuladas tambm por escritores que, embora negros, consideram que a produo artstica no precisa estar atrelada ao pertencimento tnico-racial do seu autor. Alm disso, em decorrncia do processo de branqueamento estimulado por parcelas da sociedade, questes importantes deixam de ser observadas, como a efetiva integrao social dos descendentes dos antigos escravos. No se pode deixar de reconhecer que h bem pouco tempo, tanto na literatura quanto na mdia, as imagens de negro e de negrura eram sempre modeladas atravs de vrios preconceitos e esteretipos negativos. Muitos desses preconceitos e esteretipos contra negros e mestios ainda circulam em nossa sociedade, sendo mascarados ou camuflados. E, de alguma forma, eles incorporam-se violncia explcita contra a populao de afro-descendentes, pelo uso de termos pejorativos, de brincadeiras usadas aparentemente sem maldade ou da rejeio explcita a traos do corpo negro. Essas vrias formas de violncia demonstram o quanto difcil para a cultura brasileira lidar de maneira menos problemtica com a cor de sua populao mais pobre, muito diferente da camada social mais rica, que predominantemente no negra. Muitos dos traos que continuam a legitimar preconceitos em relao cor da pele, feies do rosto, tipo do cabelo e uma gama infindvel de caractersticas utilizadas para desqualificar ou desmerecer pessoas, tm sua origem na sociedade escravocrata, constituda de senhores (brancos) e escravos (negros). Mas h uma questo que preciso registrar: so esses mesmos traos do corpo negro que, aos poucos, foram sendo assumidos como significantes de um outro padro esttico e de uma poltica de elevao da autoestima dos afro-descendentes. Ao alinhar-se a uma poltica de resistncia, a literatura produzida por negros ou por aqueles que assumem as questes prprias dos segmentos marginalizados retoLiteratura afro-brasileira 35
Em um dos captulos deste livro voc ter a oportunidade de saber mais sobre o poeta Luiz Gama.
Em So Paulo destacam-se os jornais Menelick, Alfinete, Clarim da Alvorada e A Voz da Raa. No Rio de Janeiro, destaca-se O Quilombo.
tnicos primitivos. A expresso de Cassiano Nunes (1969).
ma as negras imagens, procurando investi-las de outros significados. No sculo XX, a literatura d contornos bem delineados s questes especficas do negro brasileiro. Porm, essas questes j so tratadas, ainda que sem tanta fora e destaque, em alguns textos literrios produzidos anteriormente. Desde a fase pr-abolicionista aparecem intelectuais, poetas e ficcionistas que trazem para os seus textos o negro e a sua situao na sociedade brasileira. O poeta Luiz Gama, por exemplo, ainda no sculo XIX, tem uma viso lcida sobre a situao do negro no Brasil. Diferentemente de Castro Alves que passou a ser considerado pela histria da literatura brasileira como o poeta dos escravos, em virtude de poemas como O Navio Negreiro e Vozes dfrica Luiz Gama no dirige ao negro um olhar condodo. Tendo sido, ele mesmo, um escravizado, esse poeta transgride, por vezes, o ideal de beleza defendido em sua poca, ao cantar em seus versos a mulher de pele escura e de madeixas crespas, negras. Por outro lado, Luiz Gama assume uma posio irnica contra a sociedade e mesmo contra os que, como ele, alcanaram um lugar indefinido entre ser ou no ser escravo num pas que determinava o lugar do indivduo pelo seu pertencimento tnico. Nas dcadas de 20, 30 e 40, trabalhadores e intelectuais afrodescendentes, majoritariamente residentes em So Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, organizam-se em grupos e editam jornais e revistas. Publicando textos sobre variados temas, mais diretamente ligados s populaes negras, eles constituem o que se denomina de imprensa negra. A produo dos escritores paulistas foi, em alguns momentos, acompanhada distncia e referida por escritores modernistas, a exemplo de Mrio de Andrade e Jorge Amado. No entanto, a fora dos movimentos que surgiram no Caribe, nos Estados Unidos e na Frana ser retomada de forma mais intensa somente a partir de 1970. O Modernismo, no incio do sculo XX, ao lutar pela valorizao dos elementos tnicos primitivos, dera certa importncia aos motivos inspirados na cultura africana, embora tenha acolhido com mais vigor a figura do ndio. Nessa poca, surgem algumas produes, como Leite crioulo, que teve o seu primeiro nmero publicado no dia 13 de maio de 1929, no jornal Minas36 Literatura afro-brasileira
Gerais. Ao pesquisar a presena do Modernismo em Belo Horizonte, Antnio Srgio Bueno faz um estudo srio sobre as publicaes do Suplemento Literrio. Este estudioso mineiro considera que Leite Crioulo quebrou o silncio em torno do negro dentro do Modernismo e antecipou vrios dados para a reflexo que a inteligncia nacional empreenderia, a partir de 1930, sobre a presena negra na vida e na cultura brasileira. A realizao, em Recife, em 1934, e na Bahia, em 1937, do I e do II Congresso Afro-brasileiro, promovidos por Gilberto Freyre e dison Carneiro, tambm importante para a afirmao da literatura negra no Brasil. Segundo Benedita Damasceno (1988), nesses congressos, infelizmente, o negro foi ainda apresentado como a matria-prima de pesquisas, sem uma discusso mais profunda sobre a real situao vivida por ele na sociedade. Mas, os congressos so, sem dvida, um momento importante na discusso de questes relacionadas com o negro brasileiro. J em 1931, intelectuais negros formam em So Paulo a Frente Negra Brasileira que, apesar das evidentes contradies em suas atividades, ofereceu populao negra marginalizada da cidade de So Paulo dos anos 30 possibilidades de organizao, educao e ajuda no combate discriminao racial (BARBOSA,1998, p. 12). Em 1933, a Frente Negra cria o jornal a Voz da Raa; em 1936 registrada como partido poltico e extinta, pelo Estado Novo, em 1937. Neste livro, alm de um levantamento da produo literria de escritoras e escritores brasileiros pertencentes a diferentes pocas, tambm so apresentadas criaes que celebram as tradies africanas presentes na cultura brasileira. Nessas criaes, nem sempre a denncia da excluso direta, e, em algumas delas, a questo nem mesmo aparece. Essa celebrao da presena africana em rituais preservados pela cultura brasileira est tambm na obra de alguns autores afro-descendentes. Esses ltimos defendem que tanto os mecanismos de preconceito e excluso quanto resistncia a esses mesmos mecanismos no precisam ser tratados de forma explcita na produo artstica. Literatura, dizem muitos escritores, um trabalho de linguagem e no pode ser pensada como puro reflexo do mundo em que vivemos.Literatura afro-brasileira 37
7
8
9
BUENO, Antnio Srgio. Modernismo em Belo Horizonte: a dcada de 20. Belo Horizonte: s/e 1979, p. 150. DAMASCENO, Benedita Gouveia. Poesia negra no Modernismo brasileiro. Campinas: Pontes, 1988. BARBOSA, Mrcio (Org.). Frente negra brasileira depoimentos. So Paulo: Secretaria da Cultura, 1998.
Nesse sentido, a expresso literatura afro-brasileira parece seguir uma tendncia que se fortalece com o advento dos estudos culturais. O uso de expresses como afro-brasileiro e afrodescendente procura diluir o essencialismo contido na expresso literatura negra e transpor a dificuldade de se caracterizar essa literatura sem assumir as complexas discusses suscitadas pelo movimento da Negritude em outro momento histrico. Todavia, no mundo de hoje cada vez mais misturado ganham relevncia as questes relativas a identidades tnicas, raciais e culturais. Por isso, embora sejam privilegiadas vises sobre o Brasil mulato, moreno, no branco, as discusses revelam a dificuldade de a cultura brasileira lidar com a sua prpria imagem. Por isso, a questo posta pela literatura espera ainda uma resposta a ser dada pela definio do que somos, na maioria negros, afro-brasileiros ou afro-descendentes? Deve-se considerar que, na poca atual, as expresses afrobrasileiro e afro-descendente circulam com maior desenvoltura, afirmando-se, sobretudo, quando so discutidas questes relacionadas com determinados segmentos da cultura brasileira. O uso dessas expresses no esgota as complexas questes que circulam em torno de seus significados, mas pode revelar, certamente, um modo de se considerar a pluralidade como um trao importante da cultura brasileira.
38 Literatura afro-brasileira
SCULOS DE ARTE E LITERATURA NEGRASlvio Oliveira
Literatura afro-brasileira 39
40 Literatura afro-brasileira
Muitos brasileiros j ouviram algum elogio sobre o nosso povoe a nossa terra. Seja na rua, na escola, em depoimentos de turistas, em propagandas de televiso, em msicas, em revistas ou outros meios, j ouvimos ou lemos alguma frase parecida com as que seguem:O brasileiro to simptico, recebe bem os turistas. O povo brasileiro muito alegre e criativo. O Brasil o melhor lugar do mundo, o mais bonito.
Esse suposto pacifismo do povo brasileiro e o orgulho pela paisagem natural do pas podem ser encontrados em msicas, romances e poemas de nossos artistas. Por exemplo, no conhecido poema de Gonalves Dias:Cano do exlio1 Gonalves Dias (...) Nosso cu tem mais estrelas, Nossas vrzeas tm mais flores, Nossos bosques tm mais vida, Nossa vida mais amores. (...)
1
Ou na antolgica letra de Ary Barroso:Literatura afro-brasileira 41
Publicado no livro Primeiros Cantos (1846). Poema integrante da srie Poesias Americanas. In: Grandes poetas romnticos do Brasil. Pref. e notas biogrficas. Antnio Soares Amora. Introduo. Frederico Jos da Silva Ramos. So Paulo: LEP, 1959. V.1
Isto aqui, o que ? Ary Barroso Isto aqui, um pouquinho de Brasil, i i, desse Brasil que canta e feliz, feliz, feliz tambm um pouco de uma raa que no tem medo de fumaa, ai ah e no se entrega no. Isto aqui, um pouquinho de Brasil, i i Desse Brasil que canta e feliz feliz, feliz (...)
Ou, ainda, em vrios outros textos oficiais ou de tom cvico:Onde o cu mais azul Letra e msica: Joo de Barro (Braguinha), Alberto Ribeiro e Alcyr Pires Vermelho Eu j encontrei um dia algum Que me perguntou assim, Iai: O seu Brasil, o que que tem? O seu Brasil, onde que est? Trabalha... Onde o cu azul mais azul E uma cruz de estrelas mostra o sul, A se encontra o meu pas, O meu Brasil grande e to feliz. (...) Minha Terra Letra e msica: Valdemar Henrique (...) Este sol e este luar, Estes rios e cachoeiras, Estas flores, este mar, Este mundo de palmeiras, Tudo isto teu, meu Brasil, Deus foi quem te deu; Ele por certo brasileiro, Brasileiro como eu.
42 Literatura afro-brasileira
Eu te Amo, meu Brasil! Letra e msica: Don e Ravel As praias do Brasil ensolaradas, O cho onde o pas se elevou, A mo de Deus abenoou, Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. (...)
Esse orgulho exagerado, presente em textos literrios e letras de msicas, foi denominado de ufanismo. Um exemplo bem significativo de texto ufanista encontra-se no livro Por que me ufano de meu pas, publicado por Afonso Celso em 1901, que listava uma srie de justificativas para o orgulho nacional, principalmente calcadas na beleza natural do pas. No caso do Brasil, o sentimento ufanista foi supostamente utilizado, inicialmente, para combater sentimentos de inferioridade decorrentes do processo de colonizao e do fato de sermos considerados mestios. A literatura romntica do sculo XIX ilustra bem a fascinao pela paisagem brasileira e, nesse sentido, muitos textos so ufanistas. Na primeira parte do conhecido romance Iracema, de Jos de Alencar, possvel ler:Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaba; Verdes mares, que brilhais como lquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros;2
Em outro romance, O Guarany, Jos de Alencar apresentou um modelo de brasileiro: o personagem Peri, um ndio. Para ele, um personagem ndio representaria melhor o povo brasileiro, pois era um tipo da terra, a sua origem no era estrangeira: o modelo de brasileiro deveria ser nativo, da terra. Jos de Alencar construiu um heri caracterizando-o como cavalheiro portugus no corpo de um selvagem, excluindo do perfil do heri nacional a participao do grande contingente de africanos e afro-brasileiros que construram a riqueza econmica e cultural do pas. O ndio de Jos de Alencar um heri meramente criado para corresponder s expectativas do discurso nacional que, naLiteratura afro-brasileira 432 ALENCAR, Jos de. Iracema. Rio de Janeiro: Mec/INL, 1965.
ndio: a palavra ndio foi usada pelos colonizadores para designar os nativos das Amricas. O maior problema que o uso do termo demonstrou a indiferena do colonizador, em relao diversidade. No Brasil, e em outros lugares das Amricas, viviam inmeros povos, que falavam lnguas tambm inmeras, cada qual com sua histria e seus prprios nomes. Como no caso dos povos africanos, o colonizador desrespeitou as suas especificidades. Desde aquele tempo, as comunidades indgenas, assim como as comunidades afro-brasileiras, resistem aos que invadem suas terras e culturas e continuam hoje a reivindicar seus direitos.
quele momento, comeava a prevalecer no Brasil. Diferente do ndio contemporneo, que busca afirmar seu prprio discurso e fala ao Brasil de seu prprio ponto de vista.Uma carta para voc: Ol, eu sou ndio da Etnia Bahen, que quase foi extinta, mas graas a minha me Maura Titi e minha tia Maria de Titi, hoje existe um gerao Bahen. A minha etnia junto com outros formamos o Posto Patax H h he.(...) O povo Patax considerado uma comunidade guerreira, por ser uma prova viva de resistncia e luta. Fbio Titi, 20043 .............................................................. Se mulatos de cor esbranquiada, J se julgam de origem refinada, E, curvos mania que os domina, Desprezam a vov que preta-mina: No te espantes, Leitor, da novidade, Pois que tudo no Brasil raridade! ............................................................. Luiz Gama, 18595
O negro no representou o homem brasileiro em textos literrios do sculo XIX e no foi considerado um habitante origi-
Quando multides de negro-africanos comearam a chegar a Portugal, eles foram denominados de homens pretos e mulheres pretas e, a seguir, simplesmente de pretos e pretas, devido cor negra mais intensa, em relao aos mouros. Como todos os pretos e pretas que chegavam a Portugal eram cativos, o designativo passou a descrever o afro-descendente escravizado. (...) Com a decrescente importncia da escravido moura, negro tornou-se crescentemente sinnimo de trabalhador escravizado. Assim sendo, nos primeiros anos aps a ocupao territorial da Amrica lusitana, os nativos americanos escravizados, apesar de sua cor, eram denominados de negros da terra.4
3 4
http://www.indiosonline.org.br/) CARBONI, Florence & MAESTRI, Mario. A linguagem escravizada. In: Revista Espao Acadmico, ano II, no. 22, maro de 2003)
44 Literatura afro-brasileira
nal do Brasil. Mesmo depois da Abolio da Escravatura, foi desrespeitado e tratado como um estranho no pas. De que modo? No imaginrio, era praticamente um estrangeiro, no caso, um africano. Por isso, muitos defenderam o retorno dos ex-escravos frica. J os imigrantes, vindos da Europa, tambm, logo aps a Abolio, receberam tratamento diferenciado, ajuda do governo brasileiro para se instalar e trabalhar. Ento, os homens vindos da Europa foram integrados sociedade brasileira e foram acolhidos como brasileiros. O negro no: foi esquecido nas ruas, nos morros, excludo das escolas. Homens e mulheres negros sempre reivindicaram e ainda reivindicam justia e direitos iguais para todos. Atravs dos quilombos, das msicas, da religiosidade, das esculturas, das pinturas, da literatura oral e escrita e de muitas outras expresses, os negros e negras reivindicam o direito de viver dignamente no Brasil.
O trabalho negro no BrasilA mais importante concentrao de escravos no sculo XIX encontrava-se na rea de cultivo do caf, mas alguns outros tipos de servios provam a insero de homens e mulheres negros em todos os espaos: aguadeiro, alfaiate, calafate, campeiro, cangueiro, carteiro, carniceiro, carpinteiro, carreteiro, chapeleiro, charqueador, confeiteiro, copeiro, costureiro, cozinheiro, despenseiro, engomador, ferreiro, jornaleiro, lavadeira, leiteiro, marceneiro, martimo, padeiro, pedreiro, pescador, pintor, quitandeiro, roceiro, sapateiro, tamanqueiro, tintureiro, torneiro, capataz, capito do mato, servios relacionados a livreiros, a possuidores de bibliotecas ou a senhores de engenho incentivadores de certa espcie de artistas.6 Neste ltimo caso incluem-se inmeros cantadores populares itinerantes patrocinados por fazendeiros. Muitos escritores e poetas eram afro-descendentes, mas a maioria procurava esconder a sua origem ou no chamar a ateno para ela.
5 GAMA, Luiz. Primeiras Trovas Burlescas & outros poemas (Edio organizada por Lgia F. Ferreira). So Paulo: Martins Fontes, 2000. (Coleo Poetas do Brasil). 6 BERND, Zil; BAKOS, Margaret M. relacionam muitos afazeres dos escravos em um de seus trabalhos: BERND, Zil; BAKOS, Margaret M. O negro: conscincia e trabalho. Porto Alegre: UFRGS, 1991.
Literatura afro-brasileira 45
Tradies negrasA cultura popular fornece muitas indicaes da forte presena do negro no Brasil. Na Bahia, alguns versos de uma cano popular sobre o Vapor de Cachoeira so muito conhecidos:O vapor de Cachoeira No navega mais no mar Bota o remo, toca o bzio Ns queremos navegar
Cachoeira foi uma das cidades baianas mais ricas do sculo XIX, famosa por seus charutos e pelo fumo. Nessa cidade, havia uma grande circulao de artistas oficiais e no oficiais. Louco Filho, um escultor famoso no recncavo baiano, descendeu dos negros daquela poca assim como muitos outros artistas da cidade. Cachoeira decisivo exemplo da forte presena cultural do negro desde a sua chegada em terras brasileiras. O farto material histrico dessa cidade do recncavo baiano permite vrias leituras sobre o jogo entre o institucional e o no-institucional. Reala-se a presena da Irmandade da Boa Morte, formada por negras descendentes de escravos alforriados. Cachoeira uma cidade talhada por escultores negros, numa tradio que vem de sculos. Um dos elementos indicativos do progresso de Cachoeira foi a novidade do barco a vapor, um barco que se movia, no incio do sculo XIX, sem remos e sem ventos. O cancioneiro popular conta e canta muitas histrias. Boa parte dessas histrias foram criadas ou recriadas por homens e mulheres negras, muitos deles ainda escravos. Ladeando o Paraguau, na cidade de So Flix, tambm desenrolavam-se outras verses da histria, ou melhor, outras histrias, escritas na mata, em atabaques, bolinhos e sob o altar. As da mata, como as dos ndios, provavelmente, jaguars, foram riscadas. As histrias dos atabaques, oficialmente apagadas, deixaram marcas fortssimas sobre o papel institucional. Em Cachoeira, circulam verses populares a respeito da criao da irmandade. Em uma dessas verses, recolhida em agosto de 1994 pelo Ncleo de Estudos da Oralidade da Universidade do Estado da Bahia, obser46 Literatura afro-brasileira
va-se o movimento de incluso de significados diversos pelo imaginrio popular. Isso ocorreu no s na Bahia, mas em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro e outros locais. claro que as religies de matriz africana ajudaram a difundir a cultura afro-brasileira. Em Minas, existem muitas histrias que reapresentam as tenses entre negros e brancos pela tica do negro. Em algumas, reala-se a vivacidade do negro contra a discriminao. Por exemplo, na resposta-cantiga apresentada por Josefa Alves dos Reis em 1976 (constante na pgina 115 do livro O Rosrio dos Homens Pretos, organizado por Francisco van der Poel):7O cabelo dessa nega roseta de espora Quanto mais que passa o pente Mais o danado encascora. Resposta: Meu cabelo ruim No da conta de ningum Cabelo bom no cabedal Pois cachorro tambm tem!
Em Pernambuco, manifestaes de origem negra, como o Maracatu, so muito importantes. Esta manifestao, possivelmente, nasceu da tradio dos Reis de Congo. Marca-se pela forte presena de instrumentos de percusso, que lembram a musicalidade do candombl. Quando visita o candombl, o Maracatu homenageia os orixs. Tradicional, mas revisitado, por compositores e poetas, o Maracatu alimentou e alimenta produes de grupos musicais contemporneos, como Nao Zumbi, ainda em Pernambuco, ou mesmo Tocaia, na Paraba, todos marcados pela influncia da cultura negra:O Cidado do Mundo (Chico Science - Nao Zumbi)8 (...) Dona Ginga, Zumbi, Veludinho Segura o baque do mestre Salu Eu vi, eu vi A minha boneca vodu Subir e descer no espao
7
8
Cf.: POEL, Francisco van der. O Rosrio dos Pretos. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1981. Afrociberdelia. Produo: Eduardo BID, Chico Science &/ Sonopress, 2000.
Literatura afro-brasileira 47
Na hora da coroao Me desculpe Mas esta aqui a minha nao (...) Novo Rei (Erivan Arajo - Tocaia)9 Maracatu que pro nego danar Eu vou de capoeira De gingado nag O meu rei Zumbi Ganga Zumba o mentor (...) Maracatu pra o novo Rei danar Meus ancestrais so os Bantos de Angola Que me deixaram esse som que a glria Maracatu pra o novo Rei danar
No Rio de Janeiro, expresses culturais como a chula, calango, jongo e at o conhecido partido-alto, modalidade ainda muito utilizada pelos compositores de samba da atualidade, resultam da riqueza cultural afro-brasileira. Como assinala o prprio Lima Barreto, em suas crnicas e no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, circulavam no Rio de Janeiro inmeros cantores e poetas populares, os quais inspiraram o personagem Ricardo Corao dos Outros. Essa profuso de talentos afros embeleza no s o carnaval carioca como revigorou a comemorao do dia do samba, que rene compositores e a populao do subrbio, no dia 2 de dezembro, numa festiva viagem de trem. Como escreveu em uma de suas letras o compositor Marquinhos da Oswaldo Cruz:Maria de Todas as Graas (Marquinhos da Oswaldo Cruz e Joo de Aquino)10 margem do Ipiranga Imagem frgil Maria Aparecida do Brasil O mundo a fez bendita e aventurada Num prostbulo ou na estrada Essa negra mulher ainda to juvenil Seu manto multiface nas cidades
9
10
Tocaia. Produo: Universidade Federal da Paraba/ Sonopress, 2000. Marquinhos da Oswaldo Cruz Uma Geografia Popular. Produo: Paulo 7 Cordas/ RobDigital, 2000).
48 Literatura afro-brasileira
Num canto pranto de tantas mil Humilde oxum do brado forte Tens o peito a prpria morte Na madrasta nem to gentil Me sem terra de cabrlia Que sangrou na candelria Bravas mes de acari Oh! Vem nana Maria vem Despir o vu de ax azul Ave cheia de graa Ians das dores Nem to servil Glria, iabs, Maria dos Prazeres do Brasil
A cultura popular como histriaA literatura oral comprova que muitos negros eram usados em servios no braais, servios artsticos, sendo atraes em capitais e arraiais do interior. Este foi o caso de Incio da Catingueira. Cantador popular, muito citado e recriado na poesia popular por outros cantadores, Incio nada nos deixou por escrito. A fora da oralidade, no entanto, permitiu que chegassem aos dias de hoje muitas verses de seus desafios a outros cantadores. Um desafio muito conhecido o intitulado Peleja de Romano contra Incio. Na verso que nos chega de Leandro Gomes de Barros, que teria convivido com os dois,11 Romano tenta desacreditar Incio, reforando esteretipos que recaram sobre descendentes de africanos no Brasil. Incio segue respondendo com muita argcia e ironia. Eis alguns trechos:Incio - Incio quando se assanha, Cai estrela, a terra treme, O sol esbarra seu curso, O mar abala-se e geme, Cerca-se o mundo de fogo, E o negro nada teme. .................................................... Romano - Veja o pobre desse negro, Onde que vem se socar, No lugar mais apertado Que o cristo pode encontrar11
Conferir esta verso no trabalho de Orgenes Lessa: LESSA, Orgenes. Incio da Catingueira e Lus Gama: dois negros contra o racismo dos mestios. Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1982.
Literatura afro-brasileira 49
O diabo est com ele, Quer agora o acabar. Incio - Eu lastimo seu Romano, Ter hoje cado aqui, Nas unhas de um gavio, Sendo ele um bem-te-vi, J est sendo apertado Que s peixe no jiqui.
Hoje em dia, muitos empresrios, polticos, artistas e escritores so descendentes de africanos, mas poucos assumem o sangue negro em suas veias. No tempo de Incio j era assim: alguns senhores eram filhos de negros. Romano era um pequeno agricultor e tambm descendente de africano. Mas no aceitava. Assim, tentava fazer desacreditar Incio, chamando-o a toda hora de negro. Incio, ao invs de ficar ofendido, respondia com ironia:Romano - Meu negro, voc comigo No pode contar vitria Porque fao-lhe um servio Que ficar em memria. Quebro-te as costas a pau E as mos com palmatria. Incio - Meu branco, se o senhor diz Que ainda tem de me aoitar, Deixe dessa tentao Creia em Deus, cuide em rezar, Eu lhe juro adiantado Um homem s no me d. Romano - Negro, eu canto contigo, Por um amigo pedir, Visto me sacrificar No me importa de o ferir, Calco aonde achar mais mole E bato enquanto bulir. Incio - Meu branco, dou-lhe um conselho, No cometa tal perigo, Pea a Deus que lhe retire Desse lao do inimigo, Antes morrer enforcado Do que pelejar comigo. ...........................................
50 Literatura afro-brasileira
O negro na viso de escritores no-negrosComo vimos, o negro no foi eleito modelo de brasileiro. Mas isso no quer dizer que tenha sido totalmente esquecido pelos escritores. Muitos escritores aproveitam a temtica do negro para elaborar uma srie de esteretipos eficazes e perigosos sobre o negro e instaur-los a partir da metade do sculo XIX. Por exemplo: 1849 - Joaquim Manuel de Macedo apresenta na pea O Cego, o mito do escravo fiel. 1856 - Pinheiro Guimares lana um folhetim com a temtica do escravo desprezvel. 1869 - Macedo escreve As vtimas-algozes, em que se reala a imagem do escravo demnio. 1875 - Bernardo Guimares e o frgil mito do escravo nobre que, por isso mesmo, muda de tez: A Escrava Isaura. Isaura, branca e excepcional X Rosa, negra escrava vingativa. Muitos textos da chamada literatura abolicionista partem da premissa de que a escravido era ruim para os donos de escravos, porque os colocava em contato com degenerados morais, como podemos observar na pea de Alencar intitulada O demnio familiar, de 1859. O escravo fiel foi muito traduzido pela imagem do PAI JOO. O Pai Joo seria sinnimo do negro resignado condio servil, passivo. A imagem do negro vingativo parece ter se associado do preto velho resignado, em alguns casos, gerando um tipo de terceira ordem, vinculado ao demonaco, tanto na literatura oral quanto na escrita: Papa-Figo, Tangolomango, Mirigidos so, na maioria das vezes, representados por pretos velhos solitrios, estranhos e dados a prticas monstruosas. O Velho Mirigido, por exemplo, aparece mais tarde no romance Cazuza, de Viriato Correia, assustando crianas com a fama de devorador de pernas. Assim tambm est em um conto de Monteiro Lobato, BocaTorta.
Literatura afro-brasileira 51
No sculo XIX, como vimos, mesmo j morando e trabalhando, como escravo ou livre, o negro no era visto e tratado como um brasileiro, ainda era visto como um estranho ou perigoso. O homem negro precisou de muita fora para viver longe de seus irmos e familiares. Mesmo assim, homens e mulheres negros, escravos, ex-escravos ou livres conseguiram contar histrias, cantar versos, escritos ou orais. Na sua opinio, essas imagens sobre a pessoa negra, to comuns no sculo XIX, ainda persistem no Brasil, em dias atuais? Explique bem o seu posicionamento a respeito, exemplificando com fatos e situaes veiculados em propagandas, novelas, filmes, msicas.
52 Literatura afro-brasileira
O negro fala de si mesmoO amor, a saudade e a criatividade, sob ritmo bem afro e popular, esto presentes nos poemas de Domingos Caldas Barbosa; ele foi um dos primeiros divulgadores das modinhas e dos lundus no Brasil e em Portugal. Por exemplo, no seguinte Lundum de Cantigas Vagas:Xarapim eu bem estava Alegre nestaleluia, mas para fazer-me triste Veio Amor dar-me na cuia. Se visse o meu corao Por fora havia ter d, Porque o Amor o tem posto Mais mole que quingomb. Tem nhanh certo nhonh, No temo que me desbanque, Porque eu sou calda de acar E ele apenas mel do tanque. Nhanh cheia de cholices Que tantos quindins afeta, Queima tanto a quem a adora Como queima a malagueta. Xarapim tome o exemplo Dos casos que vm em mim, Que se amar h-de lembrar-se Do que diz seu Xarapim. (Estribilho) Tenha compaixo Tenha d de mim, Porqueu lho mereo Sou seu Xarapim.
Lundum palavra de origem africana. Usa-se mais comumente a sua variao, lundu. O lundu j correspondeu a uma dana, tambm de origem africana, que se tornou muito popular em fins do sculo XVIII e incio do sculo XIX no Brasil. Dos meados do sculo XIX em diante passou a corresponder a uma espcie de msica com algum teor cmico, apresentada nos saraus e intervalos de peas teatrais.
As palavras e expresses sublinhadas no poema foram associadas ao jeito de falar dos negros. Voc reconhece alguma delas? Que tal procurar o significado das expresses sublinhadas ou de outras que despertem a sua curiosidade? Lembre que toda linguagem se caracteriza por nveis que expressam diferenas socioculturais presentes na sociedade. AsLiteratura afro-brasileira 53
sim, seja na oralidade, seja na escrita, temos uma linguagem mais formal ou mais informal e ainda o que alguns autores chamam de lngua de comunicao. Uma coisa importante que nenhum falante utiliza apenas um desses nveis de linguagem; o uso varia a depender da faixa etria, gnero, sexo, especificidades regionais, formao educacional, contexto de fala e outros. Destaque nveis de linguagem presentes na sua comunidade. Aponte alguns nveis de linguagem que voc identifica neste livro. Domingos Caldas Barbosa (1738-1800). Usava o pseudnimo de Lereno Selinuntino. Nasceu na Bahia ou no Rio de Janeiro. Seu pai era portugus, sua me era uma mulher negra. Viveu boa parte do tempo em Portugal e faleceu em Lisboa. Em seus poemas h tambm stira. A sua linguagem apresenta vocabulrio muito relacionado s camadas mais populares do Brasil. Produziu inmeras modinhas e lundus. Sua obra mais conhecida intitula-se Viola de Lereno (1798).12 Voc conhece alguma stira? Que tal pesquisar mais sobre o assunto? Sobre lundus e modinhas: A modinha nasceu no Brasil no sculo XVII e se caracterizou por desenvolver temas amorosos. Um dos mais populares cantores de modinhas foi o baiano Xisto Bahia (1841-1894), que tambm notabilizou-se por compor lundus. Como vimos, o lundu originalmente era uma dana de origem africana. No Brasil, tornou-se um tipo de cano de fundo meldico original tambm afro e que era apresentada nos intervalos das peas teatrais do sculo XIX, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Posteriormente, ainda no mesmo sculo, foram proibidas as exibies de lundus por serem consideradas ameaas moral e aos bons costumes. Alguns msicos brasileiros resgataram, tempos depois, esse gnero e o incorporaram MPB. Identifique pelo menos um compositor ou compositora que tenha se apropriado do lundu nessa perspectiva.12
Stira uma forma literria que os escritores adotam para referir-se a uma obra, pessoa ou coisa atravs do riso, algumas vezes com a inteno de ridicularizar. Nem sempre ela destrutiva, pois o satirista geralmente pretende reformar a viso social ou os costumes atravs da caricatura, do exagero. J era assim na literatura de gregos e romanos. Muito utilizada no Romantismo brasileiro e, posteriormente, no Modernismo, j associada pardia, a stira, para alguns autores, correspondeu tambm a uma atitude de resistncia.
CALDAS BARBOSA, Domingos. Viola de Lereno. Lisboa: Typografia Lacerdina, 1826.
A dor da saudade da terra natal (ou banzo, como se denominou e ainda se usa no Brasil para tristeza) foi cantada por muitos54 Literatura afro-brasileira
poetas. Um poeta negro, Gonalves Crespo,13 que morou em Portugal, traduziu a saudade do africano por suas terras originais. Por exemplo, no poema As velhas negras:As velhas gras As velhas negras, coitadas, Ao longe esto assentadas Do batuque folgazo. Pulam crioulas faceiras Em derredor das fogueiras E das pipas de alcatro. ............................................... Que noite de paz! Que noite! No se ouve o estalar do aoite, Nem as pragas do feitor! E as pobres negras, coitadas, Pendem as frontes cansadas num letrgico torpor! E cismam: outrora, e dantes Havia tambm descantes, E o tempo era to feliz! Ai que profunda saudade Da vida, da mocidade Nas matas do seu pas! ................................................ No espaoso e amplo terreiro A filha do Fazendeiro, A sinh sentimental, Ouve um primo recm-vindo, Que lhe narra o poema infindo Das noites de Portugal. E ela avista, entre sorrisos, De uns longnquos parasos A tentadora viso... No entanto as velhas, coitadas, Cismam ao longe assentadas Do batuque folgazo...
Vamos fazer de conta que voc uma pessoa que foi separada involuntariamente de seus pais. O que voc escreveria ao sentir saudade?Literatura afro-brasileira 55
13
CRESPO, Gonalves. Obras Completas. Lisboa: Santos & Vieira, 1913)
Antonio Cndido Gonalves Crespo (1846-1883) nasceu no Rio de Janeiro. Era poeta. Foi cedo para Portugal (1860), estudou em Coimbra. Filho de um portugus, Antonio Jos Gonalves Crespo e de Francisca Rosa, uma mulher negra, expressou em seus poemas a saudade das paisagens brasileiras, muito relacionadas ao homem negro. Ao mesmo tempo, reproduziu, em revistas para as quais colaboravam poetas portugueses, formas e pontos de vista tradicionais.Quem foi Lus Gama?L Vai Verso! Luiz Gama14 Quero tambm ser poeta, Bem pouco, ou nada me importa, Se a minha veia discreta, Se a via que sigo torta. F. X. DE NOVAIS Alta noite, sentindo o meu bestunto Pejado, qual vulco de flama ardente, Leve pluma empunhei, incontinente O fio das idias fui traando. As Ninfas invoquei para que vissem Do meu estro voraz o ardimento; E depois, revoando ao firmamento, Fossem do Vate o nome apregoando. Musa da Guin, cor de azeviche, Esttua de granito denegrido, Ante quem o Leo se pe rendido, Despido do furor de atroz braveza; Empresta-me o cabao durucungo, Ensina-me a brandir tua marimba, Inspira-me a cincia da candimba, s vias me conduz dalta grandeza. Quero a glria abater de antigos vates, Do tempo dos heris armipotentes; Os Homeros, Cames aurifulgentes, Decantando os Bares da minha Ptria! Quero gravar em lcidas colunas Obscuro poder da parvoce, E a fama levar da vil sandice A longnquas regies da velha Bctria!
14
GAMA, Luiz. Primeiras Trovas Burlescas & outros poemas (Edio organizada por Lgia F. Ferreira). So Paulo: Martins Fontes, 2000. (Coleo Poetas do Brasil)
56 Literatura afro-brasileira
Quero que o mundo me encarando veja Um retumbante Orfeu de carapinha, Que a Lira desprezando, por mesquinha, Ao som decanta de Marimba augusta; E, qual outro Arion entre os Delfins, Os vidos piratas embaindo As ferrenhas palhetas vai brandindo, Com estilo que presa a Lbia adusta. Com sabena profunda irei cantando Altos feitos da gente luminosa, Que a trapaa movendo portentosa mente assombra, e pasma natureza! Espertos eleitores de encomenda, Deputados, Ministros, Senadores, Galfarros Diplomatas chuchadores, De quem reza a cartilha da esperteza. Caducas Tartarugas desfrutveis, Velharres tabaquentos sem juzo, Irrisrios fidalgos de improviso, Finrios traficantes patriotas; Espertos maganes de mo ligeira, Emproados juzes de trapaa, E outros que de honrados tm fumaa, Mas que so refinados agiotas. Nem eu prprio festana escaparei; Com foros de Africano fidalgote, Montado num Baro com ar de zote Ao rufo do tambor e dos zabumbas, Ao som de mil aplausos retumbantes, Entre os netos da Ginga, meus parentes, Pulando de prazer e de contentes Nas danas entrarei daltas caiumbas.
Procure o significado dos termos sublinhados no poema de Luiz Gama. Voc conhece o mito de Orfeu? ORFEU um mito clssico. Atravs de sua lira e poesia, Orfeu encantaria os deuses, as pessoas e a natureza. O que significaria um Orfeu de Carapinha?
Literatura afro-brasileira 57
Lirismo: o lirismo corresponde a um tom potico mais suave e sentimental, diferentemente da stira. O nome est associado ao instrumento denominado LIRA. Na maioria das vezes, os poemas lricos tratam de temas extremamente subjetivos ou amorosos.
Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) foi um abolicionista negro que muito se empenhou na libertao do escravo durante dcadas do sculo XIX. Nasceu, provavelmente, em Salvador, a 21 de junho de 1830. Sua me teria sido Luiza Mahin, africana livre e suposta lder do movimento revolucionrio dos mals de 1835. Seu pai, um portugus, que o teria vendido como escravo em 1840. No h informaes precisas sobre a juventude de Luiz Gama. Conseguindo a liberdade em So Paulo, aos 17 anos, tornou-se rbula, um advogado sem diploma. Como abolicionista, libertou mais de quinhentos escravos. Publicou um livro de poemas, em duas edies, intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, no qual rene stira e lirismo. A sua produo potica valoriza a presena do negro no Brasil. Quem Foi Luiza Mahin? No se tem muitas notcias a respeito de Luiza Mahin, sua histria controversa. Segundo o que registrou Luiz Gama, ela teria sido sua me e uma das lderes de revoluo negra ocorrida no sculo XIX, provavelmente a insurreio de 1835. Mais do que um mito, Luiza Mahin um smbolo da fora e resistncia da mulher negra. Luiz Gama foi um abolicionista. Mas o que foi o abolicionismo? Para muitos abolicionistas, escravo e senhor eram culpados e vtimas do sistema: o escravo contaminava o senhor porque o negro era imoral; ao mesmo tempo, o negro era inocente, pois a causa de sua imoralidade era a escravido. Estabeleceu-se tambm no imaginrio uma relao dos africanos e seus descendentes com o mito de Cam. Havia a crena de que Cam seria o herdeiro legtimo de todas as dores da escravido, iniciador da raa submissa de Cana, raa do deserto, expulsa do paraso hebreu. Para alguns, Cana devia localizar-se onde hoje situa-se a Etipia. Por isso, a associao com o escravo negro foi estabelecida. Cruz e Souza ironizou a representao do negro no mito de Cam em O emparedado:
Abolicionismo: movimento do sculo XIX que congregou representantes de diversos setores da sociedade, de sentimento anti-escravocrata. Dele participaram filhos de escravocratas, estudantes de direito, escritores, homens e mulheres negros, livres e libertos. O Abolicionismo alcanou o seu pice na dcada de setenta do sculo XIX. Nem sempre a vontade de libertar os escravos correspondeu a uma vontade de dignificar a existncia dos negros. Entretanto, deve ser considerado que para o sucesso do movimento abolicionista concorreram os esforos dos negros quilombolas e de outros negros intelectuais resistentes, como o prprio Luiz Gama e Cruz e Souza.
58 Literatura afro-brasileira
Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882)Literatura afro-brasileira 59
Emparedado Cruz e Souza15 Ah! Noite! Feiticeira Noite! Noite misericordiosa, coroada no trono das Constelaes pela tiara de prata e diamantes do Luar, Tu, que ressuscitas dos sepulcros solenes do Passado tantas Esperanas, tantas Iluses, tantas e tamanhas Saudades, Noite! Melanclica! Soturna! .................................................................................................................... Eu no perteno velha rvore genealgica das intelectualidades medidas, dos produtos anmicos dos meios lutulentos, espcies exticas de altas e curiosas girafas verdes e spleenticas de algum maravilhoso e babilnico jardim de lendas. ....................................................................................................................... E por isso que eu ouo, no adormecimento de certas horas, nas moles quebreiras de vagos torpores enervantes, na bruma crepuscular de certas melancolias, na contemplatividade mental de certos poentes agonizantes, uma voz ignota, que parece vir do fundo da Imaginao ou do fundo mucilaginoso do Mar ou dos mistrios da Noite talvez acordes da grande Lira noturna do Inferno e das harpas remotas de velhos cus esquecidos, murmurar-me: Tu s dos de Cam, maldito, rprobo, anatematizado! Falas em abstraes, em Formas, em Espiritualidades, em Requintes, em Sonhos! Como se tu fosses das raas de ouro e da aurora, se viesses dos arianos, depurado por todas as civilizaes, clula por clula, tecido por tecido, cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de idias, de sentimentos direito, perfeito, das perfeies oficiais dos meios convencionalmente ilustres! Como se viesses do Oriente, rei!, em galeras, dentre opulncias, ou tivesses a aventura magna de ficar perdido em Tebas, desoladamente cismando atravs de runas; ou a iriada, peregrina e fidalga fantasia dos Medievos, ou a lenda colorida e bizarra por haveres adormecido e sonhado, sob o ritmo claro dos astros, junto s priscas margens venerandas do Mar Vermelho! Artista! Pode l isso ser se tu s dfrica, trrida e brbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arrastada sangrando no lodo das Civilizaes despticas, torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da Angstia!(...)
15
In: MURICY, Andrade (org.). Panorama da poesia simbolista. 2a. ed., Conselho Federal de Cultura/ Instituto Nacional do Livro, 1973 (volume 1).
60 Literatura afro-brasileira
Joo da Cruz e Souza (1861-1898)Literatura afro-brasileira 61
............................................................................................................... Se caminhares para a direita baters e esbarrars ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurvel de Egosmos e Preconceitos! Se caminhares para a esquerda, outra parede, de Cincias e Crticas, mais alta do que a primeira, te mergulhar profundamente no espanto! Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de Despeitos e Impotncias, tremenda, de granito, broncamente se elevar ao alto! Se caminhares, enfim, para trs, ah! ainda, uma derradeira parede, fechando tudo, fechando tudo horrvel! parede de Imbecilidade e Ignorncia, te deixar num frio espasmo de terror absoluto... E, mais pedras, mais pedras se sobreporo s pedras j acumuladas, mais pedras, mais pedras... Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes Civilizaes e Sociedades... Mais pedras, mais pedras! E as estranhas paredes ho de subir, longas, negras, terrficas! Ho de subir, subir, subir mudas, silenciosas, at s Estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu Sonho...
Neste texto, h uma voz que fica repetindo para o homem negro que ele no artista, pois vem de l da frica. Cruz e Souza deve ter escutado muito isso em sua vida. Quantas vezes o poeta deve ter escutado que, por ser negro, no era artista, no era inteligente, no era bonito? Voc j ouviu alguma coisa parecida? Como responderia a algum que duvidasse de sua inteligncia? Joo da Cruz e Souza (1861-1898). Poeta, escritor e advogado. Nasceu em Florianpolis, filho de ex-escravos. Estudou no Ateneu Provincial Catarinense. Relacionou-se com outros poetas dedicados ao movimento simbolista, mas mostrou preocupao social relativa situao escrava e discriminao sofrida pelo negro em geral. Publicou diversos livros, dentre eles, Missal, Broquis e Evocaes. considerado um dos maiores poetas simbolistas brasileiros pelos historiadores cannicos. Mrian Alves, poeta contempornea, reforando a vontade de resistncia das mulheres negras, mais de um sculo depois, convoca o poeta do sculo XIX para um dilogo intertextual:
62 Literatura afro-brasileira
s vezes eu me sinto o emparedado do poema de Cruz e Souza. Ento eu digo: eu no vim para este mundo para ser arremedo de branco, eu no vim aqui para ser arremedo de nada, eu vim aqui para ser plena e total, inteira. 18 de dezembro de 1994, So Paulo
Sinh flor B. Lopes16 Desde que te amo (e desde que eu conheo A mais formosa por meus olhos vista) Tenho a incendiar-me a idia fantasista O grande sol de um rtilo adereo. De uma ourivesaria celinista Gemas de tiara e cetro, e ouro careo, Para que suba de esplendor e apreo A vitria do Sonho de um artista. Possudo, esmero e acaricio a Obra, Vendo que ela, fulgindo, se desdobra Em lavor sideral e ris facetos... Para laurear-te o Soberano Estilo De aclamada Clepatra burilo Uma rgia coroa de senetos!
Bernardino da Costa Lopes (1859-1916) nasceu em Rio Bonito, Estado do Rio, em 1859. Foi caixeiro. Trabalhou no Correio Geral do