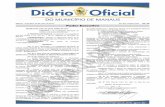3195
Click here to load reader
-
Upload
leonardo-franca -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of 3195
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 14
Cincias, Humanidades e Letras
Gneros televisuais:a dinmica dos formatos
Yvana Fechine *
Resumo
Na indstria do audiovisual e no universoinstitucional da televiso, os gneros foramcompreendidos, por muito tempo, como merascategorias classificatrias, atravs das quais se po-dia reconhecer os programas dentro daprogramao. Mas o prprio hibridismo dosprogramas de televiso encarregou-se de mostraro quanto essa correspondncia termo a termo en-tre gnero e programa era pouco operativa. Maisdo que rtulos, atravs dos quais se buscadirecionar o consumo da vasta produotelevisual, preciso entender os gneros comomatrizes, de natureza tanto semitica quanto so-ciocultural, que permitem a organizao da prprialinguagem da televiso. O objetivo deste trabalho discutir como se constituem e quais so essasmatrizes organizativas da linguagem televisual quecorresponderiam sua prpria noo de gnero.Proponho aqui descrever essas matrizes comoformatos que surgem do modo como se coloca emrelao o apelo a determinadas matrizes culturais(o que inclui toda a tradio dos gneros dasmdias anteriores), a explorao dos recursostcnico-expressivos do meio (dos cdigos prprios imagem videogrfica) e a sua prpria insero nagrade da programao em funo de um conjuntode expectativas do e sobre o pblico. Nessaabordagem, o programa nada mais do que o lugarde operao de um ou mais dos formatos que seroaqui apresentados.
Palavras-chave: gnero, formato, programatelevisual, linguagem televisual
Abstract
For a long time, in the audio-visual industry and inthe institutional universe of television, genres weretaken as mere classificatory categories throughwhich one could recognize the programmes withinthe programming. However, the very hybridism oftelevision programmes brought to light howimpractical this one-to-one correspondencebetween genre and programme was. More thanlabels, through which consumption of the vasttelevisual production is guided, we mustunderstand genres as matrices of semiotic andsocio-cultural natures that allow for theorganization of television language itself. Thispaper aims at discussing how they constitutethemselves and which of these organizationalmatrices of the televisual language actuallycorrespond to the notion of genre they belong to. Iwill describe these matrices as formats that emergefrom the way they are set in relation to the appealof certain cultural matrices (which include thegenres tradition of previous media), theexploitation of techno-expressive resources of themedium (stemming from the genuine codes ofvideographic image) and their very insertion in theprogramme grid according to the expectations fromand about the audience. In this approach, theprogramme is nothing but the operating place ofone or more formats that will be presented here.
Key words: genre, formats, televisual programme,televisual language.
I. O campo conceitual dos gneros
Basta abrir os suplementos especializados emTV ou as revistas de programao das grandesoperadoras dos canais por assinatura para se darconta do quanto a perspectiva dos gneros importante no estudo das mdias. Essa abordagemmais empirista dos gneros tende a trat-los comocategorias que norteiam a prpria relao daindstria do audiovisual com o seu pblico; comocategorias a partir das quais se decide o que sequer ver na TV e at o controle institucional daprogramao. Nessa abordagem, os gneros so
___________________* Jornalista e professora da Universidade Catlica de Pernambuco
(UNICAP). doutoranda do Programa de Comunicao eSemitica da PUCSP, integra o Centro de PesquisasSociossemiticas (PUCSP; USP; CNRS) e desenvolve, juntoa essas instituies, estudos sobre vdeo e televiso.
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 15
Revista SymposiuM
entendidos, antes de mais nada, como discursosinstitucionalizados atravs dos quais se buscaorganizar o consumo da vasta produotelevisual. Tratar de gneros televisuais, nesse tipode abordagem, limita-se a tratar de classificaes,orientadas geralmente pelo contedo, que nospermitam identificar certos tipos de programasantes ou enquanto entramos em contato com eles.Na indstria do audiovisual, essas categoriasclassificatrias permaneceram bem definidas at oincio dos anos 50, quando, restritas praticamenteao universo dos filmes hollywoodianos, estesgneros institucionalizados estiveram imunes aohibridismo de mdias e de linguagens que dominahoje o campo do audiovisual, especialmente o dateleviso.
Toda a discusso sobre os gneros nateleviso esteve, por muito tempo, presa a essaabordagem empirista inclinada a ver os gneroscomo parte do discurso institucional da prpria TV(rtulos atravs dos quais se tentava identificaros programas dentro da programao). Toda essadiscusso foi influenciada, por outro lado, pelo queAndrew Tolson denominou de uma abordagemidealista dos gneros atravs da qual estes eramtratados como ideais tipo de texto1 . No de seadmirar que, nas ltimas dcadas, a prpria idiade gnero como bem lembra Arlindo Machado tenha sido veementemente questionada pela crticaestruturalista e por grande parte dos pensadoresditos ps-modernos2 . Toda resistncia dos crticosps-modernos ao estudo dos gneros parececonfundir-se com seu esforo para abolir quaisqueridias de pureza, de hierarquizao ouclassificao (rotulao) dos textos, nos moldespropostos pelas abordagens gestadas sob o mantoda teoria aristotlica dos gneros. Se tais abordagensacabaram revelando-se inadequadas para adiscusso dos modos de organizao da linguagemna TV, isso no significa, no entanto, que o campoconceitual dos gneros no tenha como dar contado hibridismo esttico-cultural que define hoje ouniverso televisual. O gnero um conceito chavepara a compreenso dos textos nos meios decomunicao de massa, nos quais um determinadotexto dificilmente pode ser analisado de modo
isolado. Mas no exatamente nos termos em quedele se apropriou a indstria do audiovisual.
o prprio Arlindo Machado quem sugere apergunta que no apenas d ttulo a um dos seusensaios sobre o tema, como tambm abre caminhopara a discusso aqui proposta: pode-se falar emgneros televisuais? 3 . Para responder de modoafirmativo pergunta, preciso admitir, deantemo, que h um enorme abismo entre o que odiscurso institucional da prpria TV trata comognero gneros numa perspectivainstitucionalizada e todo um campo conceitualaberto a partir da compreenso dos gneros comoesferas de organizao de linguagens gnerosnuma perspectiva terica. Novamente, ArlindoMachado quem sugere que, dentre todas as teoriasdos gneros em circulao, a que lhe parece maisapropriada para a compreenso da dinmica deconstituio dos gneros na televiso a propostapor um pensador russo que sequer teve contatocom o discurso videogrfico, Mikhail Bakhtin.Partindo das idias de Bakhtin, qual , ento, anoo de gnero terico com a qual ArlindoMachado se prope a pensar a TV? Para Machado,o gnero uma fora aglutinadora e estabilizadoradentro de uma determinada linguagem, um certomodo de organizar idias, meios e recursosexpressivos, suficientemente estratificado numacultura, de modo a garantir a comunicabilidadedos produtos e a continuidade dessa forma juntos comunidades futuras. Num certo sentido, ognero que orienta todo o uso da linguagem nombito de um determinado meio, pois nele quese manifestam as tendncias expressivas maisestveis e organizadas na evoluo de um meio,acumuladas ao longo de vrias geraes deenunciadores 4 .
Os termos grifados em negrito revelam, naminha opinio, pelo menos duas dimensesenvolvidas na compreenso dos gneros, apontadasno apenas por Arlindo Machado mas tambm poroutros autores influenciados pelo pensamentobakhtiniano: uma dimenso mais propriamentesemitica (associada s estratgias de organizaointerna da linguagem) e uma dimenso de natureza
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 16
Cincias, Humanidades e Letras
mais sociocultural (histrica, por conseguinte). Queeqivale a dizer, em outras palavras, que os gnerosso, ao mesmo tempo, unidades estticas eculturais. No mbito das mdias, que o que aquinos interessa, compreender os gneros nessa dupladimenso reconhec-los, antes de mais nada,como estratgias de comunicabilidade5 . Como entidadesinstauradas no prprio processo de comunicao,os gneros podem ser entendidos como articulaesdiscursivas que resultam tanto dos modosparticulares de colocar em relao certos temas ecertas maneiras de exprimi-los, quanto de umadinmica envolvendo certos hbitos produtivos(determinados modos de produzir o texto) e certoshbitos receptivos (determinado sistema deexpectativa do pblico)6 . Os gneros podem serdefinidos, enfim, como formas discursivasprototpicas, definidas a partir de determinadaspropriedades semnticas e sintticas de uma dadalinguagem, tecidas e reconhecveis em funo defatores histricos e socioculturais.
Por envolver uma relao social dereconhecimento, um gnero se define sempre, emcondies especificas para cada esfera dacomunicao e em dada poca, em relao a outrosgneros. Ou seja, a apropriao e o reconhecimentode um determinado gnero discursivo , antes demais nada, o resultado de uma cultura de gneros.Ainda que ignoremos sua existncia terica,possumos, como assegura Bakhtin, um ricorepertrio de gneros: Esse gneros do discursonos so dados quase como nos dada a lnguamaterna, que dominamos com facilidade antesmesmo que lhe estudemos a gramtica (...) se noexistissem os gneros do discurso e se no osdominssemos, se tivssemos de cri-los pelaprimeira vez no processo de fala, se tivssemos deconstruir cada um dos nossos enunciados, acomunicao verbal seria impossvel. Bakhtinressalva, no entanto, o quanto as formas dosgneros so mais maleveis, mais plsticas e maislivres do que as formas da lngua, so mais geise muito mais fceis de combinar7 . Podem, porisso mesmo, superar a pobreza dos rgidos esquemasclassificatrios dos estudos da estilstica e ajudarna compreenso da dinmica dos processos
comunicacionais em toda sua diversidade ecomplexidade.
Justamente por estarem inseridos nessacomplexa dinmica cultural e submetidos sinstabilidades inerentes aos processoscomunicativos, os gneros no podem serconcebidos, dentro do esquema terico propostopor Bakhtin, como instncias com um carteracabado. O gnero , nessa perspectiva, umfenmeno que se define na dialtica entre repetioe inovao, entre prescrio e transgresso, entrecontinuidades (tradio) e rupturas. Nas palavrasdo prprio Bakhtin, o gnero sempre e no omesmo, sempre novo e velho ao mesmo tempo:renasce e se renova a cada manifestao individualde um dado gnero8 . Cada novo texto e cada novognero se define sempre em relao a outros quelhe so anteriores (uns esto inscritos nos outros;uns se escrevem sobre os outros). A prpriacondio do gnero , de acordo com as idias deBakhtin, o movimento. Embora representem osmodos de organizao mais estveis (enunciadostpicos ou formas padro) dentro de umdeterminado meio e de uma determinada esferada comunicao, todo gnero est tambm emcontnua transformao em funo dasmanifestaes individuais que ele prprio tentaenfeixar: cada enunciado individual (re)atualiza aforma padro a partir da qual se formou ou renovaa forma tpica dos enunciados dos quais ele umamanifestao viva.
Embora no possuam a estabilidade e rigidezdas formas prescritivas da lngua comum (oscomponentes e estruturas gramaticais), os gnerosno deixam, porm, de ter um certo valornormativo. Os gneros so, de qualquer maneira,formas organizativas dadas a priori a um falantepara organizao de sua fala: em todos eles hsempre constituintes genricos que permanecem eh sempre elementos especficos que mudam deacordo com as transformaes socioculturais, en-tre as quais se inclui o prprio surgimento de no-vas mdias. Embora entenda o gnero como umamanifestao das tendncias expressivas maisestveis e mais organizadas da evoluo de um
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 17
Revista SymposiuM
meio, o prprio Machado que nos adverte parano concluirmos, a partir disso, que o gnero necessariamente conservador. Pelo contrrio, cadagnero , antes de mais nada, o resultado de umacontnua regenerao entre discursos que reenviamuns aos outros, replicando e renovando, ao mesmotempo, determinadas estruturas. Arlindo Machadodescreve esse modo como os gneros se constituemnessa dialtica entre a estabilidade e instabilidadede articulaes organizativas, comparando o quefaz o gnero no meio semitico ao que faz o geneno meio biolgico:
Os geneticistas definem o gene como uma entidadereplicante, presente nas molculas de DNA, cujafuno principal transmitir s novas clulas queesto sendo formadas as informaes bsicas quevo garantir a preservao de uma determinadaespcie. O paradoxal com relao aos genes que,embora eles sejam entidades conservadoras pormisso biolgica, eles so tambm os responsveispela evoluo da vida desde as formas mais simpless mais complexas, atravs de um longo processode seleo natural. Como se sabe, o zologo egeneticista Richard Dawkins, em seu livro The Self-ish Gene, defendeu a idia de que os genes no soos nicos responsveis pela evoluo: quando aquesto a cultura humana, temos de pensar numequivalente cultural segundo ele, o meme quese encarregaria da mesma funo replicante dasentidades genticas (...) Na minha opinio, os gnerosdiscursivos, tais como Bakhtin os imaginou, seestendidos para toda a produo semitica dohomem, dariam muito maior preciso e coerncia idia de qualquer maneira fertilssima doreplicante cultural, o meme9 .
essa idia dos gneros como replicantesculturais, proposta por Machado, que nos permitecompreender, em meio ao hibridismo daslinguagens e das mdias da contemporaneidade,como os discursos se organizam nesse trnsito,nesse movimento entre formas: na repetio ecombinao de determinados modos organizativos,surge a variao que permite essa contnuaevoluo de formas. Parece ser possvel aindapensar na prpria dinmica de transformao dosgneros primrios em secundrios10 , tal comodescrita por Bakhtin, nos mesmos moldes desseprocesso de replicao: formas de organizao
discursivas mais simples (bsicas) so repetidas ecombinadas para produzirem formas deorganizao discursiva mais complexas. No se estpostulando aqui nada diferente do que o prprioBakhtin j afirmou quando nos ensinou que, noseu processo de formao, os gneros secundriosabsorvem e transmutam os gneros primrios. evidente que no desconhecemos aqui que, paraBakhtin, os gneros primrios estavamnecessariamente associados s formas maiselementares do discurso cotidiano(predominantemente orais). Por se tratar de formasmais elaboradas e, por definio, mediadas, osgneros miditicos jamais poderiam serconsiderados como gneros primrios, quando seconsidera a definio proposta por Bakhtin numsentido estrito. O que especulo aqui, porm, se,na constituio dos gneros miditicos, poderiadar-se essa mesma dinmica de replicao deformas mais simples em outras mais complexas.
essa dinmica de constituio dos gnerosque Arlindo Machado parece ter em mente quandoretoma as idias de Bakhtin, para defender o quese pode considerar como uma capacidade deexpanso (ampliao) dos gneros e suavariabilidade infinita na televiso: os gneros socategorias fundamentalmente mutveis eheterogneas (no apenas no sentido de que sodiferentes entre si, mas tambm no sentido de quecada enunciado pode estar replicando muitosgneros ao mesmo tempo)11 . H, em afirmaescomo essa, uma idia claramente delineada de queum gnero pode resultar da combinatria de duasou mais formas, dois ou mais gneros. O que nospermite, aqui, levantar uma questo qual, pelomenos de modo explcito, Machado no fazreferncia no seu texto: poderiam ser identificadas,nessa dinmica de combinao, formas bsicas dearticulao discursiva que corresponderiam, nombito especfico das mdias, ao que Bakhtinidentificou no campo mais amplo da cultura comogneros primrios?12 Essa , sem dvida, umaquesto que merece ser levada em consideraonum estudo mais profundo sobre como surgem osgneros nas mdias e, particularmente, numa mdiacomo a TV, cuja principal caracterstica
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 18
Cincias, Humanidades e Letras
justamente sua capacidade de absorver formatose usos tanto de mdias que a antecederam (o rdioe o cinema, por exemplo) quanto das que aprecederam (a Internet). Sem perder essacaracterstica de vista, vamos, por ora, deter-nosna compreenso da prpria noo de gnero nomeio especificamente televisual, a partir do campoconceitual proposto at aqui.
II. Os gneros na televiso
Em qualquer mdia, a dupla natureza dosgneros tanto uma configurao textual quantoum fenmeno sociocultural envolve na suaconstituio critrios de pertinnciacompletamente diferentes: critrios que podem seridentificados tanto no nvel da configuraosinttico-semntica (esfera dos contedos e estilos)quanto no nvel das matrizes culturais em tornodas quais j se produziu toda uma tradio degneros (esfera dos usos). Quando colocados emrelao, tais critrios nos ajudam a compreendermelhor como, a partir dos recursos tcnico-expressivos de um dado meio e de umadeterminada linguagem, toda uma tradio degneros regenerada em um modo de organizaoprprio quela mdia. No caso da televiso, o modoprprio de organizao a programao umaseqncia de unidades articuladas transmitida emtempo real. Os gneros televisuais podem serdefinidos, portanto, como unidades daprogramao definidas por particularidadesorganizativas que surgem do modo como se colocaem relao o apelo a determinadas matrizesculturais (o que inclui toda a tradio dos gnerosdas mdias anteriores), a explorao dos recursostcnico-expressivos do meio (dos cdigos prprios imagem videogrfica) e a sua prpria insero nagrade da programao em funo de um conjuntode expectativas do e sobre o pblico.
A programao de uma determinadaemissora de televiso o resultado do modo comoos programas so organizados em uma grade deexibio em funo do dia da semana, do horrio,do sexo e faixa etria, entre outros critrios. Todosesses critrios j indicam por si ss a constituio,
em torno de cada programa, de um quadro deexpectativas tanto do ponto de vista da produoquanto da recepo. Toda a dinmica deconstituio dos gneros descrita at aqui impede-nos, no entanto, de estabelecer umacorrespondncia direta e imediata entre umdeterminado gnero e certos tipos de programas(ou de certas famlias de programas). Parece serjustamente por entenderem o gnero como umamera categoria classificatria e tentaremestabelecer esse tipo de correspondncia termo atermo, que muitos tericos contemporneosconsideram esse campo conceitual pouco operativona compreenso da televiso. Afinal, cada vezmais raro encontrar hoje um programa de televisoque possa ser descrito a partir das particularidadesorganizativas de um nico gnero. O que vem aser, ento, um programa de televiso? O termoprograma designa aqui cada uma das partes quecompem o todo que a programao, o que incluitambm os elementos que funcionam comoamlgama dessa programao, tais como aschamadas, inserts de institucionais e os breakscomerciais. Mas, mesmo entendido nesse sentidoamplo, o termo programa, certamente, nodesigna o que poderia ser considerado como umamatriz organizativa das mensagens da televiso. Oprograma antes uma instncia na qual se articulamas mais variadas unidades organizativas dalinguagem televisual ou, se preferirmos, o programa um lugar de operao dos vrios gnerosabrigados pela programao.
O que poderia ser considerado, ento, umamatriz organizativa dos gneros na televiso? Qualseria a unidade capaz de colocar em relao, aomesmo tempo, particularidades de natureza tantosemitica quanto sociocultural, capaz de abrigarem si mesma tanto a dinmica de constituio dosprogramas quanto da programao? Seja como forque denominemos essa matriz organizativa, elapoder ser considerada, desde j, como o gnerode base da televiso, uma vez que permitir acompreenso, a partir de si, do modo como todosos demais gneros se constituem e operam nas suasparticularidades esttico-culturais. Proponho quetentemos compreender esse gnero de base da
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 19
Revista SymposiuM
televiso como um formato. A noo de formatono se confunde, de maneira alguma, com a deprograma. Cada programa na televiso j oresultado de uma combinatria de formatos.Qualquer tentativa de definio do formato,entendido aqui como sendo essa matrizorganizativa das mensagens televisuais, acabarrepetindo, no entanto o prprio conceito de gnerotelevisual proposto anteriormente, ainda que emnovos termos. No se podia esperar que fossediferente. Propor um conceito de gnero literrio,gnero radiofnico, gneros digital ou gnero televisual,entre outros, nada mais , a meu ver, do que proporum gnero de base para cada uma dessas mdias.No caso especfico da televiso, a noo de formatoincorpora toda dinmica de produo e recepoda televiso a partir daquilo que lhe parece maiscaracterstico como princpio de organizao: umafragmentao que remete tanto s formas quantoao nosso modo de consumi-las.
H pelo menos dois modelos genricos derecepo da televiso: no primeiro, admite-se queassisto a TV para ver algo e, a partir dele, justifica-se minha preocupao mais pontual com oreconhecimento dos programas. No segundo,admite-se que o espectador se instala frente telasimplesmente para assistir TV, o que desloca anfase da abordagem para a fruio daprogramao. Tanto num caso quanto no outro, noh como desconhecer que ao que se assiste , arigor, uma sucesso de fragmentos que, para fugirde todo o campo conceitual associado ao uso dessetermo (fragmento), passarei a tratar agora comosegmentos. O que ocorre mesmo quando assisto,atenta e particularmente, a um determinadoprograma de televiso? Pensado em relao programao, a grande maioria dos programas deTV repete, de modo fractal, o mesmo princpio deorganizao da programao: pode ser descritocomo uma sucesso de unidades articuladas, entreas quais se incluem, geralmente, seus prpriosblocos (sem esquecer que, em muitos programas,esses blocos consistem numa sucesso de quadrosautnomos), vinhetas, chamadas e annciospublicitrios, entre outros. Sendo ou no parteintegrante do que se considera como sendo o
programa, cada um desses segmentos est pautado,de qualquer maneira, por um ou vrios formatosde natureza completamente diversa. Estamosfalando, em outras palavras, de uma articulao degneros que se d tanto no interior de um programaquanto na relao deste com a programao.
Entendidos nessa perspectiva, o conceito degnero escapa assim de qualquer pretensomeramente classificatria que, no caso da TV,resultaria necessariamente numa tentativa estrilde rotular cada programa como pertencente a talou qual famlia de programas. Frente aohibridismo que caracteriza as mdiascontemporneas (e a televiso mais ainda), essapretenso classificatria no teria nem mesmocomo ser empreendida sob pena ou de deixar defora das taxonomias propostas um nmero enormede programas ou de acabar propondo um nmeroquase to grande de categorias quanto o deprogramas existentes, tamanha a diversidade entreeles e a dificuldade de reuni-los numa mesmaclassificao. Parece mais pertinente entender omodo como se organizam as mensagens na TV emtermos de grandes formatos que, medida quetraduzem e renovam, com os recursos tcnico-expressivos do meio, toda uma cultura de gneros(matrizes histrico-culturais), constituem-setambm como gneros gneros televisuais, cujoreconhecimento , a um s tempo, causa econseqncia de toda uma cultura de programasque a prpria TV, apesar de pouco mais de meiosculo de existncia, j instaurou.
Proponho, ento, analisarmos os maisdiversos programas de televiso, tentando no maisenquadr-los no que se pode considerar como osgneros institucionalizados pelos grandesconglomerados da comunicao, mas tentandoobservar como estes se organizam a partir dedeterminados formatos que, inicialmente, serotratados aqui como formatos esttico-culturais. Emborahaja, na maioria dos programas, a predominnciade um dado formato, o mais pertinente ser sempretrat-los em termos de combinao de formatos.Por esse caminho parece mais fcil entender, porexemplo, por que colocar sob o mesmo rtulode talk-show programas to diferentes quanto
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 20
Cincias, Humanidades e Letras
Passando a limpo (Rede Record), apresentado pelorespeitado jornalista Boris Casoy, e o Programa doJ (Rede Globo), apresentado pelo humorista JSoares, acaba dizendo muito pouco sobre o modode organizao de cada um deles. Os doisprogramas articulam-se, afinal, em torno deformatos bem diferentes. Se pensarmos agora emtermos de formato, acabaremos concluindo que omodo de organizao do Programa do J parecemuito mais prximo de programas como o DomingoLegal, com Gugu Liberato (SBT), uma vez que osdois programas apelam, predominantemente, parao que descreverei, logo a seguir, como um formatofundado na performance. Incluindo este,identifico, a princpio, pelo menos mais 12 formatosou gneros televisuais, a partir dos quais seorganizam os programas de televiso maisconhecidos no Brasil. So eles:
1. Formato fundado no dilogo: aquele funda-do essencialmente na conversao interpessoal, naexplorao das situaes de interlocuo direta enas suas diferentes manifestaes (debates e en-trevistas, entre outros): a TV funcionando comometfora de um grande chat. Esse formato inclui,em suma, todas as formas fundadas no dilogosocrtico13 . Exemplos: Passando a limpo (Record),Fala que eu te escuto (Record) Gabi (RedeTV!), Car-to Verde e Roda Vida (TV Cultura), entre outros;
2. Formato fundado no folhetim: aquele base-ado nas narrativas seriadas dos folhetins (histriasde costumes, cotidiano, intrigas, amor etc.),marcadas pela regularidade na exibio de epis-dios que so interrelacionados e, completa ou re-lativamente, autnomos. Exemplos: telenovelas,seriados e minissries em geral;
3. Formato fundado no filme: aquele baseadona narrativa flmica (cinematogrfica), mesmoquando incorpora, por fora da programao, umaestrutura em blocos. Exemplos: os telefilmes emgeral e os documentrios, entre outros;
4. Formato fundado na performance: aquelearticulado em torno da realizao de umaperformance (cnica, artstica, musical etc.) dos
profissionais de TV e dos seus convidados paraum pblico apenas pressuposto ou presente no lo-cal de produo/gravao como figurativizaomais imediata desse pblico-modelo. Como todaperformance, esse formato depende daquilo quese constri enquanto se exibe: nesse caso, enquan-to se exibe na e para a televiso. Esse formato cos-tuma ser marcado por uma sucesso de atraesdas mais diferentes naturezas com o objetivo prin-cipal de proporcionar, nos moldes dos antigos es-petculos dos music-hall e vaudevilles, momentos deentretenimento. Nesse formato, tambm pode serincluda a maioria dos espetculos realizados noapenas para a televiso, mas fundamentalmentepara serem registrados e transmitidos pela televi-so (shows, concertos, entrega de prmios etc.).Exemplos: programas de auditrio, tais comoDomingo do Fausto e Programa do J (Rede Globo);Domingo Legal e Hebe (SBT), entre outros;
5. Formato fundado no jogo: aquele que se ar-ticula em torno de disputas por prmios e/ou emtorno de sorteios, da soluo de questes, enigmase adivinhaes. Exemplos: Top TV (Record), Pou-pa Ganha (Bandeirantes), Fantasia e Show do Milho(SBT);
6. Formato fundado no apelo pedaggico: aquele que tm o objetivo explcito de ensinaralgo ao telespectador. Exemplos: Telecurso 2000(Rede Globo), X-Tudo e Vestibulando (TV Cultu-ra), programas e/ou quadros ensinando como pre-parar pratos culinrios, entre outros;
7. Formato fundado na propaganda/publici-dade: aquele que explora um discurso nitidamen-te persuasivo com o objetivo explcito de ven-der algo ao espectador (uma ideologia, um credo,um produto). Exemplos: Santo culto em seu lar(Record), Igreja da graa (Bandeirantes), Santa Mis-sa (Globo), horrio eleitoral gratuito, Liquida Mix(Gazeta), Brasil Connection (RedeTV!), segmentospublicitrios, vinhetas e chamadas da programa-o (incluindo teasers e trailers), entre outros;
8. Formato fundado na pardia: aquele de ape-lo cmico-humorstico ou pardico com a inten-
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 21
Revista SymposiuM
o explcita de fazer rir. Geralmente, esses for-matos so organizados em torno de sketches monta-dos a partir de situaes e personagens ficcionaisou no. Exemplos: A Praa nossa e Chaves (SBT);Escolinha do barulho (Record) Megatom e Zorra Total,Casseta & Planeta (Globo), entre outros;
9. Formato fundado no jornalismo: aquele vol-tado para a divulgao, discusso e repercusso deatualidades, tendo como referncia os modelosnarrativos informativos do jornalismo nas mdiasque antecederam a prpria TV. Exemplos:telejornais em geral, programas jornalsticostemticos (ecologia, cincia, negcios, viagens) eprogramas de grandes reportagens (Globo Reprter,na TV Globo, e Caminhos e parcerias, na TV Cultu-ra, por exemplo), entre outros;
10. Formato fundado na transmisso direta: aquele cujo sentido est intrinsecamente associa-do simultaneidade entre a realizao do aconte-cimento e a sua transmisso pela TV. Nessa simul-taneidade, est o prprio apelo esttico do progra-ma e/ou quadro. O acontecimento/fato transmi-tido determina toda a funo comunicativa dessetipo de transmisso televisiva, cujo principal atra-tivo justamente a imprevisibilidade, a espera peloinesperado, proporcionados pela simultaneidadeentre a produo, transmisso e recepo do fatoatravs da TV. Exemplos: transmisso dos cha-mados media events14 (os funerais do presidenteTancredo Neves e do piloto Ayrton Senna, porexemplo), transmisso de partidas esportivas e cer-tos flashes na programao (tipo planto), entreoutros;
11. Formato fundado nas histrias em quadri-nhos: aquele que articula narrativas baseadas daanimao de formas estticas (desenhos, bonecosetc.). Exemplos: cartoons em geral (desenhos ani-mados);
12. Formato fundado no voyeurismo: aquelefundado na idia da TV como dispositivo de visopermanente (TV-detetive, TV-bisbilhoteira),explorando os recursos e efeitos proporcionadospelo uso das cmeras de TV como cmeras de
vigilncia para flagrar situaes e comportamentosda vida real. Graas ao uso de cmerasgeralmente ocultas e, geralmente, sem oconhecimento prvio dos envolvidos, prope-se amostrar como vivem, como reagem e o que fazempessoas comuns ou famosas frente a situaesinusitadas ou absolutamente triviais (o voyeurismodo cotidiano). Exemplos: Na real (MTV), aspegadinhas presentes em programas de auditrioe quadros como o Telegrama legal (do DomingoLegal), No Limite (Rede Globo), entre outros.
Diante disso que pode ser considerado, aindaque provisoriamente, como um mapeamento dosprincipais formatos ou gneros televisuais, importante tentar responder a pelo menos duasquestes relacionadas diretamente pertinncia e operatividade da descrio proposta: 1) at queponto o mapeamento levou em considerao adupla natureza dos gneros cultural e semitica(questo da pertinncia); 2) at que ponto omapeamento desses formatos pode colaborarpara a compreenso do funcionamento ereconhecimento dos programas (questo daoperatividade). Para responder convenientementea primeira questo, seria necessria uma longadiscusso sobre os prprios critrios envolvidos naconstituio dos gneros, que no h como ser feitaaqui. Para pensar na pertinncia do mapeamentoproposto, parece ser suficiente, por ora, lembrarnovamente o quanto a prpria noo de formato jremete tanto a aspectos de pertinncia semitica so o resultado de certas estratgias enunciativase de certos modos discursivos, de determinadoscontratos e competncias textuais quanto a depertinncia histrico-cultural so o resultado domodo como a linguagem televisual se apropria decertas matrizes delineadas pela prpria cultura (odilogo, a pardia, a performance etc.) e,particularmente, pelo que se pode hoje identificarcomo sendo uma cultura prpria s mdias. Entrecritrios de pertinncia diferente, cabe aopesquisador perceber quais os aspectos dominantesna constituio de um dado gnero paraempreender, a partir deles, sua descrio.
A compreenso dos gneros no mais como
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 22
Cincias, Humanidades e Letras
categorias fechadas e norteadas por um nicocritrio, mas como unidades de reconhecimentocapazes de colocar em relao vrios critriosorganizativos, tambm o caminho para se entendercomo o mapeamento proposto pode ser operativono estudo dos programas. Mais uma vez, a prprianoo de formato que inviabiliza umacorrespondncia biunvoca entre cada um deles eum determinado tipo de programa. Nem sempreum programa pode ser compreendido a partir deum nico formato. H, evidentemente, programasque se pautam quase completamente em torno deum formato. Para facilitar a prpria compreensodo formato descrito, foram justamente esses osescolhidos como exemplos no mapeamentoproposto anteriormente. Basta observar, porm, aprogramao diria das emissoras de TV paraconstatar como os programas mais propriamentetelevisivos so, no por acaso, exatamente aquelesarticulados em torno de maior combinatria deformatos, o que mais condizente com o prpriohibridismo de linguagens associado funo deinstrumento de difuso assumida pela TV desdeseus primrdios (absorvendo, com isso, formatosde vrias mdias). Tambm no parece ser por acasoque os programas cuja descrio comporta,genericamente, um nico formato sejamjustamente aqueles fundados em gneros que,historicamente, j estavam bem consolidados emoutras mdias e linguagens (novelas/folhetins,telejornalismo/jornal, programas humorsticos/pardias etc.).
Coerentes, no entanto, com o modo deorganizao fragmentado (segmentado) da prpriaprogramao, grande parte dos programas de TVso estruturados em quadros autnomos quepodem ser pautados por formatos de naturezacompletamente diferente. Cabe, ento, mais umavez ao estudioso perceber qual ou quais o(s)formato(s) mais pertinente(s) descrio de umdeterminado programa. Nessa descrio, ele nopode deixar de levar em conta que essacombinatria de formatos tanto pode se dar porjustaposio um ao lado do outro quantopor sobreposio como camadas que,sobrepostas, resultam num novo arranjo que no
nenhuma delas, mas na qual se vislumbram todaselas. No caso da combinatria por sobreposio,os formatos parecem dispostos como que porencaixe: um entrando no outro, um dentro do outrode tal modo que j no se percebem claramente oslimites de um e de outro. A competnciainterpretativa diante de um programa de TVarticulado de tal modo depende, nos termos deEco, de uma prvia competncia para distinguirgneros forjada pelo que j se tratou aqui comosendo uma cultura de programas15 . essacompetncia para distinguir gneros que permitehoje ao espectador fazer desse prprio hibridismoa sua chave interpretativa. isso o que lhepermite perceber, por exemplo, como formatosfundados no jornalismo, nos filmes e no folhetimse sobrepem na articulao de programasabsolutamente inclassificveis, no mbito dosgneros institucionalizados pela prpria TV, comoThe Selena murder trial, uma das edies do The E!True Hollywood Stor y (programa do canal porassinatura E!), exibido em 15/06/200016 .
Feitas todas essas consideraes, agoraparece comear a ficar mais claras as razes pelasquais considerei anteriormente o Programa do J e oDomingo Legal como formatos fundados,predominantemente, na performance, emboracomportando outros formatos (aqui, claramentearticulados por justaposio). O que faz ohumorista J Soares no programa noturno que temna Rede Globo? Ele, certamente, no se limita afazer entrevistas. Na maioria dos programas, suasentrevistas sequer possuem um apelo jornalstico,que a marca das entrevistas apresentadas porBoris Casoy no Passando a limpo (o nome j sugereo tom). As entrevistas propostas pelo programaso, antes de tudo, uma oportunidade para que sed mostras da presena de esprito e do senso dehumor tanto do apresentador quanto dos seusentrevistados. No Programa do J, uma boa perguntaou uma boa resposta sempre sacrificada em prolde uma boa piada ou de uma divertida intervenodo Gordo ( assim que J se refere a si mesmo).O programa tambm abre espao paraapresentaes musicais, inclusive do prprio J edo grupo de jazz que o acompanha (contracena
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 23
Revista SymposiuM
com ele). Em um telo, ao fundo, tambm soexibidos quadros humorsticos protagonizados peloGordo, assim como vdeos relacionados, dealgum modo, ao assunto tratado com osconvidados. O Programa do J , antes de mais nada,uma grande performance do Gordo e dos seusconvidados para uma platia entusiasmada. Nadamuito diferente do que faz Gugu Liberato, aosdomingos no SBT, no seu reconhecido programade auditrio.
III. O formato televiso
Toda a descrio de formatos proposta acimaprivilegia o programa como a unidade bsica derecepo da televiso: o espectador liga a TV paraassistir a algo. Nesse caso, admite-se que oespectador possa estar, deliberadamente, em buscade determinados formatos, o que justificaria por sis a preocupao inicial e mais pontual com oreconhecimento dos modos de organizao dosprogramas. No se pode desconhecer, no entanto,que o espectador, sem maiores pretenses, podeinstalar-se frente tela simplesmente para assistira TV, o que nos obriga a deslocar a nfase daabordagem para a fruio despretensiosa e/oudispersiva da programao. Privilegiar, na anlise,esse tipo de abordagem reconsiderar a histricaposio de tericos como Raymond Williamspara os quais a experincia de assistir a TVno se d na ateno particularizada a cada umadas unidades que compem a sua programao.Pelo contrrio, Wil l iams considera que aexperincia central da televiso a experinciado f luxo 17 : entregar-se a uma fruioindiscriminada daquilo que desfila pela tela, detal modo que o real broadcasting no estariana seqncia de unidades discretas (osprogramas), mas na seqncia indiscriminada devrias seqncias (seqncia de seqncias). Noh como desconhecer que a noo de fluxo deWill iams, ainda que contendo uma visohomogenizante demais da TV18 , parece aindaimportante para se compreender, hoje, um modode recepo que tem no zapping, se no a nica,a sua principal forma de manifestao.
O que significa zappear? Parece haver doisnveis de compreenso dos gneros a partir de doisaspectos, igualmente importantes, dessecomportamento espectatorial: 1) atravs do zap-ping, o espectador pode vagar errante por variadasprogramaes; 2) no zapping, o espectador acabaperdendo a noo de parte/todo que articula cadaprograma numa programao. A primeira situaoganhou nuanas particulares com a popularizaodas TVs por assinatura. Com a grande profusode canais temticos, pode-se admitir que a escolhae o reconhecimento de um determinado canal podesignificar hoje a prpria escolha e reconhecimentode determinados formatos e vice-versa. Bastapensarmos, por exemplo, no modo como muitasredes internacionais de televiso, como a CNN ouo Cartoon Network, consolidaram-se pela suadedicao exclusiva a determinados formatos(formatos fundados no jornalismo e nosquadrinhos, respectivamente). Nesse caso,tambm parece possvel pensar nas programaesdiferenciadas desses mais variados canaistambm em termos de determinados formatos,de tal modo que tambm se pudesse pensar noscanais em termos, de fato, de gneros: no degneros como sinnimo de tema, como se podeobservar nas revistas de programao dasgrandes operadoras dos canais por assinatura,mas de gneros como modos de organizao, paraos quais concorrem outros elementos de naturezasemitica e cultural.
A dissoluo da relao entre programa eprogramao (parte/todo), apontada acima comouma das possveis conseqncias do zapping, exigetambm o deslocamento para um outro nvel deanlise em relao ao conceito aqui proposto deformato. Nessa segunda situao, admite-se, a pri-ori, que o espectador no est muito preocupadoou mesmo interessado em assistir a umdeterminado programa ou tipo de programa. Eleparece aqui bem mais prximo da experincia dofluxo descrita por Raymond Williams, j na dcadade 70, quando no haviam proliferados oschamados canais temticos: o espectador aqui aquele que se contenta com a fruio de seqncias.
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 24
Cincias, Humanidades e Letras
Ele assiste no propriamente ao programa x, y ouz, mas a uma seqncia formada por fragmentosde x, y, z e assim por diante. Esse espectador quese entrega a essa espcie de fluxo no est embusca de algo previamente definido. Pode-se dizer,no mximo, que ele est em busca de algovagamente pr-concebido e nesse momento queoperam formatos de natureza mais comunicativa.O espectador parece, nesse caso, estar menosinteressado na fruio de determinados formatose mais disposto a experimentar o que poderamoschamar de o prprio formato televiso.
Com essa expresso, o que se pretendedesignar aqui um modo de organizao da prpriacomunicao atravs da televiso. Esse modo maisabstrato de organizao no est mais fundado noreconhecimento dos formatos esttico-culturaisconstituintes de cada programa, mas, sim, noreconhecimento de formatos constituintes doprojeto comunicativo, que a programao mesma.Esses formatos comunicativos teriam, em outraspalavras, uma funo de reconhecimento de certosmodos de comunicao, conformados pelos prpriosmeios de massa, que podem ser considerados comoum aspecto fundamental da definio de estratgiasde comunicabilidade mais amplas, para as quaisconcorrem tambm os aspectos esttico-culturaisj tratados. Tratamos agora de formatos comunicativosque nos obrigam a pensar os modos de organizaodas mensagens televisuais na perspectiva do fruidorda programao mais que dos programas. Essesformatos passam, ento, a ser pensados a partir degrandes configuraes que orientam a produo ea recepo do prprio medium. Proponho, por ora,a descrio de pelo menos trs dessas configuraestraduzidas em trs grandes pares apresentados a seguir.
Configuraes interpelativas e no-interpelativas. As interpelativas podem serdescritas, genericamente, como aquelas que instalamo espectador no texto televisual, reconhecendo a suaexistncia e falando diretamente para ele(constroem posies de subjetividade para oespectador dentro do texto); As no-interpelativaspodem ser definidas, por oposio, como aquelasque no reconhecem a existncia nem de uma fonte
produtora, nem de um interlocutor (destinatrio):procuram mostrar-se como se fossem umahistria contada por ningum e para ningum.
Configuraes interativas e no-interativas. Oemprego do termo interativo, aqui, remeteapenas possibilidade de interveno efetiva doespectador na transmisso televisual. Asconfiguraes interativas, portanto, so aquelas quedependem e/ou permitem a participao doespectador por maio de fax, telefone e e-mail (online). Com isso, abrem a possibilidade de umintercmbio comunicativo entre os produtores/realizadores do programa e os telespectadores. Asconfiguraes no-interativas so, ao contrrio,aquelas que no permitem esse tipo departicipao, que, apesar de mediada, d-se emtempo real. No permitem, portanto, apossibilidade de qualquer contato entre destinadore destinatrio da mensagem televisual.
Configuraes ao vivo (direto) e gravadas. Aconfigurao ao vivo ou direta aquela na qual aproduo, a transmisso e a recepo de umdeterminado ato/fato/acontecimento ocorremsimultaneamente. Essa simultaneidade , aqui,mais que uma operao tcnica ou uma condioexpressivo-narrativa. nela que reside apossibilidade de interveno do espectador naquiloque v/ouve. Nas configuraes gravadas, atransmisso posterior produo/realizao dofato.
Se considerarmos que o projetocomunicativo da prpria televiso est fundadonessas configuraes, nada nos impede de admitirque o modo de organizao de qualquerprogramao televisual, seja ela de um canaltemtico ou generalista, pode tambm ser pensadoa partir de formatos comunicativos que resultamda combinatria desses trs pares. Pensando agorarigorosamente em termos do formato televiso, parecepossvel identificar pelo menos cinco grandesformatos particulares: I) interpelativo interativodireto; II) interpelativo no-interativo direto; III)interpelativo no-interativo gravado; IV) no-interpelativo no-interativo gravado; V) no-
-
Ano 5 n 1 janeiro-junho 2001 - 25
Revista SymposiuM
interpelativo no-interativo direto. Todos essesformatos so o resultado do modo como a TV, comos recursos tcnico-expressivos que lhe soprprios e com mais voracidade que qualquer outromeio, coloca em relao e incorpora certas matrizescomunicativas forjadas ao longo de toda essa nossavasta cultura de mdias. Quando se pensam osmodos organizativos da TV, a partir dessesformatos, torna-se mais difcil ainda pensar emqualquer correspondncia termo a termo entre estese os programas19 . Aptos a nos dizer mais sobre osmodos de organizao deflagrados na recepo daprogramao do que sobre os modos de organizaorelacionados produo dos programas, essesformatos comunicativos nos obrigam a enxergar oque seria um esqueleto da prpria TV. Qualquerque seja a perspectiva adotada a dos programasou a da programao , pode-se considerar que aTV, independente de suas formas e contedos,estrutura-se como segmentos dentro de segmentos(e esse seu esqueleto, do ponto de vistaorganizativo).
Concebidos, assim, como elementosestruturais da prpria recepo televisiva, ossegmentos no se distinguem mais por formas e/ou contedos, mas exigem ser pensados comounidades de mediao do prprio processocomunicativo. Entendidos desse modo, os formatosrelacionados acima permitiriam, ento, oreconhecimento de certas esferas de inteno einterpretao subjacentes a sucessivos segmentosda programao (quer se considere como segmentouma parte de um programa, um programa, umconjunto de programas de um mesmo ou de vrioscanais). Deduz-se da que, frente a cada segmentoda programao, , necessariamente, estabelecidauma espcie de pacto entre produtores e receptoresque possuem, antes de mais nada, uma naturezacomunicativa: um pacto que diz respeito aosprprios modos de organizao do atocomunicativo (interpelativo ou no, interativo ouno, em tempo real ou no). A natureza do atocomunicativo pressuposto em cada um dosformatos apontados acima permite que se relacionea cada um deles um determinado comportamentoespectatorial (do mais participativo ao mais
contemplativo). Esse comportamento espectatorialest, por sua vez, implicado diretamente naconstituio da competncia textual do espectador,isto , nas condies a partir das quais eledesempenha sua funo interpretativa frente ao quev (funo que envolve, naturalmente, oreconhecimento da natureza do que v). O quepermite, em suma, tratar de tais formatos, a partirdo campo conceitual dos gneros, justamente oseu papel na organizao da prpria competnciacomunicativa dos produtores e dos espectadoresde TV e, conseqentemente, da definio de todauma estratgia de comunicabilidade intrnseca aosprogramas e programao.
NOTAS
1 Cf. A. Tolson, Mediations. Text and discourse inMedia Studies (Chapter 4: Genre), Arnoldo,London/New York, 1996, p. 91-93.
2 Cf. Pode-se falar em gneros televisuais?, inRevista Famecos, No.10, Junho 1999, Porto Ale-gre, PUCRS/FAMECOS, p. 142-143.
3 Cf. A. Machado, Op. cit.4 A. Machado, Op. cit., p. 1435 Cf. J. Martn-Barbero, De los medios a las
mediaciones: comunicacin, cultura y hegemona, Bar-celona, Gustavo Gili, 3a. ed., 1993, p. 238-242.
6 Idias baseadas na discusso sobre o telejornalcomo gnero, proposta por Gianfranco Marroneno seu livro Estetica del telegiornale, Roma,Meltemi, 1998.
7 Cf. M. Bakhtin, Os gneros do discurso, inEsttica da criao verbal, Trad. Maria ErmantinaGalvo G. Pereira, Martins Fontes, So Paulo,1997, p. 301, 302, 304.
8 M. Bakhtin, Peculiaridades do gnero, do en-redo e da composio das obras deDostoivski, in Problemas da potica deDostoivski, Trad. Paulo Bezerra, 2a. ed., Rio deJaneiro, Forense Universitria, 1997, p. 106.
9 A. Machado, Op. cit., p. 143-144.
-
Universidade Catlica de Pernambuco - 26
Cincias, Humanidades e Letras
10 Os gneros secundrios, segundo Bakhtin, apa-recem em circunstncias de uma comunicaocultural, mais complexa e mais evoluda, prin-cipalmente escrita: artstica, cientfica,sociopoltica. Para ele, o romance, o teatro e odiscurso cientfico, entre outros, so exemplosbem acabados de gneros de discurso secund-rio. O que Bakhtin entende por gneros prim-rios so, ao contrrio, aqueles que se constitu-ram em circunstncias de uma comunicaoverbal espontnea; esto identificados, portan-to, com os diversos tipos de enunciado do dis-curso cotidiano (as rplicas de dilogo, docu-mentos, dirios ntimos e as cartas, por exem-plo). Cf. Os gneros do discurso, in Op. cit.,p. 281.
11 A. Machado, Op. cit. , p. 144.12 Poderamos pensar, por exemplo, em formas
como a entrevista (rearticulvel nos mais dife-rentes formatos) como sendo uma dessas for-mas primrias de articulao das mensagens nasmdias.
13 A proposio desse formato diretamente ins-pirada na descrio das formas fundadas nodilogo socrtico feita por Arlindo Macha-do, no j mencionado artigo Pode-se falar emgneros televisuais?. No artigo, alm dasformas fundadas no dilogo socrtico (elereconstitui ali toda a descrio que faz o pr-prio Bakhtin das vrias formas assumidaspelos dilogos socrticos), Machado apresen-ta as narrativas seriadas como sendo outrodos gneros televisuais. Alegando que o tra-balho de descrio dos gneros televisuaisainda est em curso, Machado limita-se, noartigo, a propor essas duas formas. Neste tra-balho, no me disponho a fazer descries toprofundas e detalhadas quanto as realizadaspor Arlindo Machado. Fiz a opo de propor,ainda que superficialmente, um leque maisamplo de formatos.
14 Expresso utilizada por Dayan e Katz para de-signar as transmisses diretas, histricas emonopolistas de grandes eventos, como o ca-samento do Prncipe Charles ou a chegada do
homem lua (Cf. D. Dayan & E. Katz, A hist-ria em directo. Os acontecimentos mediticos na televi-so, Trad. ngela e Jos Carlos Bernardes,Coimbra, Minerva, 1999).
15 Cf. U. Eco, Can television teach?, in The ScreenEducation Reader Cinema, Television, Culture, M.Alvarado , E. Buscombe e R. Collins (eds.),London, Macmillan, 1993, p. 100.
16 O programa reconstitui toda a coberturajornalstica do assassinato da cantora Selenapela lder do seu f-clube, Yolanda Saldvar. Oprograma faz isso atravs da encenao do jul-gamento de Yolanda Saldvar. Essa encenaoremete, insistentemente, a outras encenaes,em preto e branco, que funcionam como as tra-dicionais reconstituies com atores, emprega-das pelos telejornais, na cobertura de um casopolicial de grande repercusso. Um zapper maisdesatento, que parasse para ver apenas em umdos blocos do programa, pensaria estar diantede um desses inmeros telefilmeshollywoodianos. Seria necessrio acompanhartodo o programa para que o espectador, atravsda insero, no ltimo bloco, de fotos e de de-poimentos dos reais protagonistas da histria (opromotor, os fs e familiares de Selena), perce-besse que se tratava de uma narrativa dramatiza-da, embora fundada em fatos jornalsticos (casoverdico).
17 Cf. R. Williams, Television. Technology and culturalform (1974), University Press of New England,Hanover/London, 5a. ed., 1992, p. 80-89.
18 Cf. J. Corner, Gneros televisivos y anlisis dela recepcin, in En busca del publico, D. Dayan(ed.), Trad. Mara Negroni, Gedisa Editorial,Barcelona, 1997, p. 137.
19 Foi essa a razo pela qual preferi no relacionaros cinco formatos comunicativos propostos aprogramas. at possvel identificar a predo-minncia de alguns desses formatos comunica-tivos em determinados programas, mas prefe-rvel pens-los desprendidos de programas e re-lacionados a seqncias da programao (este-jam elas ou no no interior dos programas).