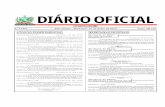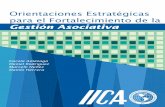3696-11324-1-PB
-
Upload
elis-regina-castro-lopes -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of 3696-11324-1-PB
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
1/9
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao e a pesquisa-interveno institucionalista.
44
O CONCEITO DE IMPLICAO E A PESQUISA-INTERVENOINSTITUCIONALISTA
EL CONCEPTO DE IMPLICACIN Y LA INVESTIGACIN-INTERVENCININSTITUCIONALISTA
THE CONCEPT OF IMPLICATION AND THE INSTITUTIONALIST
INTERVENTION- RESEARCHRoberta Carvalho Romagnoli
Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, Brasil
RESUMO
Para analisar a implicao na pesquisa-interveno institucionalista, aprofundo o conceito na Anlise Institucionalde Ren Lourau e na Esquizoanlise de Gilles Deleuze e Flix Guattari, buscando disjunes e interfaces entreeles. Essas vertentes visam ao questionamento das relaes de poder e ao incremento da produo coletiva, maspartem de pressupostos distintos acerca da instituio e da interveno. Se, por um lado, a Anlise Institucional,embasada conceitualmente na dialtica hegeliana, utiliza dispositivos analisadores para fazer surgir o instituinte,por outro lado, a Esquizoanlise fundamenta-se na imanncia para liberar a inveno, por meio de prticassingulares, favorecendo a micropoltica. Nesse contexto, a implicao um conceito intercessor, que instaurauma desestabilizao dessas vertentes cujos efeitos tentam recuperar o coletivo e a singularidade das redes derelaes construdas, seja a partir das contradies entre institudo e instituinte, seja a partir dos agenciamentose da exterioridade.
Palavras-chave: metodologia de pesquisa; pesquisa-interveno; implicao; institucionalismo.
RESUMEN
Para analizar la implicacin en la investigacin intervencin institucionalista, profundizo el concepto enel Anlisis Institucional de Ren Lourau y en el Esquizoanlisis de Gilles Deleuze y Flix Guattari, buscando
disyunciones e interfaces. Esas vertientes estn destinadas al cuestionamiento de las relaciones de poder y alincremento de la produccin colectiva, pero parten de presupuestos distintos acerca de la institucin y de laintervencin. Si por un lado el Anlisis Institucional, est basado conceptualmente en la dialctica hegeliana,utiliza dispositivos analizadores para hacer surgir el instituyente, por otro lado el Esquizoanlisis se fundamentaen la inmanencia para libertar la invencin, a travs de prcticas singulares, favoreciendo la micro-poltica. Enese contexto, la implicacin es un concepto intercesor, que instaura una desestabilizacin de esas vertientescuyos efectos intentan recuperar el colectivo y la singularidad de las redes de relaciones construidas, ya sea apartir de las contradicciones entre instituido e instituyente, o ya sea a partir de las agencias y de la exterioridad.
Palabras clave: metodologa de investigacin; investigacin-intervencin; implicacin; institucionalismo.
ABSTRACT
This paper analyses the concept of implication in the institutionalist intervention-research. In order to do so,it deepens this concept under Rene Lourau theory of Institutional Analysis and that of Gilles Deleuze andFelix Gattari of Schizoanalysis, searching for disjunctions and interfaces between them. These approaches areaimed at questioning the power relations and the development of collective production, but start from differentassumptions over institution and intervention. If, on one hand, Institutional Analysis, conceptually based on theHegelian dialectic, uses analyzers devices to bring up the instituent, on the other hand, Schizoanalysis is basedon the immanence to release the invention through unique practices, fostering micropolitics. Implication is anintercessor concept that introduces a destabilization of those approaches whose effects attempt to recover thecollectiveness and the uniqueness of the built relationships networks, either from the contradictions between theinstituted and the instituentor from agencements and exteriority.
Keywords: research methodology; intervention research; implication; institutionalism.
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
2/9
Psicologia & Sociedade, 26(1), 44-52.
45
A proposta institucionalista: conhecimento etransformao/inveno
O institucionalismo um movimento pluralque aglomera diversos saberes e prticas sem se
restringir a uma escola. Existem, sim, vrias correntesinstitucionalistas com anidades e diferenas tericas,metodolgicas e polticas. Baremblitt (1992) asclassica em: (a) Sociopsicanlise, de Gerard Mendel,que faz uma juno da psicanlise com o materialismodialtico, e se prope a trabalhar as regressesinstitucionais do poltico para o psquico buscando umacura coletiva que permitiria a cada classe a retomadado seu poder institucional; (b) Anlise Institucional, deRen Lourau e Georges Lapassade, tambm chamadade Socioanlise que, a partir da dialtica de Hegel,focaliza seu trabalho nos dispositivos analisadores
para fazer surgir o instituinte; e (c) Esquizoanlise, deGilles Deleuze e Flix Guattari, que vai buscar liberaro processo produtivo-desejante-revolucionrio, pormeio de prticas singulares, congurando o que osautores chamam de micropoltica.
Dentre essas correntes, as mais usuais em nossopas so a Anlise Institucional e a Esquizoanlise. Aoapresentar Ren Lourau e sua obra, em confernciano evento realizado na UERJ - O legado de RenLourau - em maio de 2001, Hess (2004) faz a seguintedistino: a Anlise Institucional refere-se teoria que
este autor desenvolveu ao lado de Georges Lapassade,enquanto a Socioanlise refere-se ao mtodo daAnlise Institucional em situaes de interveno.Neste texto utilizo o termo Anlise Institucional,embora minha proposta se rera tambm a situaes deinterveno. Por sua vez, as ideias de Gilles Deleuze eFlix Guattari tambm recebem vrios nomes, dentreeles, Filosoa da Diferena, Pragmtica Universal,Paradigma Esttico, Paradigma tico-Esttico, e nosomente Esquizoanlise. Optei por usar este ltimotermo neste texto no s porque os autores no tinhampreocupao com a reproduo de nomes e conceitos,
mas por ser o termo utilizado por Baremblitt (1992),um dos introdutores dessas ideias em nosso pas.
Dada a grande vastido territorial deste Pase suas fortes diferenas, esse movimento possuihistrias e prticas singulares que variam de acordocom as regies. Rodrigues (2005) ressalta que, almdessas diversidades regionais, o Institucionalismono Brasil se apresenta como um paradigma sempassado, pois apesar dessa perspectiva ter produzido- e produza - uma srie de estudos e prticas, raraa meno proposta institucionalista em estudos e
publicaes brasileiras.
De acordo com Baremblitt (1992), para osinstitucionalistas, a instituio a pedra angular dasociedade, que ocupa tanto o lugar de manuteno doj existente quanto o de sua prpria transformao.Aberta s leituras transversais e enfatizando aproblematizao coletiva, com vistas no somente a
produzir conhecimento, mas tambm a sustentar aesinstitucionais que visem a mudanas efetivas, essaperspectiva em si transdisciplinar. Benevides de Barrose Passos (2000) pontuam que a transdisciplinaridadetem como proposta epistemolgica abarcar acomplexidade e a processualidade, desestabilizandoas divises entre as especialidades, analisando esubvertendo as relaes de poder, e convocandoa produo de outra realidade. Ou seja, o desaoinstitucionalista concentra-se em desmontar asdicotomias sujeito-objeto, teoria-prtica, opondo-sea fronteiras rgidas na denio das disciplinas, deseus mtodos e objetos de pesquisa. Nesse contexto,abordar a instituio tambm abrir-se para a suamultideterminao, que se expressa em questesmacropolticas e micropolticas, contextos histricos,inseres sociais, atravessamentos econmicos, dentreoutros. Com certeza, toda essa problemtica nospercorre, fala atravs de ns produzindo efeitos emnosso cotidiano.
Para rastrear essas foras e seus efeitos, oinstitucionalismo tem como modalidade de produocientca a pesquisa-interveno, estudo que, grosso
modo, realizado em conjunto com a populaopesquisada, visando modicao processual doobjeto de pesquisa, por meio de intervenes no diaa dia dos estabelecimentos. No momento em que cadavez mais a cincia pretende lidar com a complexidade,como salienta Santos (2002), a pesquisa, nesseenquadramento, se apresenta indissociada de umainterveno comprometida a dar uma contribuioefetiva para a construo de uma sociedade maisdigna, burlando os moldes iluministas que perseguema neutralidade, a objetividade e a verdade embasadaem uma postura apoltica e racional. Vale lembrar que
diante dos desaos que a Psicologia - campo em queatuo - vive na atualidade - tais como a ampliao doscampos de trabalho, a atuao nas polticas pblicas, aprtica associada promoo de sade e preveno,entre outros - torna-se necessria a produo deconhecimentos acerca de situaes cotidianas queso, em si, complexas e determinadas por umaheterogeneidade de fatores e de relaes. Essa mesmanecessidade emerge de outras disciplinas e campos deconhecimento.
Nessa perspectiva, os institucionalistas
pretendem que a cincia contribua no s com o espao
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
3/9
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao e a pesquisa-interveno institucionalista.
46
acadmico, mas principalmente com as demandassociais e com as prticas reais que se efetuam e a tmcomo sustentao. Nesta conjuntura, um rduo esforotem sido travado para elevar as pesquisas participativasao status cientco e para quebrar a hegemoniadas pesquisas tradicionais vigentes, como examina
Romagnoli (2009). Entre as pesquisas participativassitua-se a pesquisa-interveno, de orientaoinstitucionalista, na tentativa de defender a no-separao sujeito/objeto e que leva em consideraoa implicao do pesquisador, a complexidade e aindissociabilidade da produo de conhecimentoda atuao/interveno. Analisando e atuando nasinstituies, esses pesquisadores tm em comum aperseguio da complexidade, a postura crtica, ocombate ao reducionismo, a busca da desnaturalizaoe, sobretudo, uma grande preocupao com atransformao dos campos em que esto inseridos.
Como nos lembra Monceau (2010), tentartransformar uma instituio faz-lo de dentro dela,analisando os atos cotidianos, seus dispositivos erelaes. Para conhecer/intervir em uma instituio preciso trabalhar a partir do que nos liga a ela, ouseja, nossa implicao, conceito que confrontaabertamente as propostas apolticas e racionais quesustentam o paradigma moderno, destacadas por Veiga-Neto (2002). Coimbra (1995), ao analisar a insero doscursos de Psicologia nos anos 1970 no Brasil, pontuaque eles tinham tambm como funo neutralizar
questes polticas e sociais, uma vez que se centravamno indivduo e em suas questes subjetivas, interiorese familiares - questes que continham respostas paratodos os mal-estares do sujeito. Com essa forte heranaentranhada em sua formao e prtica, as pesquisasem Psicologia almejam a neutralidade e a explicitaode verdades acerca do seu objeto de estudo, aindaque operem, de fato, recortes sobre essa realidade, ereducionismos resguardados por correntes tericas epor metodologias rigorosas. Na tentativa de operar nacontramo dessa tendncia, que ainda majoritria nocenrio acadmico, emerge o pesquisador implicado.Implicao da qual no podemos escapar, desao cujaanlise circunstancial e provisria, e anlise que sesustenta num paradigma tico-poltico para o qual noh neutralidade e nem possvel fazer uma pesquisade fora. Ou seja, nesta abordagem, o pesquisadorocupa um lugar privilegiado para analisar as relaesde poder, inclusive as que o perpassam.
Todavia, observamos que ainda h certaconfuso com o conceito de implicao em territriobrasileiro. Nesse sentido, preciso ressaltar que naFrana, pas de origem das correntes em questo, o
institucionalismo e a pesquisa-interveno tm outra
forma de insero: desenvolveram-se em estreitaassociao com o campo da Sociologia, enquantoque em nosso pas o institucionalismo basicamentecomposto por psiclogos, como ressalta Alto (2004).No meu entender, essa diferena traz reexos nacompreenso do conceito de implicao que, no
raro, possui um risco de psicologizao, bem como deamlgama com o senso comum. Por esse vis, o conceitopode ser confundido com engajamento, investimento,distanciando-se da sua proposta cientca. Na intenode analisar esse conceito, apresento a seguir seusenfoques na Socioanlise e na Esquizoanlise.
Socioanalistas e esquizoanalistas: pesquisadoresimplicados
Ao analisar a histria do movimento
institucionalista no Brasil, em um estudo histrico-genealgico, Rodrigues (1999) localiza suaimplantao por argentinos, nos ltimos anos dadcada de 1970. O institucionalismo foi introduzidode forma sistemtica no Rio de Janeiro e em outrascidades do Sudeste, e teve como rea inicial de atuaoa sade mental, defendendo uma prtica grupalista,com articulao interdisciplinar e associada a setorespopulares. J na dcada de 1980, a partir de trabalhostericos e de interveno, rmam-se as abordagensdestacadas neste texto. Cabe assinalar que essemovimento teve e ainda tem uma insero heterogneano campo psibrasileiro, fazendo-se presente no sna sade mental, mas tambm na sade, na educao,na assistncia social, entre outras reas.
Seja qual for o campo de insero, certo quea implicao sustenta a proposta institucionalistade pesquisa-interveno, sendo que alguns autoresreconhecem sua emergncia no seio da AnliseInstitucional, mas tambm a associam com acartograa, proposta de pesquisa-interveno daEsquizoanlise (Kastrup, 2008; Paulon, 2005; Rocha& Aguiar, 2003). De acordo com Kastrup (2008), essa
associao feita pela noo de implicao propostapor Ren Lourau na Anlise Institucional. Nas palavrasda autora, o que o conceito de implicao traz demais importante apontar que no h polos estveissujeito-objeto, mas que a pesquisa se faz num espaodo meio, desestabilizando tais polos e respondendo porsua transformao (Kastrup, 2008, p. 466). Concordoque possvel fazer essa associao, mas gostariade ressaltar a diferena de meios. Se para Lourau(2004b), a partir de um raciocnio dialtico, o meioe a transformao emergem na realidade estudadaatravs dos conitos denunciados pelos analisadores,
para Deleuze e Guattari (1995), a realidade abordada
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
4/9
Psicologia & Sociedade, 26(1), 44-52.
47
por imanncia e exterioridade, e o meio emergecomo a dimenso que sustenta os devires, que vaiproduzir agenciamentos fazendo eclodir o novo.
Lourau (1975) examina as relaes sociais e osprocessos institucionais enfatizando a articulao entre
o institudo e o instituinte, campo de foras analisadono somente no plano conceitual, nos trs momentosda dialtica hegeliana - a saber, universalidade,particularidade e singularidade - mas tambmassociado dinmica do cotidiano. A abordagem docotidiano insere esses momentos em um registro ativo,e torna possvel a seguinte correlao: ao momentoda universalidade corresponde a supremacia do polodo institudo, enquanto forma abstrata institudae verdadeira; ao momento da particularidadecorresponde a base social do conceito, transguradaem forma social concreta, produzindo condies para
a atuao do instituinte; e, nalmente, ao momentoda singularidade corresponde a institucionalizaopropriamente dita, cujo produto, localizado em umsubstrato fsico, possui uma organizao funcionalconcreta. Ou seja, a instituio se encontra emalgum lugar entre o revolucionrio do instituintee oconservador do institudo; contra as foras instituintese sua rebeldia, a institucionalizao busca formas maisestveis, rgidas e duradouras; e contra o institudo esua imutabilidade busca mudanas inovadoras nasformas at ento utilizadas. Deve car claro queesta separao apenas didtica, uma vez que, para
o referido autor, a instituio um moto-contnuo,processo sustentado por essas foras dialticas.
Os elementos da realidade social que manifestamcom maior veemncia as contradies das instituies edo sistema social so denominados analisadores, termocriado inicialmente por Flix Guattari na PsicoterapiaInstitucional, embora tenha sido incorporado e bastanteusado na Anlise Institucional. Por conseguinte, osanalisadores podem ser entendidos como efeitos oufenmenos que emergem como resultado de um campode foras contraditrio e incoerente, porta-vozes dos
conitos em assdua oposio ao harmnico e aoesttico acalentados pela instituio. Os analisadoresirrompem nas organizaes de forma a mostrar queelas no apenas reproduzem o que j estava previsto,mas tambm produzem o impensado, o conitivo,revelando a ao do instituinte, possibilitada peloaorar do negativo no integrado no equilbrioinstitucional.
Para Lourau (2004b), preciso interrogar sempreacerca dos institudos cristalizados nos campos deinvestigao/interveno, pois no h possibilidade dese efetuar uma anlise neutra e apoltica de qualquerinstituio. Nesse sentido, o autor defende a importncia
da implicao, que rompe com a cincia institudafundamentada no paradigma moderno. necessriofrisar que a implicao no diz respeito noo decomprometimento, motivao ou relao pessoalcom o campo de pesquisa/interveno; ao contrrio,explorar a implicao falar das instituies que nos
atravessam. Atravessamento que, segundo Lourau(1990), vai muito alm da nossa percepo subjetiva,da nossa histria individual e dos julgamentos de valordestinados a medir a participao e o engajamentoem determinada situao. A implicao denuncia queaquilo que a instituio deagra em ns sempreefeito de uma produo coletiva, de valores, interesses,expectativas, desejos, crenas que esto imbricadosnessa relao. Assim, a anlise da implicao quepermite acessar a instituio, produzir conhecimento apartir de suas contradies: Para agir nas instituies preciso trabalhar a partir do que nos une a elas, nossasimplicaes (Monceau, 2010, p. 14, traduo nossa.).
Ao estudar o conceito de implicao na obra deRen Lourau at chegar a esse signicado atual, Guilliere Samson (1997) o fazem examinando seu percursohistrico em trs momentos: o ideolgico-moralista;o subjetivista-voluntarista; e o tecnicista. O momentoideolgico-moralista corresponde aos anos 1960-70,em que se desejava abrandar a ciso entre a academiae as prticas sociais, bastante evidente na poca. Nesseperodo a implicao era teorizada como extensodo conceito de contratransferncia institucional,
procedente da Psicoterapia Institucional. A PsicoterapiaInstitucional foi um movimento que ocorreu depois daSegunda Guerra Mundial, na Frana, e inuencioufortemente a Anlise Institucional, propondo outramaneira de tratar a doena mental e repensandoo estabelecimento psiquitrico com o intuito derecuperar as condies dos doentes mentais. Iniciou-se na dcada de 1940, em Saint Alban, com FranoisTosquelles, e continuou na regio de Paris, j na dcadade 1950, na clnica La Borde, com Jean Oury e FlixGuattari armando que a prpria instituio produziaa doena mental, com suas relaes e hierarquias entre
trabalhadores e usurios. Na poca, os conceitos detransferncia e contratransferncia institucional erammuito usados. Baseados na psicanlise e na leiturado inconsciente, esses mecanismos se ampliam paraalm da problemtica subjetiva e familiar, e abarcamquestes sociais, histricas e culturais. Partilhandodessa leitura, Ren Lourau, nesse perodo, aindaassociado com Georges Lapassade, defendia quetoda prtica social e de pesquisa constituda deum conjunto de inseres institucionais passadas epresentes que se atualizam nas circunstncias emque so exercidas. Nesse momento, a implicaocorresponde contratransferncia institucional. Para
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
5/9
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao e a pesquisa-interveno institucionalista.
48
analisar a implicao era preciso trazer tona o no-dito e restituir os elementos ali reunidos.
O momento subjetivista-voluntarista ocorreunos anos 1980, no governo de Franois Mitterrand,quando a esquerda na Frana passa de uma insero
de contestao para uma insero de gesto. precisosalientar que o mundo acadmico viveu, nesseperodo, uma grande nfase na subjetividade, nosaspectos subjetivos, com forte presena da sociologiacompreensiva, da fenomenologia e da prpriapsicanlise que inuenciaram sobremaneira as CinciasHumanas. Esse momento histrico, segundo Guilliere Samson (1997), correspondeu renncia completada objetividade e da neutralidade, e focalizao naconscincia e nas questes subjetivas como dimensespresentes na pesquisa, entendida como prticasocial. Dessa maneira, o sujeito, portador de uma
conscincia, tanto implicado com o prprio ato deescolha, exercendo dessa maneira sua liberdade comresponsabilidade, quanto faz parte de uma construocoletiva permanente da sociedade, dimenses que,sem dvida, afetam a produo de conhecimento. Asmaneiras de agir e de dar sentido s suas escolhas soas maneiras do sujeito se implicar, de se engajar, sendoque a implicao ainda era frequentemente relacionadacom engajamento, havendo uma polissemia no usodesse termo. Essa poca foi o momento em que RenLourau e seus discpulos passaram a fazer parte, defato, da academia e a maior parte da produo dessavertente foi no formato de teses e artigos cientcos.
O distanciamento da produo coletiva e oexagero do uso do termo implicao conduziramao momento tecnicista, em que h uma insistnciana dialtica do campo implicacional, com a criaotambm do conceito de sobreimplicao, denidopor Lourau (1990) como a recusa em analisar asimplicaes a partir de um grande envolvimento com otrabalho, da necessidade de se implicar, comum aosintelectuais, principalmente em decorrncia da dcadaanterior. A sobreimplicao, outro polo da implicao,
diz respeito ao movimento intencional pelo qual nosengajamos em uma instituio. A sobreimplicaoimpede que a implicao seja analisada, anestesiandoos efeitos dinmicos e processuais de nossaspertenas ideolgicas, libidinais e institucionais nassituaes das quais participamos. Ou seja, burlandoa prpria implicao. Nesse momento, o paradigmada implicao j havia confrontado, com xito, oscritrios de cienticidade institudos - a objetividade,a universalidade e a ciso entre pesquisador epesquisado - tornando-se indispensvel a toda vertenteque reconhece os fenmenos sociais como complexos,como destacam Guillier e Samson (1997).
Como vimos acima, cabe ressaltar que aimplicao , para a Anlise Institucional, um campoconceitual em que as fronteiras no so xas e nemrgidas. Esses limites so remanejados com frequnciapela sua gnese terica, que remete ao mbitoconceitual e losco, e tambm pela sua gnese social
associada aos movimentos e fatos sociais concretos,numa composio dialtica que imprime um carterprocessual e histrico inegvel e que instaura conexese arranjos sempre provisrios.
Por outro lado, a Esquizoanlise, escrita a quatromos por Gilles Deleuze e Flix Guattari, tem nesteltimo - integrante da segunda gerao da PsicoterapiaInstitucional e fundador da clnica La Borde - suaarticulao com o movimento institucionalista.Psicanalista de formao e militante poltico, Guattariinsiste na dimenso analtica das prticas institucionais,
tendo inclusive cunhado o termo Anlise Institucional,retomado com signicado prprio por Ren Lourau.Seu encontro com Gilles Deleuze lhe permitiu tambmteorizar e reetir acerca do seu percurso de prticasteraputicas e militantes. Sauvagnargues (2008) armaque Guattari fez uso de sua vida e de sua produolosca com o intuito de substituir a concepoclssica de sujeito, entendido como universal ea-histrico, pelos modos de subjetivao coletivos,dinmicos e sempre polticos.
Essa leitura arremessa a subjetividade nadimenso da produo, insistindo na multiplicidadede componentes de subjetivao, que no passamnecessariamente pelo indivduo. Esses componentesso integrados por uxos transversais que se agenciamrizomaticamente a outros uxos. A subjetividade,entendida como registro humano e no-humano, seapresenta indissocivel das dimenses histricase sociais. O sujeito funciona pelos uxos que oatravessam e dos quais ele tambm resultado. Essacompreenso do subjetivo se ope s epistemologiasracionais e centradas, apostando no que se estabeleceentre essas dimenses. Nesse percurso, o
agenciamento essencial, pois retira a subjetividadeda interioridade e da xidez, e a arremessa no coletivoe na processualidade associando planos distintos.
Deleuze e Guattari (1996) abordam a realidadee as instituies por meio de planos simultneos deformas e foras. Com a nalidade de libertar-se deuma forma transcendente de pensar, esses planos,que possuem a mesma matria, os uxos, pormno o mesmo regime de funcionamento, coexistemsem determinao e hierarquia. O plano das formasou dos modelos, tambm chamado de plano deorganizao, funciona de maneira dicotmica edissociativa, ordenando os uxos em segmentos e
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
6/9
Psicologia & Sociedade, 26(1), 44-52.
49
estratos homogneos, designando o que est institudosocialmente de forma molar. Por outro lado, o planodas foras ou da inveno, tambm chamado deplano de consistncia, sustenta a heterogeneidade eas conexes entre os uxos, sendo composto pelasforas moleculares e invisveis que atravessam o
campo social. nesse plano que se do os encontros eos agenciamentos que vo gerar novos sentidos, novasformas de expresso e promover a resistncia ao quetende a se reproduzir no plano dos modelos. Valelembrar que a distino de regime se d na forma defuncionamento dos uxos: segmentar, estraticada,no plano de organizao; e uida, conectiva, no planode consistncia.
A imanncia est presente em todas as realidades,em qualquer campo de pesquisa, integrando nos as instituies, mas todo e qualquer processo,
toda e qualquer relao do indivduo com os grupose a sociedade, estabelecendo relaes incessantesentre modelos, formas e foras. Esses planos sosimultneos e, em determinada situao, pode havero predomnio de um sobre o outro, mas jamais asua excluso. Entre um plano e outro h interfaces,combinaes de dupla articulao: de um lado, oestrato coeso e momentaneamente estanque, mas, poroutro lado, ele mesmo composto por uxos que podemefetuar agenciamentos, e tornarem singularidades,ou no, dependendo das foras que o desestabilizem.Nesse sentido, indispensvel cartografar a ligao
entre os planos, entre a persistncia dos modelose a emergncia da inveno, ponto nodal para opesquisador comprometido com o processo deproduo de conhecimento. Indagar e estar atento acomo se d a reproduo e a criao em determinadarealidade, acerca do arranjo das formas e das forasem seu objeto de pesquisa, e em que circunstnciase com quais cortes e conexes elas acontecem, soferramentas teis e fundamentais na cartograa,proposta metodolgica da Esquizoanlise.
Na justaposio dos planos, no entre, irrompe
o agenciamento, produzindo alianas e passagens entreos modelos institudos e as invenes instituintes,estratos e conexes, bloqueios e uxos. O agenciamentose engendra nas variaes desse continuum de relaese possui duas faces: a face maqunica, do desejo;e a face coletiva, da enunciao. Cada uma delasvoltada ora para as formas, ora para as foras, orapara os modelos institudos, ora para as invenesinstituintes, dependendo das composies que osuxos estabelecem ou no nas situaes pesquisadas.O encontro do pesquisador com o campo coloca emjogo essa pluralidade de fragmentos, de disjunes,
de conexes transversais, captadas por meio de sua
implicao que, por sua vez, liga o pesquisador aosplanos e aos agenciamentos.
Detentor de um carter produtivo e maqunico,o agenciamento propicia o aoramento do desejo, emuma proliferao ininterrupta de positividade. Cabe
salientar que o desejo, para a Esquizoanlise, no pensado a partir da leitura dominante na rea psibrasileira, a da Psicanlise, sobretudo a estruturalista,em que enquadrado no mbito domstico apartir de formas codicadas do tringulo familiar,correspondendo falta insistente. sim pensado comodesejo produtivo e no-restitutivo, possuindo comopropriedade primordial a capacidade de conexo.Criticando os reducionismos da subjetividaderealizados pela Psicanlise, e analisando os processosde controle instaurados pelo capitalismo, Deleuzee Guattari (s.d.) projetam o desejo no campo social,
armando sua vocao libertria e sua capacidadede efetuar atos revolucionrios. Formado poruxos, por pacotes energticos, o desejo regidono pela lgica representativa, mas pela lgica dasintensidades, das sensaes, sendo maqunico seufuncionamento. Assim, nessa perspectiva, um dosgrandes desaos para o pesquisador estabelecer esustentar um agenciamento maqunico e produtivocom o campo de pesquisa, ou seja, dar consistnciaa um agenciamento, o que signica dar passagem aodesejo, ao maqunico, permitindo que novas conexesse faam, transformando e sendo transformado pelo
seu objeto de estudo.Para alcanar esses deslocamentos, a pesquisa-
interveno - tambm chamada cartograa nessaabordagem - se sustenta na inveno e na implicaodo pesquisador, baseando-se no pressuposto de que oconhecimento processual e inseparvel do prpriomovimento da vida e dos afetos que a acompanham,como nos lembra Rolnik (1989). A inveno ocorrequando h a irrupo do plano das foras que seconectam nos encontros entre o pesquisador e seuobjeto de estudo, nos agenciamentos efetuados quese rmam na tessitura do cotidiano da pesquisa. Aimplicao do pesquisador, por sua vez, um dosmais valiosos dispositivos de trabalho no campo, pois a partir de sua subjetividade que uxos irrompem,agenciamentos ganham expresso, sentidos so dados,e algo produzido. De fato, a implicao diz respeitoao prprio movimento da pesquisa que, nessa vertente,seria ligar-se com o fora das situaes, agenciar.
O agenciamento corresponde a um entrecoletivo, que convida os institudos a se expressaremde outra forma, sem ser a congurao dominante,provocando a convergncia da heterogeneidade, das
diferenas. Esse dispositivo trabalha todos os uxos
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
7/9
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao e a pesquisa-interveno institucionalista.
50
semiticos, materiais e sociais, caracterizando-se porum devir e substituindo o sistema de representao e deideologias, presentes nos modelos institudos, por umareunio de singularidades, de foras associadas por ummovimento coletivo, conectivo. O agenciamento, namedida em que corresponde a uma zona de circulao
do desejo, possibilita o agenciar com outras foras,uma vez que todos ns somos feitos tambm deforas, e no somente de formas, modelos, gerandonovas formas de expresso; agenciamento coletivo daenunciao que sustenta os uxos da vida em zonascoletivas, annimas e potentes, para fazer-se devirdriblando as formas.
As relaes estabelecidas nas situaes depesquisa denunciam a exterioridade de foras queincidem sobre o pesquisador e a realidade que ele seprope a estudar, e atuam como um rizoma, de maneira
transversal, ligando processualmente a subjetividadea situaes, ao coletivo, ao heterogneo, por meiodos agenciamentos. Nessa perspectiva, a implicaopermite captar o aspecto trans dos planos quecompem o objeto de estudo, mediante o rastreamentodos efeitos que provoca no campo e das (des)estabilizaes que o campo produz no pesquisador, poisO ser antes de tudo autoconsistncia, autoarmao,existncia para si desenvolvendo relaes particularesde alteridade (Guattari, 1992, p. 139). Como elepossui uma subjetividade tambm complexa eheterognea, composta no s pela sua interioridade,mas principalmente pelas relaes que estabelece, possvel afetar e ser afetado, captar as diferenas e ashomogeneizaes atravs dos encontros com o campo,atravs da alteridade.
exatamente a sustentao desse plano de forase da alteridade que possibilita que o pesquisadorproduza conhecimento. Sustentar esses planossignica elucidar, nas circunstncias singularese provisrias de cada pesquisa, as composies eseus funcionamentos, que podem atuar a favor dareproduo, da antiproduo e/ou operar a favor
de agenciamentos produtivos que promovem ainveno de novos estados. o mapeamento destacomplexidade que permite ao pesquisador desarticularas prticas e os discursos institudos e as relaesdespotencializadoras que impedem a produo. entre a estabilizao e a caotizaoque o pensamentose exerce, que as realidades so produzidas, que atransversalidade se engendra burlando os modelos,sempre hierrquicos e classicatrios, que pressupemobedincia e reproduo. Dessa forma, a cartograa sempre uma pesquisa-interveno, pois impossvel,no encontro com o objeto de estudo, no haver zonasde interferncias e de indeterminaes, que podem, ou
no, levar a desestabilizaes. Produzir conhecimento desestabilizar, e isso intervir. Nesse sentido,pesquisar transformar, inventar, sempre.
Consideraes fnais
necessrio ressaltar que, em ambas as vertentesapresentadas neste artigo, a implicao um dispositivode produo de conhecimento e de transformao. Paraa Anlise Institucional, conforme Lourau (2004a), aimplicao instaura uma dimenso de atravessamentose transformaes nas formas subjetivas e objetivas,com a certeza de que o observador j est implicado nocampo de observao, de que sua interveno modicao objeto de estudo, transforma-o (Lourau, 2004b, p.82). Assim, o importante, para o pesquisador, o quelhe dado a perceber/intervir por suas relaes sociais
e coletivas, na rede institucional. Em contrapartida,para a Esquizoanlise, a implicao tenta captar adessubjetivao, a exterioridade das foras queatuam na realidade, enfatizando as conexes, osagenciamentos, como composies revolucionriaspara, micropoliticamente, colocar em anlise osefeitos das prticas no cotidiano institucional. Nessesentido, a interveno uma ao de intervir oude produzir interferncia, e o cartgrafo funciona acom um intercessor (Kastrup, 2008, p. 474). Comoo pesquisador s pode inserir-se a partir de suaimplicao, que remete tambm sua capacidade de
dessubjetivar, de ligar-se com alteridade, ele tambmpossibilita que algo ocorra entre, catalisandoagenciamentos.
Essas distines epistemolgicas ainda so,de certa maneira, necessrias, pois observo queos pesquisadores que trabalham com pesquisa-interveno, e que atuam no dia a dia das instituies,sustentam uma produo de conhecimento no raroconitiva e angustiante. Em minha experinciacomo pesquisadora/orientadora dessa modalidadede pesquisa e nas trocas de experincias com
outros pesquisadores, posso armar que os desaoscotidianos no so poucos. Entre eles, presencio osconitos com o campo que conduzem a reprodues,os impedimentos que muitas vezes surgem dacomunidade pesquisada e inviabilizam o cumprimentodo cronograma, a emergncia de analisadores que noconduzem construo de alternativas instituintes,mas a uma antiproduo, e a diculdade de convocar emanter intervenes que sustentem o coletivo.
Essas diculdades, por vezes, exigem maiorrigor e preciso terica e metodolgica para seuenfrentamento, tanto perante a comunidade cientca,como diante da comunidade estudada. Na academia,
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
8/9
Psicologia & Sociedade, 26(1), 44-52.
51
usual a presena de crticas cienticidade e ingenuidade desses estudos, ao mesmo tempo emque sempre corremos o risco de certo relativismo,pois no fcil romper com as pesquisas institudase dominantes, que nos garantem segurana e certezas,distanciando-se da complexidade. Nesse contexto,
estudos acerca dessa modalidade de pesquisa so,a meu ver, indispensveis, pois lidam com formasde produo cientcas distintas: por um lado, todoum aparato de reduo e segurana, calcado noparadigma moderno; por outro lado, a sustentaoda complexidade e dos obstculos, amparada nosparadigmas mais emergentes da cincia, comoexamina Santos (2002).
Contudo, embora tenha me centrado nademarcao das diferenas de abordagem da implicao, necessrio destacar que, no cotidiano do processo da
pesquisa propriamente dito, as fronteiras entre essasdiferentes formas de pesquisa-interveno so porvezes imprecisas e usualmente se sobrepem. Certasposturas, e no somente o conceito de implicao, tmressonncias, por mais que, epistemologicamente, osreferenciais loscos e tericos sejam distintos. Nomeu entender, essas ressonncias se do principalmentenos seguintes pontos: na premissa de que a realidadeno dada, mas construda em nossas prticas; nouso da interveno para propiciar a transformao/inveno; na nfase nas relaes entre pesquisador ecampo; na perseguio do desvelamento das relaes
de poder e de assujeitamento, entre outros. Nessecontexto, podemos nos perguntar se o prprio conceitode implicao no seria um intercessor que associaas dimenses de fora de cada teoria, formando umhibridismo que sugere a no separao entre as correntesinstitucionalistas examinadas neste artigo. A noo deintercessor investe no hbrido como espao de criaoe inveno, como aponta Deleuze (1992). Hbridoque foi criado de forma ativa pelos pesquisadoresbrasileiros, a partir dos encontros com seus campos depesquisa, com seus autores de referncia, em conjuntocom as populaes pesquisadas.
Ao analisar os atravessamentos do movimentoinstitucionalista francs, sobretudo da AnliseInstitucional de Ren Lourau, e das prticas grupais emnosso pas, Rodrigues e Benevides de Barros (2003)defendem a potncia armativa da heterognese, naqual fez parte no s essa corrente, mas tambm ogrupalismoargentino, em associao singularidadebrasileira. Essa heterognese propiciou a criao deestratgias originais, de agenciamentos, que tiveramcomo efeito a desnaturalizao das instituies queforam colocadas em anlise, constituindo a vertente
de interveno e anlise grupalista-institucionalista,
dispositivo peculiar do Brasil. Nesse sentido,reiterando a impossibilidade de manter as dicotomiasteoria-prtica, sujeito-objeto, pesquisador-campode pesquisa, o conceito de implicao tambmrealiza uma heterognese, como a apontada pelasautoras, e instaura uma desestabilizao das vertentes
institucionalistas, cujos efeitos tentam recuperaro coletivo e a singularidade das redes de relaesconstrudas, seja a partir das contradies entreinstitudo e instituinte, seja a partir dos agenciamentose da transversalidade que da pode surgir. Esse conceitocria, ainda, uma forma particular de se trabalhar compesquisa-interveno, misturando, de forma produtivae inventiva, leituras distintas, e desvelando, assim, asdiferenas que o cotidiano insiste em associar, paraalm das divises da academia.
Problematizaes e estudos acerca da pesquisa-
interveno que insistem na coexistncia da produode conhecimento com a interveno, aproximandosobremaneira o campo terico do campo prtico,remetem s questes propriamente cientcas, nosentido de que a cincia deve produzir conhecimentopara a transformao da realidade e dos impassesda oriundos, e no insistir em manter rupturase reducionismos, geralmente com o objetivo deretroalimentar esse circuito. Essa indissociabilidadecoopera para a formao de prossionais atentos sdemandas de nosso tempo, realidade social e suastenses, bem como aos efeitos tico-polticos de suasinseres. Apostar na heterogeneidade do conceitoe no rastreamento de como este se delineia, no steoricamente, mas sobretudo nas nossas prticase pesquisas, apostar na vida que cada vez maisse precariza no espao acadmico, e insistir emum posicionamento poltico do pesquisador comoagente social. Nas universidades, e sobretudo naps-graduao, observamos que h uma tendnciados programas de seguirem uma lgica produtivistae quantitativa, sem avaliar os efeitos poltico-sociaisdessa gerao de conhecimento, em detrimento,
inclusive, de uma discusso poltica mais ampla,como pontua Castro (2010).
Diante disso, espero ter contribudo, com estebreve estudo, para a soluo de alguns impassespoltico-epistemolgicos com que se defrontam osinstitucionalistas brasileiros (Rodrigues, 1999, p.171). Impasses que, embora tenham sido apontadospor Heliana Conde Rodrigues, no nal da dcadade 1990, no so de modo algum anacrnicos. Aocontrrio, ainda permanecem entre os que insistemna criao de um circuito de conhecimento que atue
a favor da vida.
-
7/24/2019 3696-11324-1-PB
9/9
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao e a pesquisa-interveno institucionalista.
52
Agradecimentos
Capes, pelo nanciamento de parte dosestudos que fundamentam este texto, parcialmentedesenvolvido no estgio ps-doutoral na Universit
Cergy-Pontoise, com a colaborao do professorGilles Monceau.
Referncias
Alto, S. (Org.). (2004).Ren Lourau: analista institucional emtempo integral. So Paulo: Hucitec.
Baremblitt, G. (1992). Compndio de anlise institucional eoutras correntes. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
Benevides de Barros, R. D. & Passos, E. (2000). A construodo plano da clnica e o conceito de transdisciplinaridade.Psicologia: Teoria e Pesquisa, 16(1), 71-79. Acessoem 6 de janeiro, 2006, em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-37722000000100010&script=sci_arttext
Castro, L. R. (2010). Privatizao, especializao eindividualizao: um outro mundo (acadmico) possvel?Psicologia & Sociedade, 22(3), 622-627.
Coimbra, C. M. B. (1995). Guardies da ordem: uma viagempelas prticas psi no Brasil do milagre.Rio de Janeiro:Ocina do Autor.
Deleuze, G. (1992). Conversaes.Rio de Janeiro: Ed. 34.Deleuze, G. & Guattari, F. (s.d.). O Anti-dipo: capitalismo e
esquizofrenia. Lisboa: Assrio e Alvim.Deleuze, G. & Guattari, F. (1995). Introduo: rizoma. In
G. Deleuze & F. Guattari, Mil Plats: capitalismo eesquizofrenia (pp. 11-37).Rio de Janeiro: Ed. 34.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1996). 1933: micropoltica esegmentaridade. In G. Deleuze & F. Guattari, Mil Plats:capitalismo e esquizofrenia (pp. 83-115).Rio de Janeiro: Ed.34.
Guattari, F. (1992). Caosmose: um novo paradigma esttico.Rio de Janeiro: Editora 34.
Guillier, D. & Samson, D. (1997). Implications : desdiscours dhier aux pratiques daujourdhui. Les Cahiersdimplication,1(1), 17-29.
Hess, R. (2004). O movimento da obra de Ren Lourau. In S.Alto (Org.),Ren Lourau: analista institucional em tempointegral (pp. 15-41).So Paulo: Hucitec.
Kastrup, V. (2008).O mtodo da cartograa e os quatro nveisda pesquisa-interveno. In L. R. Castro & V. L. Besset
(Orgs.),Pesquisa-interveno na infncia e juventude (pp.465-489).Rio de Janeiro: Trarepa/FAPERJ.
Lourau, R. (1975). A anlise institucional. Petrpolis, RJ:Vozes.
Lourau, R. (1990). Implication et surimplication. Revue duMauss, 10, 110-120.
Lourau, R. (2004a). Implicao-Transduo. In S. Alto (Org.),Ren Lourau: analista institucional em tempo integral(pp.212-223). So Paulo: Hucitec.
Lourau, R. (2004b). Objeto e mtodo da Anlise Institucional.In S. Alto (Org.), Ren Lourau: analista institucional emtempo integral(pp. 66-86). So Paulo: Hucitec.
Monceau, G. (2010). Analyser ses implications dans linstitutionscientique: une voie alternative. Estudos e Pesquisas emPsicologia, 10(1), 13-30. Acesso em 9 de abril, 2010, emhttp://www.revispsi.uerj.br/v10n1/artigos/pdf/v10n1a03.pdf
Paulon, S. M. (2005). A anlise de implicao como ferramentana pesquisa-interveno. Psicologia & Sociedade, 17(3),16-23.
Rocha, M. L. & Aguiar, K. F. (2003). Pesquisa-interveno e aproduo de novas anlises. Psicologia: Cincia e Prosso,23(4), 64-73.
Rodrigues, H. B. C. (1999). Notas sobre o paradigmainstitucionalista: prembulo poltico-conceitual s aventurashistricas de scios e esquizos no Rio de Janeiro.Transverses: peridico do Programa de Ps-Graduaoda Esso UFRJ, 1(1), 169-199.
Rodrigues, H. B. C. (2005). Sejamos realistas, tentemos oimpossvel. In A. M. Jac-Vilela, A. A. L. Ferreira, & F. T.Portugal (Orgs.),Histria da Psicologia: rumos e percursos(pp. 515-563). Rio de Janeiro: Nau.
Rodrigues, H. B. C. & Benevides de Barros, R. D. (2003).Socioanlise e prticas grupais no Brasil: um casamento deheterogneos.Psicologia Clnica, 15(1), 61-74.
Rolnik, S. (1989). Cartograa sentimental: transformaescontemporneas do desejo. So Paulo: Estao Liberdade.
Romagnoli, R. C. (2009). A cartograa e a relaopesquisa e vida. Psicologia & Sociedade, 21(2), 166-173. Acesso em 14 de dezembro, 2009, em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=iso
Santos, B. S. (2002). Um discurso sobre as cincias. Porto:Afrontamento.
Sauvagnargues, A. (2008). Un cavalier schizo-analytique sur leplateau du jeu dchecs politique.Multitudes, 34, 22-29.Veiga-Neto, A. (2002). Olhares. In M. V. Costa (Org.), Caminhos
investigativos: novos olhares em pesquisa em educao(pp.23-38).Rio de Janeiro: DP&A.
Recebido em: 03/08/2011Reviso em: 07/04/2012Aceite em: 14/05/2012
Roberta Carvalho Romagnoli Psicloga, Professora doPrograma de Ps Graduao em Psicologia da Pontica
Universidade Catlica de Minas Gerais, Pesquisadora do
CNPq. Endereo: Rua Terra Nova 101/401 Bairro SionBelo Horizonte/MG, Brasil. CEP 30315-470.E-mail: [email protected]
Como citar:
Romagnoli, R. C. (2014). O conceito de implicao ea pesquisa-interveno institucionalista. Psicologia &Sociedade, 26(1), 44-52.
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-37722000000100010&script=sci_arttexthttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-37722000000100010&script=sci_arttexthttp://www.revispsi.uerj.br/v10n1/artigos/pdf/v10n1a03.pdfhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isomailto:[email protected]:[email protected]://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000200003&lng=pt&nrm=isohttp://www.revispsi.uerj.br/v10n1/artigos/pdf/v10n1a03.pdfhttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-37722000000100010&script=sci_arttexthttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-37722000000100010&script=sci_arttext