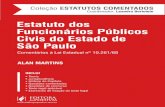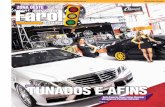414-1329-1-PB.pdf
-
Upload
larissa-larissa -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
Transcript of 414-1329-1-PB.pdf
-
O PRIMITIVISMO NO MODERNISMO*
PRIMITIVISM IN MODERNISM
EL PRIMITIVISMO EN EL MODERNISMO
Maria Mirtes dos Santos Barros
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a ideia de primitivo no modernismo, a partir das obras de dois artistas e a influncia da arte primitiva - para Gauguin, o mundo taitiano, para Picasso, a arte africana. Procuraremos ainda estudar as razes que levaram Gauguin a viver parte de sua vida entre os nativos e a represent-los em suas telas, e que levaram Picasso a incluir a arte africana em sua obra Les Demoiselles d Avignon.Palavras-chave: Modernismo. Primitivismo. Vanguardas artsticas. Gauguin. Picasso.
Abstract: This article aims to analyze the idea of Primitivism in Modernism, from the works of two artists and the influence of primitive art - to Gauguin, the Tahitian world, to Picasso, the African art. The reasons that led Gauguin to live most of his life among the natives and represent them on his screens, and what led Picasso to include the African art in his work "Les Demoiselles d'Avignon" are researched.Keywords: Modernism. Primitivism. Artistic avant-garde. Gauguin. Picasso.
Resumen: Este artculo tiene como objetivo analizar la idea de primitivo en el modernismo, a partir de las obras de dos artistas y la influencia del arte primitivo - a Gauguin, el mundo de Tahit, a Picasso, el arte africano. Vamos a tratar de investigar ms a fondo las razones de Gauguin a vivir la mayor parte de su vida entre los indgenas y a retratarlos en sus cuadros, y tambin aquellas que llevaron a Picasso para incluir el arte africano en su obra "Les Demoiselles d'Avignon".Palabras clave: Modernismo. Primitivismo. Artsticas de vanguardia. Gauguin. Picasso.
1 INTRODUO
1.1 O modernismo
Antes de comear a tratar do primitivis-mo no modernismo necessrio abordar, ainda que de maneira breve, como surgiu o modernismo. Aqui trabalharemos com as obras de Mario de Micheli (1979; 1991), Bradbury (1989), Subirats (1991), Berman (1987) e Lambert (1989). Segundo Mario de Micheli (1991, p. 5), o modernismo no surgiu como evoluo da arte do sculo XIX mas [...] de uma ruptura dos valores, no somente no campo da esttica. Essa respos-ta, segundo ele, s pode ser buscada numa srie de razes histricas e ideolgicas. Para esse autor, [...] o sculo XIX conheceu uma tendncia revolucionria bsica, em torno da qual organizaram-se o pensamento filosfi-
co, poltico, literrio, a produo artstica e a ao dos intelectuais (1991, p. 5).
Lambert (1989, p. 7) busca compreender essa ruptura no campo esttico. A primeira grande ruptura ocorre ainda em 1789, com a Revoluo francesa. At aquele momento o artista pintava sob encomenda sem que houvesse necessariamente um envolvimento pessoal com o trabalho a ser feito.
Micheli compreende as revolues do sculo XIX como fatos histricos importan-tes para o surgimento do modernismo. Ele acentua os sinais da crise da razo no alvore-cer da revoluo de 1848, e o aprofundamento dela com a Comuna de Paris no ano de 1871. Tais acontecimentos esto na origem do drama vivido por Van Gogh e pela fuga de Gauguin, primeiro para a Bretanha e posteriormente para as ilhas dos mares do sul.* Artigo recebido em janeiro 2011 Aprovado em maro 2011
Carlos L. F. Cunha; Manoel V. F. Neto; Artenira S. S. Sauaia; Lcia C. S. Rosa; Ana Lvia P. Lima
38Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
ARTIGO
-
H tambm uma discusso sobre o que vem a ser modernismo. Bradbury (1989, p. 19) diz ser o [...] modernismo a nossa arte, a nica que responde trama do nosso caos. Mas, de que caos nos fala o autor? A primeira Guerra Mundial, o advento de uma economia capitalista, a crise da razo so alguns dos elementos que fazem a modernidade parecer catica: a arte da destruio da razo na primeira Guerra Mundial, do capitalismo, da contnua acelerao industrial, da vulnerabili-dade existencial (BRADBURY, 1989, p. 19).
Os sculos XIX e XX testemunharam grandes rupturas nos campos da economia, poltica, cultura e pensamento. Com efeito, o sculo XIX ainda vivia um conflito entre o en-tusiasmo e o ceticismo.
Modernidade , pois, a imposio definitiva do novo e o fim do velho, mas um novo que conhece a velhice precoce, portanto, para no sucumbir, preciso autodestruir-se para conti-nuar moderno.
Um mundo desfeito e refeito ou em con-tnua transformao necessita de novos signos para se comunicar e para ser comunicado.
No campo da literatura e das artes, h um rompimento com a linguagem do passado que j no capaz de dar conta dessa nova rea-lidade multifacetada que o Ocidente apresen-ta. Assim, o modernismo a expresso desse mundo em metamorfose, o qual abriga novas linguagens e advoga a liberdade de expresso, o fim de cnones e da crtica oficial, a servio da burguesia, enquanto instituio respons-vel por crivar as obras a serem expostas nos sales: [...] foram as vanguardas que san-cionaram a conscincia histrica e cultural moderna (SUBIRATS, 1991 p. 48).
A contradio, tambm, haveria de ficar marcada por pinceladas pr e contra os efeitos da modernizao. Nessas trincheiras esta-riam os futuristas italianos, os expressionistas, os dadastas e outros, em acirrado combate, numa guerra de manifestos que veiculavam as ideias de um e de outro grupo.
Assim, pessimismo e euforia estiveram presentes numa e noutra tendncia em maior ou menor escala.
Berman nos fala da modernidade com-parando-a a um turbilho e diz que a vida moderna cria novos ambientes humanos e destri os antigos, acelera o ritmo da vida. Fala tambm de uma descomunal [...] ex-panso demogrfica, que penaliza milhes de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral. (BERMAN, 1987, p. 16)
O sculo XX, ao contrrio do XIX, confor-me j foi salientado anteriormente, marcado por contradies. Assim, enquanto os futuris-tas louvam o progresso e apregoam o fim ou o rompimento definitivo com o passado, bem ilustrado por este poema:
Cantaremos as grandes multides agitadas pelo tra-balho, pelo prazer ou pelo levante; cantaremos as marchas multicores e polifnicas das revolues nas capitais modernas; cantaremos o vibrante fervor no-turno dos arsenais e dos canteiros de obras incendia-dos por violentas luas eltricas; as estaes vorazes, devoradoras de serpentes que fumam; as fbricas penduradas nas nuvens pelos contorcidos fios de suas fumaas... (MICHELI, 1991, p 203)1.
expressionistas e dadastas viam a moder-nidade de outro ngulo:
Ns no vivemos mais, somos vividos. No temos mais liberdade, no sabemos mais nos decidir, o homem privado da alma, a natureza privada do homem...Nunca houve poca mais perturbada pelo desespero, pelo horror da morte. Nunca silncio mais sepulcral reinou sobre o mundo. Nunca o homem foi menor. Nunca esteve mais irrequieto. Nunca a alegria esteve mais ausente, e a liberdade mais morta. E eis que gri-ta o desespero: o homem pede gritando a sua alma, um nico de grito de angstia se eleva do nosso tem-po. A arte tambm grita nas trevas, pede socorro, invoca o esprito: o expressionismo (Hermann Bahr apud MICHELI, 1991, p. 61).
Estes inspiraram-se em Czanne, Gauguin e Van Gogh,
[...] cuja fora e simplicidade estimularam os artis-tas a explorarem a arte primitiva: a arte africana e a pintura das cavernas. As manufaturas primitivas, h muito tempo expostas em museus, mas conside-radas mais como curiosidades que como verdadeiras formas de arte, tornaram-se para os artistas fonte de inspirao (LAMBERT, 1989, p. 11).
Essas duas correntes, dentro do modernis-mo, advogavam a destruio, em princpio, da arte e da cultura e, por extenso, da prpria civilizao ocidental, para eles corrompida e ir-remediavelmente perdida. Era necessrio voltar ao ponto de partida (o primitivo). a arte da negao, [...] o niilismo na spera linha de hos-tilidade civilizao, um descontentamento com a prpria cultura (BRADBURY, 1989, p. 31).
Todos estes elementos esto contidos em um movimento denominado vanguardas ar-tsticas que, segundo Subirats (1991, p. 48), [...] definiram e sancionaram a conscincia histrica da vida moderna, sua relao com o passado e sua radical orientao para empre-sas futuras e para um indefinido progresso.
Modernismo , pois, conscincia histrica do processo irreversvel da modernizao cujo olhar foi ora nostlgico, ora contemplativo e eufrico, ora angustiado, ctico e niilista.
Para falar sobre a concepo de primitivo no modernismo, necessrio perceber a con-
O primitivismo no modernismo
39Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
Maria M. S. Barros
juntura em que essa corrente surgiu e quais teorias dominavam, nessa poca, o cenrio poltico-ideolgico europeu, especialmente a partir da sociologia e da antropologia.
importante observar que os territrios dos assim chamados povos primitivos, nesse perodo, estavam sendo alvo de um processo de colonizao por parte de naes europeias sobre os continentes africano e asitico e as ilhas do Pacfico. Processo este que teve incio na segunda metade do sculo XIX.
A recm-surgida antropologia muito con-tribuiu para a prtica da relao que se esta-beleceu com os povos colonizados, atravs do evolucionismo biolgico aplicado cultura.
A origem das espcies escrito por Darwin em 1859 re-presenta uma guinada decisiva na histria da biologia, mas sua influncia se estende rapidamente para alm dos limites das cincias naturais: na segunda metade do sculo o conceito de evoluo dominou no mbi-to da filosofia e da sociologia e contribuiu para dar o primeiro impulso ao desenvolvimento da antropologia. (SCARDUELLI, 1980, p. 466, traduo nossa)
A aplicao da teoria evolucionista s ci-ncias humanas produziu srios equvocos os quais foram determinantes para os novos pro-jetos de colonizao em curso. Pensava-se que essas sociedades tribais assim haviam per-manecido por causa do isolamento e por no serem capazes de progredir. Nesse sentido, conforme Morgan, em Ancient Society, de 1877, a civilizao ocidental iria suprir essas distores e defeitos atravs da colonizao, entendida como o processo necessrio para levar esses povos da selvageria barbrie e enfim ao estgio superior da civilizao: Esse ltimo distingue trs estgios de evolu-o da humanidade - selvageria, barbrie, ci-vilizao cada um dividido em trs perodos, em funo, notadamente, do critrio tecnol-gico (LAPLANTINE, 1996, p. 66).
A teoria evolucionista serviu de base ide-olgica para justificar esse processo de ocu-pao e explorao dos territrios habitados por povos tidos como primitivos. Ao mesmo tempo em que se postulava cientificamente a unidade da espcie humana, ideologicamente se definia a superioridade da civilizao euro-peia sobre os outros povos.
A filosofia positivista e o evolucionismo social de Spencer influenciaram essas prti-cas coloniais. Spencer concebeu a evoluo como a passagem do simples ao complexo, do homogneo ao heterogneo, do incoeren-te ao coerente [...]. A sociedade europia sem dvida mais evoluda que as selvagens. (SCARDUELLI, 1980, p. 467, traduo nossa).
Essa abordagem de fundamental impor-tncia para se perceber a concepo de mundo primitivo que permeia o modernismo. Assim, se a Europa se sustenta no evolucionismo para impor sua cultura como dominante nos territ-rios em processo de colonizao, os artistas se utilizam da cultura primitiva para se contrapo-rem cultura burguesa europeia.
nesse contexto, de uma Europa colonialis-ta, que Picasso entra em contato com a arte afri-cana. Essa vem ao encontro do artista atravs de mercadores e de alguns membros do exrcito:
No sculo XIX os membros da administrao e do exrcito dos pases colonizadores (especialmente In-glaterra, Frana e Alemanha) voltando ptria depois de alguns anos de servio, amavam trazer consigo algumas daquelas curiosidades que teriam, mais tarde, conferido um tom extico s suas casas. Com o passar do tempo, muitos daqueles exemplares de arte primitiva andaram dispersos, primeiro no sto, depois no lixo. (HUERA, 1991, p 10)
Desta forma, os primeiros exemplares de arte africana, que despertaram interesse, foram recolhidos pelo exrcito ingls durante uma expedio punitiva no reino do Benin, na Nigria. (HUERA, 1991, p. 20)
Gauguin no est menos desencantado. Segundo ele no h lugar nem para a arte nem para o artista na sociedade burguesa e materialista.
2 A EXPERINCIA DE GAUGUIN NAS ILHAS DOS MARES DO SUL
Paul Gauguin nasceu em Paris no ano de 1848, filho de um jornalista de Orleans e me peruana. Passou parte de sua infncia em Lima. Ingressou na marinha mercante em 1865, tra-balhou como corretor da bolsa de valores. Em princpio da dcada de 1870 adotou a arte como passatempo. (CHILVERS, 2001, p. 207-8)
Gauguin sai em busca de alternativas. Em princpio na prpria Frana, mas depois se evade para as ilhas dos mares do sul, movido, de um lado, pela crise de valores por que passa a so-ciedade parisiense e de outro, pela propaganda que se veiculava sobre os povos primitivos:
Por muito tempo o Ocidente tem fantasiado sobre as ilhas dos mares do sul, sonhados como luga-res paradisacos, e as narraes mticas que mari-nheiros e exploradores faziam delas alimentavam estas fantasias, fornecendo, porm poucos dados autnticos sobre os povos que habitavam aqueles lugares, seus costumes, suas crenas, sua arte. Quando finalmente se comeou a conhecer as obras extraordinrias das populaes daquelas terras lon-gnquas, teve-se tambm o testemunho concreto da acesa fantasia dos mais romnticos sonhadores. Assim, na exposio de Londres de 1851, a recons-truo de uma autntica aldeia Maori provocou pro-funda impresso, enquanto a mostra de Paris, em
40 Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
O primitivismo no modernismo
1889, produziu em Gauguin o desejo de refazer a aventura nos mares do sul (HUERA, 1991, p 80).
Tornar-se selvagem foi a resposta que Gauguin encontrou para sua existncia ator-mentada por uma realidade, para ele inconceb-vel. Essa realidade, que aos poucos se delinea-va, a sociedade em processo de modernizao. Segundo Micheli (1991, p. 49), o mito do Bom selvagem de Rousseau, que havia inspirado a vontade de mudana, sendo, pois um mito convergente, agora passa categoria de mito divergente porque a sociedade aparece irre-mediavelmente perdida e esse mito apenas um argumento para fugir dela e para encontrar um mundo puro, inocente. Gauguin aposta na evaso, que assume o tom de denncia.
Uma vez entre os primitivos, Gauguin percebe que a sociedade por ele rejeitada tambm est entre eles atravs da educao escolar, da catequese e da cobrana de impos-tos. Desencadeia ento uma luta solitria para salvar os primitivos da cultura do Ocidente. Tentava barrar a entrada das crianas nativas escola argumentando que elas no neces-sitavam da educao formal, pois a grande mestra era a natureza. Do mesmo modo agia em relao cobrana de impostos. Essas ati-tudes lhe renderam trs meses de priso.
3 A OBRA DE GAUGUIN
Sabe-se que Gauguin executou um nmero significativo de obras como: Viso depois do sermo, Os quatro bretes, A bela ngela, Bonjour M. Gauguin; todas estas foram pro-duzidas numa escola por ele fundada: a Escola de Pont-Aven2, mas, para o objetivo deste tra-balho interessam as obras produzidas no Taiti: Mulher taitiana com mao de flores, O ouro de seus corpos, Taitianas na praia.
O que se percebe na vida e na obra de Gauguin no tanto a busca de uma nova forma, mas de um novo homem, uma nova sociedade. Um homem despojado, simples, que cultua a verdade, o amor, a liberda-de. Gauguin no faz cpias, nem total nem parcial, da arte dos taitianos. Suas obras se inspiram no cotidiano das mulheres taitia-nas eleitas como modelo de um ser humano ideal indiferente ganncia e a outros falsos valores que ele havia repudiado com sua fuga.
Assim, atravs daquelas cenas capta-das na convivncia do dia a dia, ele faz uma sntese entre seus ideais e a prpria reali-dade taitiana daquela poca. Dessa forma,
os flagrantes que ele percebe e representa trazem como contedo o completo alhea-mento em relao ao futuro, a tranquilidade de quem tem como aliada a natureza exube-rante e rica na qual o homem se integra em perfeita harmonia.
Suas obras taitianas so um testemu-nho claro de um olhar romntico, idealis-ta, predominante no sculo XIX, porm europeu, no do estilo arcaico das socieda-des tribais. Do contrrio, as atitudes como sentar-se preguiosamente na praia, andar sem roupa, a ausncia de preocupao com o passar das horas, no lhe causariam nenhum espanto, pois para os taitianos de ento esse era o seu jeito de viver, portan-to, era normal. Gauguin teria sepultado seu ser francs e sua mentalidade ocidental e estaria totalmente inculturado. Mas isso tambm uma utopia porque a inculturao total e absoluta no se realizar. Gauguin pois, to somente, um francs desencanta-do com o seu prprio mundo que busca na cultura do outro um alento, um aconchego, j que julga impossvel conviver com os pro-blemas de sua prpria cultura.
Figura 1 - Mulher taitiana com mao de flores (1899) - Museu do Ermitage So Petersburgo Capolavo-ri della pittura. Novara: De Agostini, 1992
41Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
O idealismo de Gauguin teve o mrito de trazer ao ocidente testemunhos de um mundo que sua civilizao lutava para su-plantar. Se Gauguin era um idealista no era porm, um colecionador de coisas exticas. Ele penetrou fundo naquela realidade e teve a coragem de enfrentar os colonizadores, mesmo sabendo que pagaria por isso.
Figura 2 - E o ouro de seus corpos (1901) - Museu do Louvre Paris - Gauguin. Coleo de Arte. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1997
As obras de Gauguin da fase taitiana vm questionar os costumes da sociedade pari-siense e falar da necessidade de mudana no seio desta, naquele perodo.
Figura 3 - Taitianas na praia (1891) - Museu do Lou-vre Paris - Gauguin. Coleo de Arte. Rio de Janei-ro: Editora Globo, 1997
Se Gauguin no conseguiu se libertar dos cdigos de sua cultura, realizou essa li-berdade em um outro nvel, criando cores e
planos arbitrrios, negando toda a erudio renascentista apropriada pelo academicismo que era a arte oficial.
4 LES DEMOISELLES DAVIGNON DE PICASSO
Picasso nasceu na Espanha no ano de 1881. Em 1900 foi para a Frana onde pro-duziu os trabalhos da fase azul em que aborda temas como a misria, em seus mais variados aspectos, e a melancolia e a an-gstia. A cor azul a cor da noite, noite esta que para os tristes, os deserdados da sociedade no tem aurora, a noite infinita do sofrimento.
Figura 4 - Les Demoiselles dAvignon (1907) - Pa-blo Picasso Storia Universale dellArte Novara: De Agostini, 1991, p. 24
Para Picasso, essa noite dura apenas alguns anos e, finalmente, ele desperta com a fase rosa (1906), um estilo neoclssico, com personagens vigorosos. em plena vi-gncia da fase rosa que ele desponta com Les Demoiselles dAvignon3, obra que se caracteriza pelo rompimento com o neo-classicismo, com os cnones tradicionais de uma arte que imita as formas naturais, com a abolio da perspectiva renascentista, conforme Alan Bullock:
Les Demoiselles dAvignon, feita por Picasso em 1907, quadro fecundo por influncias espanholas e africanas, qualificado como a primeira tela realmente sculo XX: cinco mulheres nuas pintadas numa s-rie de losangos e tringulos geomtricos, numa total desconsiderao pela anatomia e pela perspectiva. (BULLOCK, 1989, p. 44).
Maria M. S. Barros
42 Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
Ainda sobre Les Demoiselles dAvignon, Bullock afirma: representa ruptura com a tradio, um choque cultural. (BULLOCK, 1989, p. 48).
A relao espao-objeto segue uma proposta completamente nova no que diz respeito forma e cor, esta completa-mente plana. Picasso abusa da angulosida-de fazendo dessa obra um divisor de guas na pintura modernista. Alm dos elementos j mencionados h outros de suma impor-tncia para o objeto deste trabalho: a in-sero de mscaras africanas4. Ele opta pela forma que ser cada vez mais estili-zada at desaparecer, enquanto referncia, no cubismo analtico.
Enquanto Gauguin se aproxima do mundo e da arte primitiva, movido pelo des-contentamento com a prpria sociedade, Picasso busca revigorar a arte do sculo XX atravs da arte africana.
O espanhol Pablo Picasso foi o primeiro a se referir ao passado pr-histrico. Ele estava absolutamen-te convencido de que talvez a cultura europia j estivesse madura para compreender e valorizar a simplicidade e o vigor selvagem da arte africana. (LAMBERT, 1989, p. 11).
Sua aproximao com a arte paleoltica e com a africana influenciaram profunda-mente a concepo do quadro Les Demoisel-les dAvignon, obra profana que representa cinco prostitutas nuas. O espectador se v diante de uma cena onde
[...] as figuras compostas de segmentos do corpo feminino representados segundo ngulos visuais diferentes, so distorcidos e completamente pla-nos. O efeito que Picasso queria que cada ele-mento tenha o mesmo valor sobre a superfcie do quadro. A mulher da esquerda tem a posio tpica das figuras do antigo Egito, as duas cen-trais evocam mente as figuras da arte primitiva ibrica, enquanto que as duas da direita tm os rostos semelhantes a mscaras africanas. A arte estica permitia a Picasso distanciar-se dos m-todos tradicionais de representao. (LAMBERT, 1989, p. 12).
O que Picasso busca na arte africana a forma, para ele nova e pura. Por outro lado, temos que compreender que o contexto em que Picasso pinta o quadro Les Demoiselles dAvignon marcado pelas aes das van-guardas artsticas, em cujo movimento ele tambm tomou parte enquanto expoente do cubismo. Por isso, se pode compreen-der melhor o papel dessa obra que s foi exposta em 1937.
Esta apologia do choque e da destruio o prin-cpio esttico que desde o incio definiu o empre-endimento artstico e social das vanguardas, os dadastas de Zurique, os futuristas do Norte da
Itlia, ou os cubistas franceses que em suas aes e manifestos, e sobretudo em suas exposies e experimentos formais, assumiram o escndalo como finalidade artstica (SUBIRATS, 1991, p. 51).
No entanto, abordar a obra apenas pelo ngulo do choque seria despi-la de toda a riqueza que ela encerra. Picasso no um tipo romntico, to pouco, nostlgico. Se algo lhe agrada pinta-o conforme sua con-cepo de belo e agradvel, porm se lhe desagrada pinta-o tambm, porm, de forma tirnica, expe todo seu desprezo pela coisa representada.
O que ele havia de lamentar sobre a misria da humanidade j o havia feito durante a fase azul. Agora resta sintoni-zar-se com a nova realidade que desponta onde nada mais duradouro, nada mais sagrado. A razo, descoberta mpar dos ilu-ministas, no a mola do mundo no contex-to do pr-guerra. Aqui o mundo foi desfeito e por sobre os destroos surge uma nova re-alidade bem representada por Picasso nessa obra proftica.
5 CONSIDERAES FINAIS
A modernidade, com seu acelerado de-senvolvimento econmico, despertou sen-timentos variados sobre ela mesma. Os descontentes, como Gauguin, por exemplo, passaram a buscar alternativa no mundo primitivo. A ideia de primitivo no perodo em que viveu Gauguin, sculo XIX, de pureza, inocncia, desapego s coisas materiais, quase natural como bem apresenta seu poema Noa noa:
O pau rosa e o mango que enchem o ar com um fausto de sobra e de perfume, rvore de ferro e as que so prdigas de doces frutos - carnes e po - e as que se oferecem por si, muros e telhados de casas, altivas naves e tlamos tornam a vida um sonho belo, abolidos o trabalho e a fome, a misria e a inveja. A floresta, inteira ao cabo da vida imensa, morte perptua, renascena sem fim (GAUGUIN apud GRASSI, s/d, p. 60).
Essa a viso de primitivo que permeia a primeira fase do modernismo. Para o homem europeu acostumado ao ritmo febril de grandes centros urbanos, quem no faz parte do mundo do trabalho produtivo est conde-nado a passar fome, a dormir ao relento.
O discurso de Gauguin deixa entrever que a vida numa sociedade tribal seme-lhante natureza: foram abolidos o tra-balho, a inveja, a misria e a fome; como se pode perceber, Gauguin, para exaltar a vida em estado primitivo, busca aspectos
O primitivismo no modernismo
43Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
negativos da sociedade industrial e capi-talista. Abolir a inveja significa no ali-mentar a ganncia, a vontade de ter. No mundo primitivo a natureza providenciou tudo: perfume, alimento, teto. Temos aqui uma viso idealizada de quem estava des-contente com a prpria realidade. Na socie-dade industrial no h espao para Filemo e Bucia5. No caso de Gauguin ele sacrifi-cou Fausto e Mefisto e fugiu para defender Filemo e Bucia.
A outra viso de primitivo adotada por Picasso tambm remete ideia de pureza, pois a arte dos africanos no havia sido con-tagiada pela europeia. Porm, essa pureza significa ausncia de intercmbio cultural. Picasso est interessado na forma e no na vida e no destino dos povos primitivos. Partindo deste pressuposto, ao contrrio de Gauguin, ele no conservador, to pouco romntico em relao aos primitivos. Sua postura , digamos, predatria. Ele quer, atravs das mscaras africanas, colocar em evidncia sua prpria arte.
No cabe, contudo, nenhum juzo de valor sobre os dois artistas. Um e outro viveram com intensidade sonhos e realida-des possveis em sua prpria poca. Quer Gauguin que Picasso foram profundamen-te revolucionrios porque ambos tiveram a coragem de trazer a pblico aspectos de cul-turas primitivas que, no tocante arte, esta ainda era temporariamente aceita como objeto extico, mas no tocante a outros as-pectos da cultura no despertava maiores simpatias, a no ser por algum sonhador ro-mntico do feitio de Paul Gauguin.
NOTAS
1. Esse trecho citado por Micheli refere-se ao Ma-nifesto Futurista de 1909, n. 11, de autoria de Filippo Tommaso Marinetti. Cfr. VERDONI, Mario. Il Futurismo. Milano: Newton, 1994, p. 84-86.
2. Cidade da Bretanha freqentada, na segunda metade do sculo XIX, por pintores impres-sionistas. A escola de Pont-Aven aplica-se aos pintores associados ao estilo de Gauguin que residiu l entre 1886 e 1891 e se carac-teriza pela ausncia de perspectiva, exalta-o da cor e eliminao de detalhes.
3. Obra produzida entre 1906 e 1907 mas ex-posta pela primeira vez em 1937 no Petit Pa-lais em Paris com o ttulo Bordel dAvignon.
4. este o elemento de ligao entre Picasso e Gaugin.
5. " medida que Fausto(para Goete este re-presenta o progresso) supervisiona seu tra-balho, toda a regio em seu redor se renova e toda uma nova sociedade criada sua imagem. Apenas uma pequena poro de terra da costa permanece como era antes. Esta ocupada por Filemo e Bucia, um ve-lho e simptico casal que a est h tempo sem conta. Eles tm um pequeno chal sobre as dunas, uma capela com um pequeno sino, um jardim repleto de tlias e oferecem aju-da e hospitalidade a marinheiros nufragos e sonhadores. Com o passar dos anos, torna-ram-se bem-amados como a nica fonte de vida e alegria nessa terra desolada."(BER-MAN, 1987, p. 66, grifo da autora)
REFERNCIAS
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar. A aventura da moder-nidade. So Paulo: Companhia das Le-tras, 1987.
BRADBURY, Malcolm; MCFARLANE, James. O nome e a natureza do modernismo. In ______ (Org). Modernismo. Guia Geral, 1890-1930. So Paulo: Ed. Schwarcz Ltda., 1989, p. 13-42.
BULLOCK, Alan. A dupla imagem. In: BRAD-BURY, M. e MCFARLANE, J. (Org). Modernis-mo. Guia Geral, 1890-1930. So Paulo: Ed. Schwarcz Ltda., 1989, p. 43-54.
CAPOLAVORI della pittura. Novara: De Agos-tini, 1992.
CHILVERS, Ian. Dicionrio Oxford de arte: trad. Marcelo Brando Cipolla. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
GAUGUIN. Coleo de Arte. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1997.
GRASSI, Ernesto. Arte e mito. Lisboa: Edio Livros do Brasil, s/d.
HUERA, Carmen. Larte primitiva. In: STORIA Universale dellarte. Novara (Itlia): De Agos-tini, 1991. v. 10.
LAMBERT, Rosemary. Il novecento. Milano: Leonardo, 1989.
LAPLANTINE, Franois. Aprender antropolo-gia. So Paulo: Brasiliense, 1996.
MICHELI, Mario de. As vanguardas artsticas. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
MICHELI, Mario de. Le avanguardie ar-tistiche del novecento. Milano: Feltrine-li, 1979.
SCARDUELLI, Pietro. Elementi di antropo-logia culturale. In: Umberto Melotti (Org.).
Maria M. S. Barros
44 Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.
-
Introduzione alla sociologia. Milano: UNI-COPLI, 1980, p. 465-520.
STORIA Universale dellArte Novara: De Agostini, 1991.
SUBIRATS, Eduardo. Da vanguarda ao Ps--moderno. So Paulo: Nobel, 1991.
VERDONI, Mario. Il Futurismo. Milano: Newton, 1994.
O primitivismo no modernismo
45Cad. Pesq., So Lus, v. 18, n. 1, jan./abr. 2011.