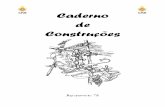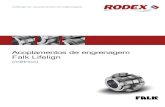451
-
Upload
everton-demetrio -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of 451
-
1
A IDENTIDADE CULTURAL A PARTIR DO LUGAR: NOTAS SOBRE AUG, DAMATTA E HALL
MARQUES, ADEILSON DE ABREU (1)
Mestrado Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, da Universidade Federal do Maranho.
Resumo
Este trabalho procura fazer uma discusso da identidade cultural a partir do lugar. A anlise
apia-se nas obras de trs tericos: Marc Aug, com seu No-lugares: introduo a uma
antropologia da supermodernidade; Roberto Damatta, com o livro A casa e a rua; e Stuart Hall,
em seu A identidade cultural na ps-modernidade. A leitura proposta investiga, nas trs obras,
a ideia de lugar e, ao mesmo tempo, quais concepes de identidade podem ser observadas
nos trs tericos elencados.
Palavras-chave: Lugar. Identidade cultural. Marc Aug. Roberto Damatta. Stuart Hall.
-
2
1 INTRODUO
A identidade cultural uma questo das mais discutidas nos dias de hoje pelas
cincias sociais e humanas. Sua definio parece flutuar, uma vez que no parece
haver consenso sobre o que de fato pode ser compreendido como identidade cultural.
O que define uma identidade? Toda identidade no estaria j atrelada a uma cultura e,
por conta disso, no seria redundante falar em identidade cultural? Para fins desse
estudo, considera-se que a identidade completude, totalidade, a soma de tudo que
compe o pensamento de uma coletividade; j cultural refere-se ao saber, no sentido
de que aglutinar uma palavra a outra resulta na perspectiva de que o indivduo no s
vive a identidade, mas, alm disso, se reconhece nela, contempla-a, cultiva-a e
fundamenta sua existncia naquilo que, de mais idiossincrtico, sua identidade possui.
A questo da identidade acaba sendo determinada, influenciada e/ou condicionada por
fatores como lugar, gnero, histria, orientao sexual, nacionalidade, credo religioso,
etnia, entre outros aspectos. Assim, individual ou coletivamente, a cultura de onde vive
a pessoa acaba por determinar padres de conduta, tipos de personalidade e
temperamento e outros itens que compem a personalidade. Na histria da evoluo
das sociedades, a identidade cultural de cada povo parece ter se conservado mais
bem definida, com limites perceptveis e fronteiras a serem observadas e percebidas
com maior clareza tanto por quem fazia parte daquele horizonte quanto por quem
travava contato com ele.
Entre os elementos apontados como referenciais para o entendimento da identidade
cultural, tem-se o lugar. Segundo Yi-Fu Tuan, terico da Geografia Humanista,
perspectiva de anlise que empresta valiosos conceitos para pesquisas em diversas
reas, lugar no algo to banal quanto se pode pensar. Os trabalhos mais
importantes para a consolidao dessa rea so Topofilia: um estudo da percepo,
atitudes e valores do meio ambiente, de 1974, e Espao e lugar: a perspectiva da
experincia, de 1983. Ao propor uma teoria da percepo da paisagem, Tuan aponta
caminhos: a paisagem percebida e experenciada pelo homem, o que produz, nesse
homem, atitudes e valores distintos, como resultado de trs fatores: o homem, o
espao e a cultura. O gegrafo concebe a perspectiva de que os seres humanos
estruturam a realidade que os cercam em oposies binrias, pois, segundo ele, a
mente humana parece estar adaptada para organizar os fenmenos no s em
segmentos, como para arranj-los em pares opostos (Tuan, 1980, p. 18).
-
3
Espao e lugar, por sua vez, embora possam parecer sinnimos, para Tuan, no o
so. O primeiro visto como uma abstrao, posto que tudo pode e espao, uma
vez que, para o homem, sem haver proximidade, conhecimento, sentimento ou
intimidade quanto a uma extenso da cidade, do pas ou do mundo ser to-somente
espao, marcado pela ausncia de vnculo, de sentimento, de proximidade e pelo
movimento, o trnsito, o que, via de regra, no permite ao ser criar laos. O espao
o desconhecido, o no conhecido (ainda). Assim, o que comea como espao
indiferenciado transforma-se em lugar medida que o conhecemos melhor e dotamos
de valor (Tuan, 1983, p. 6).
Lugar, por sua vez, traduz-se como algo mais concreto. Sua perspectiva esttica,
posto que a ausncia de movimento cria condies para o afeioar-se, para a
intimidade, para uma experincia de conhecimento, de segurana e concretude, ou
seja, em um lugar que cada pessoa se encontra, se descobre, se percebe presa ao
mundo, forja laos de amizade, de afeto, de fidelidade e de apego. Dessa forma, o
lugar uma classe especial de objeto. uma concreo de valor, embora no seja
uma coisa valiosa, que possa ser facilmente manipulada ou levada de um lado para
outro; um objeto no qual se pode morar. (Tuan, 1983, p. 14). Logo, espao e lugar
so tratados sob a tica da experincia, das relaes pessoais, do aspecto temporal,
do mito, dos valores espaciais e outras abordagens cuja relevncia mpar.
Nessa proposta de anlise, espao e lugar sero alvo de comparaes, citaes e
interpretaes das obras dos trs autores elencados na perspectiva de Tuan.
2 MARC AUG: ITINERRIOS DA SUPERMODERNIDADE A
PARTIR DOS NO-LUGARES
A obra No-lugares: introduo a uma antropologia da supermodernidade, de Marc
Aug, foi lanada em 1992, na Frana, e procura teorizar sobre um tema, para as
cincias sociais, relativamente novo: os lugares de uso comum e frequente mas que
no fortalecem nas pessoas laos de amizade, afetividade e conhecimento do outro.
Em sua teoria da supermodernidade, o autor enfatiza aspectos contraditrios da vida
moderna: se por um lado as comunicaes evoluram muito, por outro, a solido
aumentou bastante; o que produz um estranho caminho de relaes entre o eu e o
outro que convivem diariamente sem se conhecerem. Os no-lugares constituem
espaos de uso annimo e estereotipado, sem historicidade e com a presena de
pessoas intensivamente em trnsito: aeroportos, hotis, autoestradas, lojas de
departamento e afins.
-
4
Em linguagem bastante acessvel, que oscila entre potica e historicista, Aug
descreve a supermodernidade como um cenrio de contradies, de concretude e
abstraes:
Os no-lugares so tanto as instalaes necessrias circulao
acelerada das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodovirios,
aeroportos) quanto os prximos meios de transporte ou os grandes
centros comerciais, ou ainda os campos de trnsito prolongado onde
so estacionados os refugiados do planeta. Porque vivemos uma
poca, tambm sob esse aspecto, paradoxal: no prprio momento em
que a unidade do espao terrestre se torna pensvel e em que se
reforam as grandes redes multirraciais, amplifica-se o clamor dos
particularismos; daqueles que querem reencontrar uma ptria, como
se o conservadorismo de uns e o messianismo dos outros estivessem
condenados a falar a mesma linguagem a da terra e das razes.
(Aug, 1994, p. 36 e 37)
Dessa maneira, o que Aug aponta um cenrio cujos horizontes apresentam formas
e cenrios marcados, por um lado, pela impessoalidade, formalismo, velocidade e
distanciamento; e, por outro, por um contexto de oscilaes entre particularismos e
multiculturalismos, entre os tradicionalismos e as benesses da vida moderna. A leitura
feita por este autor busca realizar uma antropologia da contemporaneidade,
enfatizando, com isso, o lugar antropolgico que, segundo sua percepo,
identitrio, relacional e histrico. Isso significa, entre outras coisas, reaprender a
pensar o espao que, observa o terico, est cada vez mais vtima de um processo de
homogeneizao ou mundializao da cultura. Com isso, h, nessa
supermodernidade defendida por ele, uma crescente e constante perda de divisas de
territrios, em um plano simblico, o que resulta em apagar as identidades de forma s
vezes sutil, s vezes agressivamente. Outro tpico abordado na obra refere-se
necessidade de simbolizar os constituintes da identidade partilhada, uma vez que os
indivduos precisam pensar a identidade e sua relao com as identidades adjacentes.
A fim de perpetuar tais identidades, fundamental a criao de monumentos: para que
os atores/protagonistas sociais no fiquem merc das contingncias temporais.
Logo, o corpo humano visto tambm como um territrio e h igualmente uma
identificao do lugar com o poder que ele exerce. Por fim, sua obra explicita de que
forma, nesse contexto de supermodernidade, se vai dos lugares ao no-lugares e
como tais direcionamentos podem ser interpretados pelo olhar antropolgico.
-
5
3 STUART HALL: IDENTIDADES FRAGMENTADAS NA PS-
MODERNIDADE
Stuart Hall um dos pensadores mais influentes da atualidade. De origem jamaicana,
ele trabalha no Reino Unido e constri uma teoria dos estudos culturais a partir deste
referencial de lugar. A obra A identidade cultural na ps-modernidade foi lanada em
1992 e busca discutir vrios aspectos relativos ps-modernidade e s identidades
nacionais. A posio defendida pelo autor a de que as identidades, hoje, so
fragmentadas por conta de vrios tpicos que so analisados ao longo da obra. Assim,
Hall inicia sua discusso apresentando trs concepes de identidade: a do sujeito do
Iluminismo; a do sujeito sociolgico; e a do sujeito ps-moderno. Sua tese consiste em
enunciar o modo como as identidades modernas esto sendo descentradas, ou seja,
deslocadas ou fragmentadas.
O terico enfatiza que, ao invs de identidade, poder-se-ia e dever-se-ia falar em
identificao:
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada,
deveramos falar de identificao, e v-la com um processo em
andamento. A identidade surge no tanto da plenitude da identidade
que j est dentro de ns como indivduos, mas de uma falta de
inteireza que preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas
atravs das quais ns imaginamos ser vistos por outros. (Hall, 2011,
p. 39)
Nesse perspectiva, o conceito de identidade marcado pela complexidade, porm,
ainda sim, Hall usa a palavra identidade e no identificao. Isso porque h um duplo
deslocamento ou descentrao do sujeito: ao mesmo tempo que o indivduo sente-se
deslocado de seu lugar no mundo social e cultural, ele se sente deslocado de si
mesmo, o que gera, conforme o autor, uma crise de identidade do sujeito. A
identidade forjada na interao entre o eu e a sociedade. O sujeito ps-moderno,
que o objeto de investigao do terico, conceituado como no tendo uma
identidade fixa, essencial e permanente. As mudanas oriundas da ps-modernidade
resultam em nfase na descontinuidade, na fragmentao, na ruptura e deslocamento.
Amparados nesse contexto, as naes modernas so todas hbridos culturais. A
globalizao promoveu/promove novas combinaes de tempo e espao, posto que
atravessar fronteiras j no problema intransponvel, o que ocasiona em tornar o
-
6
mundo mais interconectado e interdependente. Essa compresso tempo-espao e
identidade feita por esta aparente eliminao das distncias. A globalizao,
portanto, promove um impacto colossal sobre as identidades culturais e essas esto
intimamente ligadas ao lugar.
Enfim, o texto destaca que o ps-moderno global caracteriza-se por um intenso fluxo
de bens culturais (o cinema, a msica, a moda) e um consumismo global, o que gera,
na terminologia de Hall, identidades partilhadas. Esse discurso do consumismo
global leva as identidades a serem influenciadas por um mercado de estilos, tornando-
se desvinculadas e desalojadas. H, por conseguinte, uma tenso entre o global e o
local, que concorrem para a transformao das identidades. A proposta defendida por
ele destaca a ideia de uma nova articulao entre o global e o local, isto , uma nova
geometria do poder (tal referncia tomada por emprstimo obra de Doreen
Massey). Isso porque, na atual configurao, h os que produzem a ps-modernidade,
em termos de tecnologia, avanos cientficos, qualidade de vida, e outros que,
basicamente, apenas consomem imagens e sons do que o outro polo produz. Assim,
esse cenrio de fato figura como um permanente processo de ocidentalizao do
planeta, que gera, por sua vez, categorias de identidades problemticas.
4 ROBERTO DAMATTA: ENTRE O ESPAO PBLICO E O
LUGAR DA INTIMIDADE
Roberto Damatta destaca-se, no cenrio brasileiro, como um dos mais renomados
antroplogos. Sua obra dedica-se a estudar o Brasil em seus dilemas, contradies e
tambm em suas possibilidades e perspectivas de soluo para seus paradoxos. Um
dos grandes mritos de sua obra o fato de acessibilizar ao pblico no especializado
a antropologia por meio de uma linguagem fcil, quase em tom de conversa, no
entanto, sem perder nunca sua cientificidade. A leitura proposta por ele apia-se na
observao da cultura atravs das festas populares, a religiosidade, literatura, leis,
costumes e tradies, entre outros aspectos.
Para fins deste trabalho, so tomados dois livros de Damatta: A Casa e a Rua, de
1997, e O que faz o brasil, Brasil?, de 1984. Do primeiro, a ateno volta-se ao
captulo Espao Casa, rua e outro mundo: o caso do Brasil; j na segunda obra,
dedica-se interesse ao captulo O que faz o brasil, Brasil? A questo da identidade.
Seu trabalho aborda bem a relao de duas espcies de sujeito, o indivduo e a
pessoa, que se situam em dois espaos sociais distintos e complementares: a casa e
a rua. Para distinguir um do outro, Damatta escreve o bastante conhecido Voc sabe
-
7
com quem est falando? E, nesse contexto, quem faz a pergunta julga-se detentor de
direitos; j a quem direcionada a pergunta considera-se meros indivduos, uma
pessoa a mais na multido, apenas um nmero.
Nas obras em anlise, a rua constitui o espao pblico. Pertence a todos, assim no
de ningum, tem-se ali um espao hostil, onde leis e princpios ticos nem sempre so
respeitados, exceto sob o olhar podador da lei e da autoridade constituda. A vida na
rua s existe em funo de negociaes, contratos sociais que so apreendidos pela
convivncia. J a casa, por sua vez, o lugar da intimidade, da autenticidade do ser,
onde o homem pode mostrar quem de fato.
A identidade, nesse cenrio de contrapontos, feita pela observao desses dois
espaos, a casa e a rua. Sobre esses espaos, esclarece o terico:
Em todo caso, se a casa distingue esse espao de calma, repouso,
recuperao e hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa
ideia de amor, carinho e calor humano, a rua um espao
definido precisamente ao inverso. Terra que pertence ao governo ou
ao povo e que est sempre repleta de fluidez e movimento.
(Damatta, 1997, p. 57)
Logo, a identidade tem seu foco nessa dupla possibilidade: ora se casa, ora se
rua. H um constante jogo de revezamento de identidades, uma vez que o ser
humano possui comportamentos, hbitos, tica e moral distintos dependendo de onde
ele se encontra. Essa mudana de perfil do ser humano reflexo, entre outras coisas,
de um longo processo de contradies, antteses e paradoxos que perfazem o cenrio
multicultural, multirracial, ambguo e polissmico que compe a histria do Brasil. A
poltica, a economia, a histria e outras facetas do desenvolvimento do pas legaram
um farto material sociolgico a ser observado, discutido, teorizado e pensado em suas
solues e limitaes. Assim, sobre o Brasil,
Conhecemos e convivemos com suas manifestaes polticas (a
negociao e a conciliao) e econmicas (uma economia que
estatizante e ao mesmo tempo segue as linhas mestras do
capitalismo clssico), mas de certo modo no discutimos as
implicaes sociolgicas mais profundas. E, para mim, essas
implicaes se escondem nesta ligao ou capacidade relacional
do antigo com o moderno, que tipifica e singulariza a sociedade
brasileira. (Damatta, 1986, p. 19)
-
8
A sociedade brasileira tida como relacional, entendida em uma perspectiva em que
as relaes que so fundamentais e no os indivduos. Nessas obras, portanto,
Damatta aponta a ideia de demarcao especial, de tempo e espao, de gramtica de
espaos, a teoria de que, no pas, vive-se na e entre a passagem. Alm disso, fala
tambm sobre espaos que so concebidos como eternos e transitrios, outros legais
e mgicos e h tambm os que so de excluso e de transitoriedade e problemticos.
O discurso, e por extenso a identidade se revela nele, feito a partir do lugar onde o
sujeito de encontra, isto , a fala determina-se em funo do lugar, de sua dimenso
poltica, do papel social exercido pelo indivduo assim como pela heterogeneidade
complementar e hierarquizada centrada nas relaes (famlia, amigos, trabalho,
religio).
5 A IDENTIDADE CULTURAL: PONTOS E CONTRAPONTOS A
PARTIR DO LUGAR
O lugar determina inquestionavelmente a construo da identidade cultural. Isso
porque o lugar que permite ao homem forjar laos de identificao e tambm um
sentimento de pertencimento. O lugar ponto de apoio, de certezas, constitui um
referencial para quem vive em determinado espao. ele que permite ao homem ter
razes e desejar ser naquele e para aquele lugar algo. Nesse trabalho, considera-se
lugar diferente de espao. Lugar visto como conhecimento, intimidade, sentimento
de pertencimento, aproximao, raiz. Espao, por sua vez, a falta de afeioamento,
no exatamente a indiferena, mas o no conhecimento, a transitoriedade, a
passagem, o acesso sem a pausa.
Tanto Aug quanto Hall e Damatta apresentam pontos singulares de entendimento
acerca da identidade vista sob a tica do lugar. Aug permite compreender a
identidade como algo to inerente ao ser humano, nessa perspectiva de lugar, que o
prprio corpo humano figura como uma extenso do lugar:
Sem dvida, pode-se imputar esse efeito mgico da construo
espacial ao fato de que o prprio corpo humano concebido como
uma poro de espao, com suas fronteiras, centros vitais, defesas e
fraquezas, com sua couraa e defeitos. Ao menos no plano da
imaginao (mas que se confunde para inmeras culturas com
aquele da simblica social), o corpo um espao compsito e
-
9
hierarquizado que pode ser investido do exterior. (Auge, 1994, p.
59)
Assim, o pertencimento ao lugar to grande, pelo que se pode depreender de Auge,
que a identidade cultural est fixada por meio dessa extenso que o corpo: uma
continuao do lugar, que no se limita paisagem, ao imagtico, ao concreto, ou
seja, perpassa o simblico do corpo e no corpo mesmo.
J Hall, em sua leitura da ps-modernidade, aponta que as identidades, hoje, sofrem
um grande processo influncias globais. Ou seja, as identidades culturais precisam se
adaptar ao contexto de interdependncia mundial, no qual a moda, o cinema, a arte
em geral e a tecnologia ditam comportamentos e procura padronizar hbitos de
consumo. Assim,
Em certa medida, o que est sendo discutido a tenso entre o
global e o local na transformao das identidades. As identidades
nacionais, como vimos, representam vnculos a lugares, eventos,
smbolos, histrias particulares. Elas representam o que algumas
vezes chamado de uma forma particularista de vnculo ou
pertencimento. (Hall, 2011, p. 76)
O que Hall prope que o lugar tem sido tensionado como nunca por uma enxurrada
de informaes, hbitos, padronizao de arquitetura, costumes, consumismo e
globalizao numa escala nunca antes vista. Isso se reflete na forma como as
identidades so vistas e tambm como elas se autodefinem.
J Roberto Damatta, ao discutir o caso brasileiro, a identidade aparece como
complexa, marcada no por uma valorizao do indivduo, mas sim por uma
sobreposio das relaes, ou seja, h uma identidade fluida, que varia conforme as
relaes que se estabelecem entre os indivduos. Logo, No Brasil, por contraste, a
comunidade necessariamente heterognea, complementar e hierarquizada. Sua
unidade bsica no est baseada em indivduos (ou cidados), mas em relaes e
pessoas, famlias e grupos de parentes e amigos. (Damatta, 1997, p. 77).
Dessa maneira, vive-se uma identidade multifacetada, cheia de hierarquias, de
convenes e ritos que demarcam papeis sociais distintos, enfatizando a segregao.
A identidade, no caso do Brasil, figura entre essa oscilao: casa e rua. A primeira
vista como espao da intimidade e da autenticidade do ser humano; a segunda
figuraria como espao, e no lugar, onde emergem as fronteiras entre o que ser
pessoa e o que ser indivduo.
-
10
As trs obras dos autores vistos enfatizam o lugar sob pontos de vista distintos e, ao
mesmo tempo, complementares. A identidade cultural um vnculo que sugere
pertencimento, afeio, intimidade e constituio mesma da personalidade do
indivduo. Lugar e identidade cultural andam de mos dadas sempre, embora as
relaes que se estabeleam entre eles sejam, nem sempre, como foi visto,
harmoniosas, pacficas e de fcil entendimento e descrio. Se em Aug a identidade
cultural surge como contraponto entre lugar e no-lugar, em Hall aparece como uma
tentativa de conciliar os efeitos do global e do local, e, por sua vez, em Damatta, a
identidade caminha da direo de contrapor esses dois aspectos da vida do brasileiro,
a casa e a rua. Assim, a identidade cultural, nos trs autores, surge sempre como
resultado de uma anttese, de um paradoxo ou de um contraponto. A complexidade da
identidade igual, seja ela descrita a partir de um contexto francs, ingls ou
brasileiro. Em todos, as marcas que a distinguem so singulares, complexas e
pautadas em relaes diversas que se estabelecem a partir dos vrios contextos que
compem a vida em sociedade.
REFERNCIAS
AUG, Marc. No-lugares: introduo a uma antropologia da supermodernidade.
Campinas: Papirus, 1994.
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
DARDEL, Eric. Pontos de vista sobre a percepo de paisagens. In: NEGREIROS,
Carmem. LEMOS, Mas. ALVES, Ida. Literatura e Paisagem em dilogo. Rio de
Janeiro: Edies Makunaima, 2012.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.
MARANDOLA JR., Eduardo; HOLZER, Werther; OLIVEIRA, Lvia de (Org.). Qual o
espao do lugar?: Geografia, epistemologia, fenomenologia. So Paulo: Perspectiva,
2012.
TUAN, Yi-Fu. Espao e lugar: a perspectiva da experincia. So Paulo: Difel, 1983.
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepo, atitudes e valores do meio ambiente.
So Paulo: Difel, 1980.