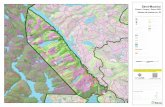4
-
Upload
fabianosilva -
Category
Documents
-
view
8 -
download
1
Transcript of 4

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
1
DO KULA TROBRIANDÊS AO “HAU” DOS KWAKIULT– REFLEXÕES
ACERCA DA ECONOMIA NAS SOCIEDADES PRIMITIVAS
E SUA CRÍTICA.
Aglaé Isadora Tumelero1
Resumo Resumen
Motiva esse trabalho a pergunta: até que ponto os
instrumentos da nossa Ciência Econômica
Ocidental são aplicáveis à compreensão da forma de
organização de outras sociedades, das sociedades
primitivas? Na tentativa de trazer luz a esse
questionamento, apresentarei as diferentes respostas
que duas das principais correntes da Antropologia
Econômica oferecem, começando por situar o
próprio surgimento da Antropologia Econômica em
seu devido contexto, passando pela discussão que a
corrente formalista fomenta através de um de seus
expoentes – Melville Herskovitz, desembocando em
seguida na interpretação substantivista,
representada, principalmente, por Karl Polanyi e,
mais recentemente, por Cris Gregory, finalizando
com um breve esboço da crítica feita a essas duas
interpretações por Marshal Sahlins, Arjun
Appadurai e Marilyn Strathern.
Motiva este trabajo la cuestión: en qué medida los
instrumentos de nuestra ciencia económica occidental
son aplicables a la comprensión de la forma de
organización de otras sociedades, las sociedades
primitivas? En un intento de llevar la luz a esta
pregunta, voy a presentar las diferentes respuestas a
dos de las principales corrientes de la oferta
Antropología Económica, empezando por poner el
mismo surgimiento de la antropología económica en el
contexto adecuado, paso ala discusión que la corriente
formalista fomenta a través de su exponente Melville
Herskovitz -, dando lugar entonces a interpretación
sustantivista, representada principalmente por Karl
Polanyi y, más recientemente, por Chris Gregory,
terminando con una breve reseña de las críticas de
estas dos interpretaciones de Marshall Sahlins, Arjun
Appadurai y Strathern Marilyn.
Palavras chaves: Formalismo, Substantivismo,
Fetichismo, Economia primitiva, Antropologia
Econômica.
Palabras claves: Formalismo, Sustantivismo,
Fetichismo, Economía Primitiva, Antropología
Económica.
1 Acadêmica do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Semestre 2012.2.
Contato: [email protected]

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
2
Antropologia Econômica
A Antropologia Econômica surge dentro
da antropologia, paralelamente, a um
contexto de discussão próprio da Ciência
Econômica, que é o debate entre Economia
Política e Economia Neoclássica. O
primeiro a lançar as bases para a construção
de uma Antropologia Econômica é
Malinowski, em seu estudo sobre o circuito
Kula dos povos Trobriand da Nova Guiné
no Pacífico Sul, publicado em 1922.
Vamos, portanto, às distinções.
A Economia Política, também chamada de
macroeconomia, foi a principal corrente da
Ciência Econômica até 1870 e se caracteriza
por um holismo metodológico, isto é, pela
premissa muito bem expressa por Aristóteles
de que “o todo é maior do que a simples
soma de suas partes”. O foco da economia
política era a (re)produção social da
sociedade capitalista, as relações sociais de
produção, as leis de movimento do
capitalismo e as relações sociais objetivas
como, a divisão social do trabalho, a
produção, a circulação, a distribuição e o
consumo de mercadorias entre os homens.
A atividade econômica era vista como
essencialmente coletiva, social. A principal
expressão dessa premissa é a teoria do valor
trabalho, segundo a qual o valor da
mercadoria é a quantidade de tempo de
trabalho investido nela. Os principais
pensadores dessa corrente foram David
Ricardo, Adam Smith e Karl Marx. Essa
concepção de economia seria o alicerce,
posteriormente, da corrente substantivista
dentro da Antropologia Econômica.
A partir de 1870, o centro de preocupação de
grande parte dos economistas desloca-se para
o que seria chamado de Revolução Marginal
e tem início um período da economia
chamado de Neoclássico. O foco do princípio
marginal não era o aspecto social, mas sim a
análise geral da escassez e a escolha racional
individual. O axioma que guiava essa
corrente era de que o individuo possui
desejos ilimitados e meios limitados para
satisfazê-los, e por isso depara-se com uma
situação de escassez, tendo então, que fazer
escolhas, especificamente escolhas racionais.
Vale dizer, racional no sentido de maximizar
utilidade. Assim, o raciocínio de mercado era
aplicado a toda ação humana e as relações
dos homens com as coisas eram vistas como
relações subjetivas, uma vez que para essa
interpretação os desejos que impulsionam as
escolhas são subjetivos, resultando numa
teoria do valor utilidade que postulava que o
comportamento individual explica o todo.
Os marginalistas forneceram conceitos
microeconômicos, utilizando ferramentas
básicas de demanda e oferta, satisfação dos
consumidores e uma base matemática para a
utilização dessas ferramentas. A economia

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
3
então passou a ser vista como uma ciência
exata e o indivíduo como um consumidor,
um homo economicus. Os principais
expoentes dessa corrente são Carl Menger,
Stanley Jevons e Léon Walras. Essa
concepção de economia forneceria os
instrumentos conceituais, posteriormente,
para a corrente formalista da Antropologia
Econômica.
Em 1922, quando Malinowski publica sua
obra Os Argonautas do Pacifico Ocidental, a
concepção neoclássica de economia já era
dominante. O estudo do circuito Kula dos
povos Trobriand da Nova Guine é uma
espécie de economia política primitiva e se
opõe a todas as teorias neoclássicas que
postulam o comércio primitivo como
silencioso, individualista e utilitário. A noção
de comércio silencioso definida pelo
antropólogo James Frazer, postula que, por
exemplo, se uma tribo X produz arcos e
flechas e uma tribo Y produz panelas de
cerâmica, e uma vez que uma tribo precisa
daquilo que a outra produz, a troca entre os
produtos será igual. Isto é, uma quantidade
“n” de arcos e flechas, corresponderá a uma
quantidade “n” de panelas de cerâmica. Tal
pressuposto remete à ideia de troca utilitária
motivada por um interesse individual, egoísta
e imediato.
Segundo Malinowski (1978), o Kula é uma
forma de troca intertribal de caráter
semicomercial e cerimonial bastante ampla,
praticada por comunidades localizadas num
conjunto de ilhas que formam um circuito
fechado, unindo uma ilha a outra ao norte e
ao leste do extremo oriente da Nova Guiné.
Ao longo dessa rota dois tipos de artigos
viajam constantemente em direções opostas,
os soulva (colares feitos de conchas
vermelhas) e os mwali (braceletes feitos de
conchas brancas). Cada movimento desses
dois artigos é fixado e regulado por uma série
de regras e convenções tradicionais e
associado a essa troca está, paralelamente,
uma série de atividades secundárias como um
comércio comum, onde se negocia de uma
ilha para a outra bens que não são fabricados
pelo distrito que os importa, mas são
indispensáveis à sua economia.
Malinowski (1978) considera o kula como
uma instituição econômica por estar
associado à troca de riquezas e de objetos de
utilidade. Entretanto, segundo ele, o kula
contradiz a definição de comércio primitivo,
isto é, trocas de artigos indispensáveis, ou
úteis, executadas sem quaisquer cerimônias e
sem qualquer regulamentação, motivadas
pela pressão da carência ou da necessidade.
O kula, ao contrário, está enraizado em
mitos, sustentado pelas leis da tradição e
cingido por rituais mágicos. Todas as
transações são públicas e cerimoniais,
realizando-se periodicamente em datas pré-

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
4
estabelecidas, ao longo de rotas comerciais
definidas que conduzem a locais fixos de
encontro.
Segundo Malinowski (1978), o ganho, por
exemplo, que é frequentemente o estímulo ao
trabalho nas comunidades mais civilizadas,
jamais funciona como incentivo para o
trabalho sob as condições tipicamente
nativas. Assim, “o homem que está habituado
a raciocinar nos termos da atual teoria
econômica, aplica ao trabalho noções de
oferta e procura e, em consequência, aplica-
as também ao trabalho nativo”, porém, “se
analisarmos através de padrões morais, legais
e econômicos, também essencialmente
estranhos a ele, o resultado de nossa análise
não passará de uma caricatura da realidade”.
(Malinowski, 1978, p. 81). Em sua analise do
circuito Kula, Malinowski rompe tanto com a
noção de egoísmo primitivo, quanto com a
noção ingênua de comunismo primitivo e
inspirará reflexões sobre as origens da
riqueza e do valor, do comércio e das
relações econômicas em geral.
Formalistas versus Substantivistas
Os termos usados para designar as duas
principais correntes dentro da Antropologia
Econômica- que fazem uso dos métodos e
instrumentos tanto da Economia Política
como da Economia Neoclássica para explicar
o funcionamento da organização econômica
dentro das sociedades primitivas – são parte
importante do pensamento de Karl Polanyi, o
qual preocupado com a questão metodológica
de evitar a “falácia economicista” que
consiste na identificação automática da
economia com sua forma de mercado,
distingue entre a concepção formal e
substantiva de economia.
Herskovits e o ato humano universal
Um dos principais antropólogos da corrente
formalista é o americano Melville
Herskovits. Segundo Herskovits em sua obra
“Antropologia Cultural – Man and his
works”, a maior parte das sociedades tem
uma economia dual: uma para satisfação das
necessidades primárias (biológicas) e outra
orientada para a satisfação das necessidades
psicoculturais, como o desejo de prestígio,
por exemplo.2 A economia de prestígio, no
entanto, só pode existir onde os mecanismos
de produção fornecem mais do que o
necessário para satisfazer as necessidades
biológicas, ou seja, depende da existência de
um excedente econômico. A existência desse
excedente econômico por sua vez, depende
do tamanho da população, de condições
ambientais e da capacidade tecnológica.
Assim, segundo Herskovits, apenas “os
grupos maiores atingem per capita uma
2 O Kula descrito por Malinowski, por exemplo, sob
a perspectiva formalista seria enquadrado como uma
economia de prestígio.

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
5
produtividade superior às suas necessidades,
enquanto que os menores não” e, portanto
“[...] o papel do excedente econômico é, ao
liberar da necessidade de trabalhar
estritamente para viver, proporcionar o ócio
social”. (Herskovits 1963, p.70). Esta é,
portanto, uma interpretação materialista da
economia primitiva, pois postula que na
medida em que as condições materiais vão se
aprimorando é que se torna possível o
desenvolvimento das condições culturais.
Para a interpretação formalista a escassez de
bens em vista das necessidades de um
determinado povo e em um contexto dado
constitui um feito universal da experiência
humana, sendo uma “[...] verdade óbvia que
as necessidades são suscetíveis de uma
graduação de expansão cujo limite não foi
alcançado por nenhuma sociedade
conhecida” (Herskovits, 1963, p. 13) e que,
consequentemente, o ato de economizar (isto
é, maximizar utilidade, alocar racionalmente
os recursos disponíveis para satisfazer fins
alternativos de modo a garantir o máximo de
resultado com o menor custo possível) é
tipicamente um ato humano universal.
Herskovits ressalta, entretanto, que esse ato
humano universal se realiza dentro de uma
matriz cultural, ou seja, “las convenciones
sociales, las creencias religiosas, las ideas
esteticas y los preceptos éticos contribuyem a
conformar las necessidades de los pueblos y
el momento, el lugar y las circunstancias em
que pueden satisfacerse”. (Herskovits, 1963,
p. 15).
Polanyi e a falácia economicista
A corrente substantivista é representada,
principalmente, pelo filósofo e historiador
austríaco Karl Polanyi. Segundo Polanyi
(1976), o termo econômico é composto de
dois significados que possuem raízes opostas
e independentes: o significado substantivo e
o significado formal. Para ele, somente a
perspectiva substantivista pode fornecer os
conceitos necessários para as ciências sociais
compreender outras culturas, pois a
“utilização do significado formal implica que
o sistema econômico seja uma sequência de
atos para economizar, quer dizer, de escolhas
induzidas por situações de escassez, e tal
situação só se consegue num sistema de
mercado” (Polanyi, 1976, p. 23). Segundo
Polanyi (1976), o primeiro obstáculo que se
opõem a essa tarefa é a confusão entre os
dois significados, decorrente de uma
contingência histórica nos últimos 150 anos
na Europa e na América do Norte que é o
surgimento e expansão dos mercados
formadores de preço, isto é, os preços surgem
das relações dinâmicas entre oferta e procura.
O mercado formador de preço se constitui
como forma de integração dominante,
abrangendo em suas relações de oferta e

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
6
procura tanto terra e trabalho, quanto força
humana e tudo o que puder quantificar. É
nele que as ações dos indivíduos assumem a
forma de escolha entre fins alternativos a
partir de meios limitados, sendo tais escolhas
expressas e determinadas nos preços. É
nessas relações que reside a simbiose entre a
concepção substantivista e formalista e que,
consequentemente, gera a falácia
economicista, segundo a qual todos, ou
grande parte, dos comportamentos humanos
reduzem-se a escolhas entre fins alternativos
com base nos meios limitados disponíveis e
que os princípios da escassez e escolha
racional, típicos da situação de mercado,
operam e explicam outras formas de
comportamento econômico. Polanyi não
descarta que a interação entre a definição
formal e a substantivista seja válida, mas
ressalta que só é válida para explicar uma
sociedade de mercado.
Segundo Polanyi (1976), a origem do
conceito substantivo do econômico é o
sistema econômico empírico, isto é, o
processo instituído de interação entre o
homem com o meio ambiente, que tem como
consequência e propósito um contínuo
abastecimento dos meios materiais que
necessitam ser satisfeitos. O sistema
econômico é, portanto, um processo
institucionalizado. Assim, dessa definição
emergem aqui dois conceitos, o de processo
e o de institucionalizado. O primeiro sugere
o movimento, a produção, a redistribuição e
o consumo dos recursos, isto é, a dinâmica
do processo; e o segundo, refere-se à
unidade, a estabilidade e a interdependência
do processo econômico, o modo de
organização, ou seja, as estruturas que
surgem com função determinada na
sociedade. O objeto de estudo para os
substantivistas é, portanto, a forma como o
processo econômico é instituído, e o aparato
conceitual substantivo baseia-se nas formas
de integração, isto é, na maneira como a
economia adquire unidade e estabilidade,
através da interdependência e recorrência de
suas partes.
Polanyi (1976) define três formas de
integração: Reciprocidade, Redistribuição e
Intercâmbio. Enquanto a reciprocidade
denota movimentos entre pontos correlativos
de agrupamentos simétricos e pressupõe
como pano de fundo agrupamentos
simetricamente dispostos, a redistribuição,
concomitantemente, designa os movimentos
de apropriação para um centro e logo para o
exterior, dependendo em certa medida da
presença de centralidade no agrupamento. O
intercâmbio, por sua vez, para poder servir de
forma de integração requer um sistema de
formação de preços pelo mercado. Polanyi
(1976) distingue três classes de intercâmbio:
1) o movimento meramente local de troca de

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
7
lugar de empresas (intercâmbio operacional);
2) o movimento aproximativo de
intercâmbio, com um índice fixo
(intercâmbio decisional) e 3) o intercâmbio
com um índice contratual (intercâmbio
integrador).
Ao distinguir entre os setores e os níveis da
economia, essas formas oferecem um meio
para descrever o processo econômico em
termos comparativamente simples,
introduzindo, segundo Polanyi (1976), uma
medida e uma ordem nas infinitas variações.
Contudo, tais formas de integração não
representam etapas de desenvolvimento e
nenhuma ordem temporal, podendo
apresentar-se concomitantemente a forma de
integração dominante de determinada
sociedade e, podendo repetir-se depois de um
eclipse temporal.
Chris Gregory e a oposição Mercadoria e
Dádiva
A partir de campo entre os povos da Papua
Nova Guiné, Chris Gregory constrói a
oposição entre dádiva e mercadoria em sua
obra Gifts and Comodities, publicada em
1982. Segundo ele, Marcel Mauss, Lewis
Henry Morgan e Lévi-Strauss dão
continuidade em suas obras – “Ensaio sobre a
Dádiva”, “Sistemas de Consanguinidade e
Afinidade da Família Humana” e “Estruturas
Elementares do Parentesco”, respectivamente
-, ao pensamento e as questões da economia
política na antropologia econômica, uma vez
que o foco de suas análises está naquilo que é
a preocupação essencial da economia
política, isto é, nas condições e sistemas de
(re)produção da sociedade. Vale ressaltar,
contudo, que enquanto a economia política
stricto sensu tratava das condições materiais,
Morgan e Lévi-Strauss voltam-se ao
parentesco, isto é, uma economia de pessoas.
Defendendo uma perspectiva estendida da
economia política para o campo da
antropologia econômica, Gregory (1982)
parte do conceito de dádiva de Mauss para
compreender as economias primitivas e do
conceito de mercadoria de Marx para
compreender as sociedades de regime
capitalista. Uma vez que ambos os conceitos
remetem não apenas a um regime
transacional distinto, mas a regimes morais e
culturais específicos, Gregory fala em
economias políticas distintas: uma economia
política de mercadoria e outra da dádiva.
Retomarei brevemente as definições de cada
conceito segundo seus respectivos autores, a
fim de elucidar os principais elementos pelos
quais Gregroy constrói o par dádiva–
mercadoria.

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
8
Marx e a mercadoria, Mauss e a dádiva
O conceito de mercadoria encontra-se em
seus múltiplos detalhes na obra de Karl Marx
– O Capital -, escrito em 1848. Segundo ele,
a mercadoria é a forma elementar da riqueza
nas sociedades onde rege a produção
capitalista e ela possui um duplo caráter
expresso pelo seu valor de uso e pelo seu
valor de troca.
O valor de uso refere-se às propriedades
intrínsecas do produto que se efetiva no seu
consumo e aos usos potenciais de qualquer
produto, os quais são explorados de acordo
com a tecnologia disponível. O valor de
troca, ao contrário, se efetiva na troca com
outro produto e o que lhe confere essa
capacidade de troca é o fato de o produto
expressar trabalho humano, isto é, é somente
por expressar trabalho humano que elas
encarnam valor. Marx ressalta que o produto
para se tornar mercadoria tem de ser
transferido a quem vai servir como valor de
uso por meio de troca.
Nas sociedades de economia capitalista, as
trocas se efetivam em sua maioria no
mercado e, para haver equivalente no
mercado, isto é, para que os valores de troca
sejam equivalentes é necessário que eles
sejam reduzíveis a uma unidade comum, ou
seja, a trabalho humano abstrato. Logo, se o
valor de troca apenas se efetiva na relação de
um produto com o outro, o que se tem no
mercado é uma equivalência entre coisas,
pois o modo multilateral de um produtor ser
para o outro, é o modo de ser de suas
mercadorias. O que há, portanto, é um
fetichismo do produto/mercadoria, uma vez
que as relações sociais se apresentam como
relações entre coisas.
O conceito de dádiva de Marcel Mauss
encontra-se em sua obra Ensaio sobre a
Dádiva: forma e razão da troca nas
sociedades arcaicas, escrito em 1925, que
versa sobre o regime do direito contratual e o
sistema de prestações econômicas entre os
habitantes de Samoa na Polinésia, os povos
Trobiand da Melanésia estudados por
Malinowski e os povos Tlinght, Haida,
Tsimshian e Kwakiult da costa do Pacífico
no Noroeste da América da Norte.
Segundo Mauss, nas economias e nos direitos
dessas sociedades não se constata a simples
troca de bens, riquezas e de produtos num
mercado estabelecido entre os indivíduos.
Pelo contrário, não são indivíduos que se
obrigam mutuamente, trocam e contratam,
mas sim, pessoas morais como clãs, tribos e
famílias. Segundo ele, os objetos trocados
não são coisas úteis economicamente, mas
banquetes, ritos, serviços militares, mulheres,
crianças, festas, das quais o mercado é
apenas um dos momentos. Essas prestações e
contraprestações que se estabelecem de

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
9
forma voluntária constituem o que Mauss
chama de Sistema de Prestações Totais.
O Sistema de Prestações Totais constitui-se
pela obrigação de dar, de receber, de retribuir
e em algumas sociedades, pela obrigação de
solicitar. Entre os habitantes de Samoa, por
exemplo, os tonga - esteiras brasonadas de
casamento que as jovens filhas herdam ao se
casarem -, entram pela mulher na família
recém fundada, com a condição de
reciprocidade, pois eles e todas as
propriedades rigorosamente ditas pessoais
tem um hau, isto é, um poder espiritual.
Assim, “você me dá um tonga e eu o dou a
um terceiro; este me retribui outro, porque
ele é movido pelo hau da minha dádiva; e eu
sou obrigado a dar-lhe essa coisa, porque
devo devolver-lhe o que em realidade é o
produto do hau do seu tonga”. (Mauss, 2011
p. 198). O hau acompanha não apenas o
primeiro donatário, mas todo indivíduo ao
qual o tonga é simplesmente transmitido.
Os outros dois principais momentos que são
complementares a instituição da Prestação
Total implicam na obrigação de dar e de
receber. Segundo Mauss, recusar dar,
negligenciar convidar, assim como recusar
receber, equivale a declarar guerra; é recusar
a aliança e a comunhão. Em todas essas
obrigações há uma série de direitos e deveres
de consumir e de retribuir, correspondendo a
direitos e deveres de dar e de receber. Essa
mistura íntima de direitos e deveres
simétricos e contrários, aparentemente
contraditória é consequência, antes de tudo,
de uma mistura de vínculos espirituais entre
as coisas, a qual estabelece uma relação
inalienável entre recebedor e doador.
Gregory (1982) traça uma comparação entre
cada conceito e, consequentemente, uma
oposição entre ambos. Assim, segundo ele, a
mercadoria como expressão das relações
sociais dentro da economia capitalista,
caracteriza uma relação quantitativa entre
protagonistas independentes motivados por
interesses individuais, os quais realizam uma
troca de coisas alienáveis e possuem um
vínculo temporário, que existe apenas no
momento da troca. Expressão também de
uma produção consumidora, na qual toda
produção é ao mesmo tempo consumo de
mão-de-obra, isto é, objetificação, a
mercadoria reduz a dimensão social ao
âmbito do mercado. Portanto, a relação social
que se estabelece entre as pessoas e entre as
pessoas e as coisas é uma relação com forma
de mercadoria.
Contrariamente, a dádiva, segundo Gregory
(1982), é um contraponto a noção de
mercadoria para outras sociedades que não
tenham um regime capitalista, uma vez que
ela expressa uma relação qualitativa de
interdependência entre os protagonistas da
troca devido ao constrangimento social,

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
10
moral ou mágico que ela estabelece. A troca
para essas sociedades não é uma instância
autônoma da sociedade, mas sim, um
conjunto de atividades envolto em outras
relações sociais como o parentesco, a
religião, etc. A dádiva caracteriza a ausência
de propriedade entre as coisas, uma vez que
os objetos trocados são inalienáveis,
estabelecendo, assim, um vínculo
permanente entre as pessoas. Expressão
também de um consumo produtivo, onde
todo consumo é produção, ou seja,
personificação, a dádiva é expressão de um
sistema econômico onde as relações sociais
entre as pessoas e entre as pessoas e as coisas
assume a sua forma. Assim, “se, numa
economia mercantil, as pessoas e as coisas
assumem a forma social de coisas, numa
economia de dádivas ela assumem a forma
social de pessoas” (Gregory, 1982, p. 41),
Entre Formalistas e Substantivistas: a sua
crítica
A crítica aos formalistas e substantivistas é
feita por uma ampla gama de autores,
apresentarei brevemente, entretanto, a crítica
feita por Marshal Sahlins, com base no seu
estudo sobre os povos caçadores coletores,
por Arjun Appadurai e por Marylin Strathern.
Estes últimos dirigem suas críticas
especificamente ao par dádiva e mercadoria
construído por Gregory e aprofundam o
debate epistemológico acerca da questão
sobre até que ponto os instrumentos da nossa
Ciência Econômica Ocidental são aplicáveis
à compreensão da forma de organização de
outras sociedades.
Marshal Sahlins e os povos caçadores
coletores
Sahlins parte da constatação de que tanto
para os formalistas quanto para Polanyi, as
economias primitivas são caracterizadas pelo
adjetivo “sem”. Sem dinheiro, sem mercado,
sem divisão social do trabalho, sem
tecnologia sofisticada, sem excedentes, sem
Estado, sem cultura. Assim, “depois de dotar
o caçador de impulsos burgueses e de equipá-
lo com instrumentos paleolíticos, julgamos
sua situação de atemão desoladora” (Sahlins,
2007, p.109).
Através do estudo das sociedades de povos
nômades caçadores e coletores, Sahlins
afirma que há dois caminhos possíveis para a
afluência: as necessidades podem ser
facilmente satisfeitas, quer por se produzir
muito, quer por se desejar pouco. Para os
caçadores e coletores o postulado da
subsistência e da escassez é invertido, ou
seja, deseja-se pouco e vive-se na
abundância. Essa abundância, contudo, não
se refere a excedente, mas a uma forma
confortável de conseguir/ garantir a
alimentação.

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
11
Em relação à afirmação de Herskovits de que
a escolha racional opera dentro de uma
matriz cultural, Sahlins afirma que não há
escolha racional alguma, pois as escolhas não
foram instituídas (evoca Polanyi e a
definição substantivista) nas sociedades
primitivas. Ou seja, enquanto nossa
sociedade institui a escolha, nas sociedades
primitivas dos caçadores e coletores os
desejos nem chegaram a florescer. Sahlins
inaugura um movimento de positivação das
sociedades primitivas. Segundo ele, por trás
da ideia de sociedades “sem”, há um
materialismo que postula que a economia
determina todas as relações e direciona o
olhar de quem as observa para o que lhes
falta e não para sua abundância.
Appadurai e a Biografia Social das coisas
Arjun Appadurai critica a divisão feita por
Gregory entre dádiva e mercadoria, acusando
tal divisão de exagero nos contrastes entre
ambos os conceitos e de romantismo
exacerbado, uma vez que nega o “cálculo
racional” feito pelos povos ditos primitivos.
Segundo Appadurai, a oposição feita por
Gregory representa uma interpretação sobre o
par nós X eles fundante da antropologia.
Em contrapartida à crítica, Appadurai (2010)
propõe uma redefinição do conceito de
mercadoria com base na constatação de que
mercadorias existem em todas as sociedades,
mas com intensidades distintas. Assim, ao
invés de mercadoria ele fala em situação de
mercadoria, isto é, uma situação específica
da vida social das coisas em que seu
potencial para troca por outras coisas é seu
aspecto social relevante. Tal situação de
mercadoria é formada por três componentes:
sua fase biográfica de coisa, seu potencial à
mercadoria e o seu contexto histórico
cultural. Em consonância com isso,
Appadurai (ibidem) propõe como método
para compreender como cada sociedade
determina as regras de como algo pode ser
trocado, um fetichismo metodológico, isto é,
seguir a trajetória biográfica das coisas,
analisar os contextos e as formas pelas quais
elas circulam.
Appadurai inaugura um movimento de
mudança na perspectiva em que as
economias primitivas são observadas,
passando do olhar voltado para o regime
transacional para o foco nas coisas em si, nas
suas fases biográficas.
Marylin Strathern e as Conceituações
Nativas
A crítica feita por Marylin à oposição dádiva
e mercadoria encontra-se em sua obra O
Gênero da Dádiva, publicado em 1988.
Influenciada pela obra A Invenção da
Cultura de Roy Wagner - especificamente,
pela teoria semiótica do conceito de metáfora

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
12
de Wagner -, Marylin chamará a atenção para
a questão epistemológica implicada na
oposição dádiva e mercadoria.
A teoria semiótica do conceito de metáfora
de Wagner (2010) postula que os conceitos
que nós criamos e utilizamos para nos
entender e compreender os outros são
metáforas construídas a partir da forma como
se estabelece a relação do homem com a
natureza, ou seja, são extensões do familiar.
Assim, da mesma forma como nós usamos
metáforas como “natureza”, “cultura”,
“individuo”, “sociedade” para compreender a
nós mesmos e a tudo o que não fizer parte do
“nós”, eles – os primitivos -,também criam e
usam suas próprias metáforas para nos
entender e entender a si próprio. Trata-se,
então, de estilos de criatividade distintos.
Dessa forma, aponta Wagner (2010), não é
possível obter uma objetividade absoluta – a
qual é a ambição de toda ciência -, na
descrição de outros povos, uma vez que
enquanto observadores nós também
possuímos um quadro de metáforas nossas
para entender os outros. Contudo, podemos
chegar a uma objetividade relativa a partir do
estabelecimento de relações entre as nossas
metáforas e as deles, isto é, compreendendo a
relação estabelecida entre diferentes formas
da experiência humana.
A obra de Marylin parte não somente da
leitura de Roy Wagner, mas também da sua
experiência em campo entre os povos das
Terras Altas da Papua Nova Guiné e do
estudo de grande parte das monografias
escritas pelos antropólogos sobre aquela
região. Segundo ela, é latente nas
monografias um holismo metodológico, isto
é, uma totalidade presente e clara, uma
interconexão entre as coisas de forma que
uma coisa explica a outra. A partir disso, o
conceito semiótico de metáfora de Wagner
tornar-se-á um idealismo heurístico para
Marylin, isto é, um idealismo como método.
Segundo ela (1999), em concordância com
Wagner, não há problema no uso de
metáforas, uma vez que elas são inevitáveis.
O problema reside, no entanto, em tomar a
sistematicidade do método e dos modelos
como sistematicidade do objeto. Assim, em
relação ao par dádiva e mercadoria, não se
trata de eliminá-lo, mas de explicitar suas
premissas de modo a deixar claro que os
conceitos de indivíduo, sociedade e
propriedade que estão relacionados ao par
dádiva e mercadoria fazem parte de
conceituações nossas. Destarte, segundo ela,
se numa sociedade da mercadoria a diferença
entre nós e eles se apresenta como a oposição
mercadoria e dádiva, o grande desafio é saber
como numa sociedade da dádiva as metáforas
são produzidas e como elas se projetam.

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
13
Considerações Finais
A partir do questionamento levantado no
início desse trabalho, tentei trazer, mesmo
que de forma breve, como a Antropologia
Econômica vem desenvolvendo respostas
acerca dessa questão. Tal questionamento,
contudo, remete a uma tentativa mais
profunda de adentrar na forma como o
pensamento antropológico, este que se
propõe “olhar com outro olhar” para as
sociedades nativas, considera, na construção
desse outro olhar, as cosmologias não-
ocidentais, isto é, as próprias explicações
nativas sobre a realidade.
Nesse sentido, as reflexões acerca das
economias primitivas, até recentemente,
foram embasadas e guiadas, não só pelo
instrumental que a economia política e a
economia neoclássica fornecem, mas também
pelos binarismos que caracterizam o
pensamento Ocidental, isto é, a oposição
entre natureza versus cultura, universal
versus particular, objetivo versus subjetivo,
imanência versus transcendência, corpo
versus espírito, animalidade versus
humanidade, etc. Contudo, acredito, que a
compreensão das economias primitivas ou
melhor, da forma como essas sociedades se
organizam, exige tanto um posicionamento
perspectivo, quanto o despojamento, a
desnaturalização e, consequentemente, a
suspensão das categorias com que o
pensamento ocidental torna a realidade
inteligível.
Trata-se, portanto, de desprender o olhar
daquilo que o prende a um ponto apenas da
orbita ocular e deixá-lo navegar pelas
perspectivas que outros pontos dessa orbita
proporcionam. O que significa deixar de ver
as sociedades primitivas como objeto, como
sociedades que não pensam e não refletem
sobre suas ações, sobre sua cultura, e sim,
como sociedades que também possuem suas
teorias, seus conhecimentos e suas metáforas,
como diria Roy Wagner.
Referências Bibliográficas
APPADURAI, Arjum. A Vida Social das
Coisas - As mercadorias sob uma
perspectiva cultural. Niterói: Editora da
UFF, 2010.
GREGORY, Christopher. Gifts and
commodities. Londres: Academic Press,
1982.
____________. Savage Money: The
anthropology and politics of commodity
exchange. Amsterdan: Harwood Academic
Publishers, 1997.
HERSKOVITS, Melville. Antropologia
Economica: estúdio de economia
comparada. Mexico: Fondo de Cultura
Económica, 1954.
_____________. A economia e a satisfação
das necessidades. In: Antropologia Cultural:
man and his works Vol. II. São Paulo:
Editora Mestre Jou, 1963, p. 13-31.

VOLUME III – NÚMERO I
RECS
14
MALINOWSKI, Bronislaw. Os Argonautas
do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril
Cultural, 1978.
MARX, Karl. O Capital - Livro I. São Paulo:
Civilização brasileira, 2008.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia.
São Paulo: Cosacnaify, 2011.
MARSHALL, Sahlins. Cultura na Prática.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.
POLANYI, Karl. El sistema economico
como proceso institucionalizado. In:
Godelier, M. (org.) Antropología y
Economía. Barcelona: Editorial Anagrama,
1976, p. 155-178.
STRATHERN, Marylin. No Limite de uma
Certa Linguagem. Mana. Rio de Janeiro, vol.
5 n.2 out, 1999, p. 157 -175.
___________. Novas Formas Econômicas:
um relato das terras altas da Papua Nova
Guiné. Mana. Rio de Janeiro, vol. 4 n. 1, abr.
1998, p. 109 - 139.
___________. O Gênero da Dádiva.
Campinas: Editora Unicamp, 2006.
WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. São
Paulo: Cosacnaify, 2010.
Recebido em: 09/11/2012
Aprovado em: 08/03/ 2013

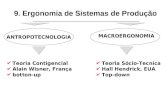


![4-(4-Chlorophenyl)-1-[3-(4-fluorobenzoyl)propyl]-4-hydroxypiperidin-1 … · 2020. 1. 6. · 4-(4-Chlorophenyl)-1-[3-(4-fluorobenzo-yl)propyl]-4-hydroxypiperidin-1-ium 2,4,6-trinitrophenolate](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/6136d36a0ad5d206764844bf/4-4-chlorophenyl-1-3-4-fluorobenzoylpropyl-4-hydroxypiperidin-1-2020-1-6.jpg)