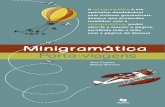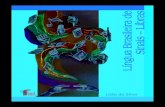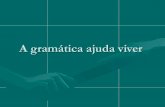Língua Grega: Visão Semântica, Lógica, Orgânica e Funcional (Volume II) - Henrique Murachco
5337237 Henrique Murachco Gramatica Grega Teoria
-
Upload
latioricap -
Category
Documents
-
view
959 -
download
86
Transcript of 5337237 Henrique Murachco Gramatica Grega Teoria
mur00.p65 1 22/01/01, 11:35
mur00.p65 2 22/01/01, 11:35
LNGUA GREGA Viso Semntica, Lgica, Orgnica e Funcional Volume I Teoria mur00.p65 3 22/01/01, 11:35
mur00.p65 4 22/01/01, 11:35
HENRIQUE MURACHCO LNGUA GREGA Viso Semntica, Lgica, Orgnica e Funcional Volume I Teoria discurso editorial mur00.p65 5 22/01/01, 11:35
Copyright by Henrique Murachco, 2001 Nenhuma parte desta publicao pode ser gravada, armazenada em sistemas eletrni cos, fotocopiada, reproduzida por meios mecnicos ou outros quaisquer sem a auto rizao prvia da editora. Produo grfica: Logaria Brasil Projeto grfico, editorao e capa: Guilherme Rodrigues Neto Tiragem: 2.000 exemplares Ficha catalogrfica: Sonia Marisa Luchetti CRB/8-4664 M972 Murachco, Henrique L ngua grega: viso semntica, lgica, orgnica e funcional / Henrique Murachco. So Paulo: Discurso Editorial / Editora Vozes, 2001. 2 v. ISBN v.1: 85-86590-22 -3 ISBN v.2: 85-86590-23-1 1. Lngua Grega Clssica 2. Semntica I. Ttulo CDD 4 81 481.7 485 discurso editorial Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 (sala 1033) 05508-900 So Paulo SP Tel. 381 8-3709 (ramal 232) Tel./Fax: 814-5383 E-mail: [email protected] mur00.p65 6 22/01/01, 11:35
Agradeo: Ao Prof. Robert H. AUBRETON Mestre e amigo. Todos ns de Letras Clssicas lhe de vemos muito, e eu, quase tudo. A todos os meus inumerveis alunos, colegas e ami gos de todos os lugares, de todas a idades, que me proporcionaram o prazer de se rvir. Com um amor de amigo enorme. A France, Cristina, Slvia e Karine, esposa e filhas, comeo, fim e razo de tudo, pelo silencioso afeto, conivncia afetuosa e compreenso paciente. A Jean Baptiste e Arthur Aymeric, meus netos, raios de sol. A Helosa, minha neta, nos dedos-rosa da aurora. Por existirem. mur00.p65 7 22/01/01, 11:35
mur00.p65 8 22/01/01, 11:35
Introduo: Guia do leitor Depois de ter escrito e reescrito cerca de 600 laudas, depois de ter lido e reli do, sempre com a preocupao de encontrar uma falha, um vazio, um lapso, e depoi s das cobranas dos alunos, ex-alunos, que nunca so ex- , e sobretudo de meus cole gas, sento-me frente do computador para escrever uma ou a introduo ao meu trab alho, que, tambm, devido cobrana desses amigos , acabou sendo a tese de doutora mento. Vou conseguir? O tempo dir. Como comear? Pelo comeo! O comeo, perdido no tempo, situa-se em 1969, quando a reforma curricular do Curso de Letras intr oduziu as matrias optativas. Essas matrias visavam a um fim preciso: abrir os horizontes dos alunos; no deix-los presos a esquemas fechados. Viu-se ento qu e o interesse pela Antigidade Grega, pela Literatura Grega e pela Lngua Grega era grande, e o nmero de interessados foi crescendo. Mas, como fazer para que e ssa passagem de um, dois, trs e at no mximo quatro semestres pudesse deixar u ma marca, ou, melhor dizendo, para que professor e aluno no ficassem com a sens ao de terem perdido seu tempo, e para que os crditos obtidos pelos alunos no se assemelhassem a tantos outros, em que, de um lado, se finge que se ensina e, de outro lado, se finge que se aprende: d-se um programa de um manual; repetese em aula o que est escrito nele, sem comentrio e sem contestao, e cobra-se no fim do semestre numa prova, em que o aluno devolve o que recebeu. E essa dev oluo em geral assume um sentido mur01.p65 9 22/01/01, 11:35
10 introduo: guia do leitor denotativo; isto , devolve-se de fato! O aluno vai embora com seus crditos e o professor fica com a sensao de tarefa terminada. Mas, como minha postura na s ala de aula sempre foi de dilogo, de querer saber se o aluno entendia ou no o que eu tentava passar-lhe, surgiram as primeiras perguntas e contestaes, e a comearam as primeiras apostilas com redao pessoal, diferente dos manuais e gram ticas. Mas, o que se dizia e se discutia na sala de aula era muito diferente do que as apostilas traziam; ou melhor, o que se dizia na sala de aula era no s di ferente, mas muitas vezes mais extenso e variado do que o que estava na apostila . E as edies das apostilas foram se sucedendo em folhas avulsas, sempre com a in teno de servir aos alunos. Nunca tive a idia de escrever um mtodo ou uma gra mtica de grego. No era necessrio! Havia tantas gramticas no mercado! Todas e las lastreadas em tradio multissecular! Era um respeito quase ou mais que reli gioso que me impedia discuti-las e muito menos critic-las. Eu mesmo devia meus conhecimentos de grego a elas. Quantos helenistas no deviam seu slido saber a elas? Mas eu no encontrava nelas as respostas s perguntas que os alunos faziam : por que essa funo se exprime por esse caso e aquela pelo outro. O que signif ica nominativo ? O que significa acusativo ? Por que o sujeito vai para o nominativo e objeto direto vai para o acusativo? Por que a relao de lugar para onde vai tambm para o acusativo? No uma relao adverbial? Fui buscar essas explicaes nas gramticas. Passei pelas gregas (a lista delas est na Bibliografia); passei pe las latinas, pelas portuguesas, pelas francesas e sempre encontrei as mesmas coi sas: uma nomenclatura fixa, com algumas variaes superficiais, mas definindo e delimitando de uma maneira autoritria e final que as relaes das palavras na f rase estavam definidas e que o que o aluno deve fazer aprend-las de cor e, pe los exerccios, fix-las na mente at que fiquem automticas. Todas as gramtica s so descritivas, historicistas, formalistas, prescritivas. Ao critic-las no quero desmerec-las. Elas prestaram relevantes servios evoluo cultural do O cidente. Elas so preciosas sobretudo porque nos conservaram e passaram centenas de documentos, de textos, de testemunhos antigos, em todas as lnguas. um mat erial imenso que est nossa disposio. mur01.p65 10 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 11 No quero discutir as metodologias e didticas modernas, atuais, que usam de in meros instrumentos para o ensino de idiomas: desde a hipnopedia at as muitas va riantes dos audiovisuais. Elas so destinadas a alunos e aprendizes de diversas idades: desde a pr-escola (jardim da infncia) at a adultos, que, de repente, precisam do ingls, do francs, do castelhano, do alemo instrumental . Mas nenhum desses mtodos entra em profundidade na lngua; nenhum deles faz pensar a lngua . Todas as abordagens das gramticas e mtodos tradicionais abordam o estudo das l nguas de fora para dentro, isto , da teoria para a prtica, do abstrato para o concreto. Ns achamos que dessa maneira estamos na contramo . As escolas despejam sobre as crianas uma srie de conhecimentos abstratos, transformados em regras , muito antes de as crianas terem a capacidade de abstrao. por volta dos 12 a os 14 anos que o adolescente se torna capaz de pensamento abstrato. Ora, desde a alfabetizao at as regras de gramtica, de acentuao, ortografia, so formas de conhecimento abstrato, arbitrrio , dizem alguns, que a criana acaba aprendendo de cor, e devolvendo de cor, mas no entendendo 1. Na Grcia, a gramtica surgiu no perodo alexandrino, depois das conquistas de Alexandre Magno e da formao do seu imprio que no chegou a comandar; mas o grande feito de Alexandre foi o de tornar a lngua grega a lngua comum ( koin gltta) de todo o Mediterrneo, o que vale dizer, de todo o mundo antigo conhecido, ocidental, bem entendido. E a gramtica do grego foi concebida para que estrangeiros, isto , os no gregos , aprendessem a lngua de todos. Pensou-se ento em regras prticas: um conjunto de informaes necessrias para que o falante de outra lngua aprendesse rapida mente a lngua grega. Essa a origem da gramtica descritiva. Ela dispensa o por qu ; quer ser prtica, objetiva. 1 Em grego a raiz may- desenvolve o verbo many nv, que significa em primeiro lugar eu entendo , e da, naturalmente, o significado se ampliou para eu aprendo . Aprender, ento, pressupe necessariamente entender. mur01.p65 11 22/01/01, 11:35
12 introduo: guia do leitor A gramtica de Dionsio Trcio herdeira dessa gramtica primeira. Ela descri tiva e j contm alguns vcios de nomenclatura, que os gramticos latinos herdar am quando a traduziram, adaptaram e adotaram para o latim. Durante a exposio d as diversas partes deste trabalho, vamos comentar essa nomenclatura, como, por e xemplo, a expresso subjuntivo , para um modo que nem sempre exprime uma subordina o. Mas os autores gregos, Plato, Aristteles e outros, no estudaram a lngua grega pela gramtica. Mas sabiam muito bem a lingua grega! Muito mais do que iss o: transformaram-na num instrumento perfeito, para exprimir com perfeio todos os matizes do pensamento humano. Como, ento, eles aprenderam a lngua? No vamo s tratar disso com pormenores. No o tema deste trabalho. Mas no podemos furt ar-nos de reproduzir a fala de Protgoras, quando explica a Scrates, a funo d a educao 2: Comeando desde a tenra infncia at o fim da vida (os pais) ensina m e exortam. Assim que uma criana compreenda o que dito, tanto a ama, quanto a me, o pedagogo e at o prprio pai discutem a respeito dela, de modo a que o menino seja o melhor possvel; a cada gesto, a cada palavra eles do lies demo strando que isto justo, aquilo injusto, isto bonito, isto feio e que ist o permitido aquilo proibido e faz isto, no faas aquilo. E se ele obedece d e boa vontade, (...) se no, eles o endireitam com ameaas e com pancadas, como a uma vara torta e curva. Depois disso, ao envi-lo escola, eles tm em vista mais cuidar do bom comportamento das crianas do que das letras e da ctara. Os mestres se encarregam dessas coisas, e quando, por sua vez, as crianas entendem as letras e passam a entender os escritos, como antes a fala, eles, os mestres, dispem sobre as carteiras, para ler, os poemas dos bons poetas e os obrigam a aprender de cor aqueles nos quais se encontram muitos preceitos, muitas digress es (narrativas), muitos conselhos e muitos elogios dos homens antigos bons, a fi m de que o menino, por emulao, os imite e procure tornar-se igual a eles. Os c itaristas, por sua vez, empreendem outras coisas desse tipo; eles se preocupam c om a moderao e para que os jovens no se dirijam para o mal. 2 Plato, Protgoras, 325c5-326e6. mur01.p65 12 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 13 Alm disso, quando os meninos aprendem a tocar ctara eles ensinam poemas de out ros poetas bons, os lricos, acordando-os ao som da ctara e condicionam as alma s dos meninos a se habituarem com os ritmos e com a harmonia para que eles sejam mais calmos e para que, tornando-se mais bem ritmados e mais harmoniosos, eles se tornem aptos para a fala e para a ao; pois toda a vida do homem precisa de bom ritmo e de harmonia... Pelo que se v, a lngua era aprendida nos textos e pe los textos. Essa passagem de Protgoras nos d ainda outra idia: que o menino a teniense, depois de aprender muitos textos dos poetas picos (Homero e Hesodo) e dos poetas lricos, que eram de toda a Grcia, ao passar para as aulas de gin stica, ele no mais um menino ateniense, ele um menino grego! A unidade da G rcia, desde o Ponto Euxino at Marselha e mesmo s Colunas de Heracls, se fez pela lngua. Os Jogos Olmpicos a cada 50 lunaes eram a expresso dessa Grcia 3. Foi essa a gramtica de Plato, Aristteles, Lsias, Demstenes, Grgias e outr os. Mas, a gramtica pensada para os estrangeiros passou tambm a ser empregada nas escolas, e os meninos do perodo alexandrino, aos poucos, passaram a ter que aprender, alm dos textos dos poetas, tambm as regras de gramtica. essa a o rigem da gramtica descritiva e impositiva, prescritiva. Ela se manteve intocve l durante sculos; at agora mesmo. Como exemplo poderamos citar Konstantinos L skaris, um dos intelectuais bizantinos que emigraram para Npoles, por ocasio da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Convidado por um nobre milans para ensinar a lngua grega para suas filhas, escreveu uma gramtica, em 1476. A base dela a de Dionsio Trcio, com alguns acrscimos, mas sem aprofundar na da. At os paradigmas so os mesmos! No correr deste trabalho aludiremos muitas vezes a esses fatos, para o que, antecipadamente, pedimos desculpas. Mas vcio de professor. A repetio exausto acaba por prevalecer. Alm disso, essa des ordem, se no foi pretendida no incio, acabou prevalecendo, como uma conseqn3 Conclui-se daqui que as diferenas dialetais, que as gramticas valorizam tanto, eram sentidas como meras variantes da lngua, sem nenhuma dificuldade de entend imento e de fixao. mur01.p65 13 22/01/01, 11:35
14 introduo: guia do leitor cia natural do meu trabalho que foi se desenvolvendo de uma maneira artesanal, d iria, geralmente na sala de aula. E a cada nova abordagem esbarrvamos nos mesm os problemas de sempre: descritivismo, falta de explicao e falta de coerncia. Nosso objetivo nesta Introduo ( preciso uma introduco! uma introduo pre ciso!) tentar guiar o leitor pelo nosso caminho e durante o percurso mostrar-l he que a lngua grega de uma coerncia total, a comear pelo enunciado, que a base de todo o sistema. O que o enunciado? Podemos cham-lo de frase, orao , perodo, discurso etc. O enunciado uma palavra ou um conjunto delas que expr ime um pensamento inteiro, acabado. A base do enunciado , como j disse, a ess ncia (osa) e o predicado (kathgora, kathgreuma)4. Em outros termos: o sujeit o (t pokemenon), o de que se diz alguma coisa e o verbo (=ma), o que dito daquele de que se diz alguma coisa.5 O enunciado a base do discurso. Ele repou sa sobre dois pilares: o sujeito e o predicado; o substantivo e o verbo; a essn cia e a ao. O sujeito deve ser, necessariamente, um substantivo (pokemenon) e o predicado deve ser, necessariamente, um verbo (=ma). No h enunciado sem s ujeito e predicado. uma impossibilidade funcional, lgica, semntica. O enunci ado, ento, s completo se contm sujeito e predicado, num encadeamento de dep endncia: um no existe sem outro; a noo do sujeito supe o predicado e a no o do predicado supe o sujeito 6. 4 5 6
Isto est na primeira obra do rganon, de Aristteles, chamada As categorias ; na v erdade so: uma essncia osa , e nove categorias predicados . O mesmo acontece no e unciado: o sujeito: pokemenon osa, e =ma kathgora / kathgreuma . O significa do de verbo nesta dicotomia sujeito/verbo no significa ao mas resultado da ao , : o que dito. O sufixo -ma significa resultado da ao, contrapondo-se ao su fixo -siw , que significa a ao, (sufixo -o em portugus). s vezes pode acon tecer que o sujeito ou o verbo no estejam expressos. Isso fez alguns gramticos criarem as frases chamadas nominais / frases sem verbo , ou mur01.p65 14 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 15 Mas o sujeito pode vir modificado, ampliado, enriquecido e o predicado pode vir tambm modificado, ampliado, enriquecido. O sujeito pode ter adjunto adnominal ( epteto), predicativo, aposto, e o predicado (verbo) precisa ter sujeito, agente ou paciente; ele pode ser tambm ampliado, modificado, enriquecido, completado; pode ter advrbio (que o adjetivo do verbo), pode ter complemento direto, pod e, com a ajuda da preposio, exprimir relaes espaciais etc. Todas essas rela es dentro do enunciado esto encadeadas organicamente, logicamente, como os elo s de uma corrente, com todos os elementos formando um todo e cada elemento ligad o e dependente de um e ligando e condicionando um outro. Assim, se identificarmo s um desses elementos, ns teremos o fio da meada ou um elo da corrente, e por e le podemos chegar a outros e a todos. Essa identificao se faz atravs do sujei to e do verbo, essencialmente, e a seguir entre substantivos e verbos, no caso d e desdobramentos de sujeito e predicado. Em grego ns temos a tarefa facilitada pela identificao formal das funes dos nomes. Eles esto em determinados caso s, que correspondem a determinadas funes. Rigorosamente, sem desvios. Basta id entificarmos os casos para identificarmos as funes. Identificada a funo, pas samos a procurar o que determinou essa funo: se sujeito, porque est no nomi nativo, vamos procurar o verbo que fala do sujeito; se o verbo est na voz ativa ou mdia, o sujeito agente; se est na voz passiva, o sujeito paciente. Se est na voz ativa ou mdia, e o verbo incompleto, isto , transitivo, vamos bu scar o seu complemento que estar no caso semanticamente compatvel com a rela o com o verbo. Se o verbo est na voz passiva, o sujeito paciente de um ato ve rbal desencadeado por um agente externo, que o agente da passiva. E assim por diante. Os elementos acessrios, adjetivos e advrbios, sero reconhecidos a seu tempo. Mas, para dar instrumentos para que o estudante de grego identifique as partes, preciso que ele aprenda a flexo dos nomes e dos verbos, para que poss a identificar exatamente a funo dos nomes e a voz, a pessoa, o modo, o aspecto do verbo. as frases s com verbos. Na verdade o verbo est implcito nas frases nominais , e o sujeito est implcito nas frases verbais . mur01.p65 15 22/01/01, 11:35
16 introduo: guia do leitor So a flexo nominal e a flexo verbal. No vou cham-las de declinao para os no mes e conjugao para os verbos. Vou cham-las de flexo nominal e flexo verbal. O leitor encontrar, no correr da obra, a justificativa dessa opo. No momento, basta dizer que os nomes7 e verbos flexionam-se com base numa parte fixa, que e u denomino tema . Na flexo dos nomes, se a sucesso de casos sobre o tema, no e xiste, ipso facto, um caso que se possa chamar reto , que seria o ponto a partir do qual os outros se sucederiam, numa espcie de escada declinante (declinao) a que se deu o nome de caso oblquo. O tema nominal, enquanto no receber o caso ( a ptsiw, desinncia) que lhe determine a funo, est fora do enunciado e cont m nele apenas o significado virtual da palavra. Assim nyrvpo- encerra o significa do de homem, ser humano ; mas, quando recebe o -n, que a marca do acusativo, ele recebe a funo de completar o significado de um verbo, ou uma funo anloga. E ste um fato da lngua grega. No regra. Por isso no tem exceo. Comearemo s por definir o que entendemos por caso, e o que cada caso representa. Procurare mos, a partir da relao significante-significado, explicar e justificar os nome s dos casos e mostrar que o nome que receberam corresponde s funes que eles e xercem. Na medida em que formos explicando e identificando os casos, iremos arro lando exemplos hauridos em dezenas de gramticas, procurando mostrar sempre que h uma coerncia semntica no uso dos casos e que o uso deles orgnico, lgico , semntico. No h regras; isto , no h interferncias externas, abstratas (a s regras so interferncias externas e abstratas). H uma organicidade coerente, forte, contnua. Por isso a abundncia de exemplos. O leitor ver tambm que ti vemos sempre a preocupao de traduzir os exemplos da maneira mais linear, concr eta, denotativa, procurando sentir as relaes. No nos preocupamos com o estilo . No nem o momento nem o lugar para isso. 7 Entendo por nomes , como Dionsio Trcio, tanto os substantivos como os adjetivos e os diticos todos (comumente chamados de pronomes-adjetivos). mur01.p65 16 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 17 Mostraremos que o nominativo se chama assim porque identifica o sujeito e as rel aes secundrias do sujeito. Mostraremos tambm que o nominativo um caso: ist o , recebe uma ptsiw que corresponde sua funo, e que a denominao caso ret o contraditria nos seus prprios termos. Se caso no reto e se reto no ca so. Mostraremos tambm que essa denominao tem origem de m leitura da viso do s esticos na relao do sujeito agente ryw, ereto, reto, em condies de agir , e sujeito paciente ptow, deitado, supino, passivo. A partir da idia de uma posio reta, ereta do sujeito agente, deuse o nome de reto ao caso. uma viso meramente formal, externa, mas que teve desdobramentos ruins, porque permitiu a viso de outros casos, que caam, que declinavam do caso reto, isto , casos obl quos. Da se originou todo o sistema de declinaes, que consideramos falso. Apr oveitaremos o espao para mostrar o que entendemos por tema . Mostraremos tambm qu e o vocativo no um caso, porque no tem funo e que, coerentemente, tem desi nncia zero, isto , o prprio tema. Diremos tambm que o vocativo toma emprest ado as desinncias do nominativo, quando a manuteno do tema em consoante, com a apcope delas, menos o -w, -r, -n, descaracteriza fontica e semanticamente a p alavra. Por isso desdobraremos as explicaes sobre o genitivo e acusativo. Sepa raremos no acusativo a relao do verbo transitivo (incompleto) com o seu comple mento (termo do ato verbal) e a relao espacial para onde , expressa com o auxlio das preposies. Mostraremos tambm que no acusativo sempre est a idia de mov imento, quer na sua expresso concreta, espacial, quer nas expresses metafrica s de expresso de durao de tempo e nas extenses referenciais, que costumamos chamar de acusativo de relao ou adverbial: accusativus graecus das gramticas lati nas. Demostraremos tambm que o nome acusativo no vem de caso da causa, culpa, ma s caso da procura, da busca. No genitivo identificaremos a relao nominal de de finio, restrio, delimitao (complemento ou adjunto adnominal) como no genit ivo latino, e a relao espacial de lugar de onde expressa por preposies (ablati vo latino) e ainda, por analogia, incluiremos a relao do agente da pasmur01.p65 17 22/01/01, 11:35
18 introduo: guia do leitor
siva, que uma relao de origem, separao; por isso relao de genitivo com preposio (ablativo latino com preposio). Mostraremos tambm o valor semnti co das relaes do genitivo nas regncias de alguns verbos, como os verbos que sig nificam poder, domnio, privao, necessidade, desejo, aspirao etc. Insistirem os muito sobre este fato da lngua: os casos no so determinados por uma regra exterior, mas pelas relaes semnticas entre as partes, sobretudo entre verbos e nomes. Definiremos o dativo como o caso da dao, interesse, atribuio, later alidade, simultaneidade, exatamente como o dativo latino. No aceitamos a inclus o das relaes de instrumental e locativo sob a denominao de dativo por contrad io nos prprios termos. Separaremos esses dois casos, embora os trs tenham a mesma desinncia. Nisto seguimos uma sugesto preciosa de Quintiliano. Mostrarem os que o locativo a expresso do lugar onde , com a idia de estabilidade, de aus ncia de movimento. Ela pode ser concreta ou metafrica. Os exemplos confirmaro essas afirmaes. Mostraremos tambm, pelos exemplos, que nos casos de dvida, pela proximidade dos significados entre a noo de lateralidade e de locativo, o prprio texto dar a resposta certa. Definiremos tambm o instrumental como o o bjeto inerte (que no age por si) pelo qual passa o ato verbal desencadeado por um agente que no ele, o instrumento. Mostraremos tambm que a distino entre o instrumental ou complemento de instrumento ou meio e o agente da passiva no s pass pela identificao formal (lugar de onde, expresso pelo genitivo com p), mas tambm, e sobretudo, pela relao semntica. Passaremos ento para a parte forma l, falando em primeiro lugar da flexo nominal. A gramtica da lngua grega divi de os nomes em declinaes. So trs (no latim so cinco). A primeira declinao , anloga latina, contm os nomes que fazem o genitivo singular em -aw/-hw (a latina faz em -ae). A segunda declinao, anloga latina, contm os nomes que fazem o genitivo singular em -ou (a latina faz em -i). A terceira declinao, an loga latina, contm os nomes que fazem o genitivo singular em -ow (a latina f az em -is). mur01.p65 18 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 19 Mas h inmeras excees: na primeira, os nomes masculinos em -a/-h fazem o geni tivo singular em -ou; na terceira, temos nomes fazendo o genitivo singular em -o uw, em -vw etc. Cremos que a melhor forma de encarar a flexo dos nomes ver ne les, como Aristteles viu (Potica, 20), um composto de duas partes: o tema e a desinncia, isto , uma parte fixa e outra mvel. parte fixa damos o nome de te ma e parte mvel damos o nome de casos , para a flexo nominal. A partir da basta acrescentar os diversos casos, conforme as funes que os nomes exercerem no en unciado, para termos a flexo deles. Um estudo detalhado, mais profundo, poder constatar que o grupo de casos (desinncias nominais) um s, e que as diferen as que apresenta para os nomes de tema em vogal e para os nomes de temas em cons oante ou semivogal so aparentes e so produto de acidentes fonticos. No moment o, vamos manter os dois grupos: nomes de tema em vogal e nomes de tema em consoa nte e semivogal 8. Veremos que podemos construir toda a flexo dos temas em voga l a partir de um quadro de desinncias. As dificuldades que surgiro sero de na tureza fontica e no morfolgica, que so conseqncias das alteraes, acomoda es fonticas que acontecem na juno dos temas s desinncias. Elas sero dest acadas e explicadas sempre que aparecerem 9. por isso que iniciamos o trabalho com uma introduo sobre o sistema fontico da lngua grega, mostrando todos os acidentes fonticos que acontecem nos encontros dos sons: vogal + vogal, consoa nte + consoante. Essas alteraes fonticas so constantes, mas no se deve tem las. Elas tm causas fsicas, fisiolgicas, concretas e acontecem no aparelho fo nador, no momento da articulao dos diversos sons no ponto de 8 9 As semivogais so: o -i / u , e o -j / W , que so sentidas mais como consoantes do que como vogais. A prova que nos temas verbais terminados em semivogais, a primeira pessoa do indicativo infectum -v como nos verbos de tema em consoant e. Essas explicaes estaro tambm no quadro geral sobre o alfabeto e os sons, no incio deste trabalho. mur01.p65 19 22/01/01, 11:35
20 introduo: guia do leitor articulao e modo de articulao. Constataremos tambm que essas alteraes fon ticas so comandadas por duas leis : a lei do menor esforo e a competncia ling stica e preservao semntica. Constataremos tambm que, se os componentes so o s mesmos, o resultado sempre o mesmo. uma questo orgnica, natural. No h regras nem excees. Devemos insistir, contudo, que no estaremos escrevendo um t ratado de fontica grega , mas, com finalidade exclusivamente prtica, estaremos r egistrando e explicando os vrios acidentes fonticos que acontecem na flexo no minal e verbal. Ao tratarmos dos nomes de temas em vogal, apresentaremos um quad ro geral das desinncias com explicao detalhada de cada acidente fontico e, a seguir, para facilitar a consulta, apresentaremos vrios quadros de flexo, sem pre com as explicaes necessrias. Teremos sempre em mente que a flexo nominal e tambm a verbal so um sistema de construo, de montagem. Nunca pediremos ao aluno que decore paradigmas, embora no sejamos contra a que o aluno monte o se u, a partir da identificao das duas partes da palavra: tema e desinncia. No faremos distino entre substantivos, adjetivos, diticos (pronomes-adjetivos na nomenclatura corrente). No h razo para isso, na medida em que a flexo se fa z sobre tema e desinncia, que so expresses de funes. No grupo dos nomes de temas em consoante ou semivogal comearemos por traar um quadro das desinncias e a seguir mostraremos como elas se acoplam aos diversos temas. Constataremos q ue a flexo desses nomes todos absolutamente regular e que todos os problemas que surgem so acidentes fonticos que se originam desse acoplamento das desinn cias aos temas. Mas todos so explicveis e sero explicados. Daremos a seguir v rios quadros de flexo dos diversos temas, como um referencial seguro para o le itor. A seguir abordaremos a flexo verbal Comearemos por afirmar que no verbo grego h apenas dois fatos importantes: o aspecto e o modo. Diremos que o tempo medido, cursivo, determinante est fora da forma verbal. Ele o enquadramento d o ato verbal. mur01.p65 20 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 21 Por isso a noo de tempo s se exprime pelo indicativo: a marca do passado no uma desinncia, mas uma forma exterior ao tema, e se usa apenas no indicativo. No h tempo nos outros modos verbais. A partir da idia de que uma forma grama tical, nominal ou verbal semntica e sintaticamente autnoma, estudaremos os t rs aspectos verbais (que denominamos tempo interno do verbo ), servindo-nos de in meros exemplos e frases que fomos buscar nas gramticas. Mais uma vez no seremo s econmicos. Acreditamos que pela repetio que se aprende. Tentaremos explic ar o infectum, que, quase sempre, faremos acompanhar da palavra inacabado , mostran do o leque de seus significados, que no so divergentes; todos mantm a idia d a continuidade do processo verbal, desde a entrada no processo, at as relaes de repetio, hbito etc. O leitor ver nos exemplos que h uma coerncia semnt ica completa. Estudaremos tambm o aoristo, que primeira vista parece difcil, mas se identificarmos no aoristo a raiz-tema , isto , o ponto de partida para o i nfectum e o perfectum, veremos mais uma vez que a relao significante-significa do muito clara. Mostraremos que h dois aoristos no indicativo: um que o ato verbal na sua essncia, sem nenhuma conotao temporal, usado nas expresses de carter geral, mximas e provrbios (aoristo gnmico), e que h o aoristo narrat ivo, pontual, enquadrado ; dentro de um quadro narrativo, que d o enquadramento t emporal, o aoristo pontual que exprime os fatos isolados, que incidem, pontuam a lin ha narrativa. A denominao de aoristo pontual sugestiva, na medida em que ele i ncide sobre o processo narrativo, exprimindo apenas o ato verbal isolado, sem id ia de durao ou acabamento. Mostraremos tambm que, por coerncia semntica, o tema do aoristo a base para a formao dos temas do Infectum-Inacabado e do P erfectum-Acabado.10 10 Ao introduzirmos o estudo das flexes faremos meno especial para esses fatos. mur01.p65 21 22/01/01, 11:35
22 introduo: guia do leitor Mostraremos que o perfeito, perfectum acabado tambm faz jus ao nome: exprime o po nto de chegada do ato verbal, do processo interno do verbo, sem indicao de tem po externo. Mostraremos tambm que o perfeito mais antigo o perfeito mdio, in transitivo, que d a idia de resultado; o perfeito passivo deriva dessa idia. O perfeito ativo mais recente; menos usado e tem conflitos semnticos com al gumas formas em alguns verbos. Mostramos tambm que, como o infectum tem o passa do expresso pelo imperfeito e o aoristo tem o passado expresso pelo aoristo enqu adrado, narrativo, o passado do perfeito expresso pelo mais-que-perfeito. Most raremos que no h outros modos no passado; s o indicativo. Ao tratarmos da mor fologia dos aspectos, veremos em primeiro lugar que o infectum-inacabado, quando no tem o tema igual ao do aoristo, ele o tem alargado, ampliado, por prefixos (redobro), infixos e sobretudo sufixos formadores. Ns vemos nisso uma ntida re lao de significante e significado. O tema do infectum-inacabado nunca menor1 1 do que o do aoristo. Isso no mero acaso. Comearemos apresentando o quadro geral das desinncias, que so poucas, e mostraremos que no h desinncias espe ciais para esse ou aquele tema verbal, e que a opo para -v ou -mi da 1a pessoa da voz ativa mero problema fontico: os temas em consoante e semivogal optam pelo -v, e os temas em vogal optam pelo -mi. Constataremos tambm que as desinn cias no pertencem a esse ou quele quadro ou paradigma; elas pertencem, so prop riedades das pessoas gramaticais. Isso significativo e importante e explica por que o grego no usa o sujeito-pronome. que as desinncias o representam sufic ientemente. Cada pessoa gramatical tem suas desinncias: 11 Salvo alguns raros casos, antigos na lngua, como gagon. Ver na flexo do aoris to. mur01.p65 22 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 23 Quadro das desinncias verbais 1 pessoa sing. ativa mdia/ pas. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secu nd. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secund. prim. secund. -v/-mi -m >-n (>a depois de consoante) -mai -mhn -si / w -w -sai -so -ti -t -tai -to -men -men -meya -meya -te -te -sye -sye -nti -n (sa-n) -ntai -nto 2 pessoa sing. ativa mdia/ pas. 3 pessoa sing. ativa mdia/ pas. 1 pessoa pl. ativa mdia/ pas. 2 pessoa pl. ativa mdia/ pas. 3 pessoa pl. ativa mdia/ pas. mur01.p65 23 22/01/01, 11:35
24 introduo: guia do leitor As desinncias do imperativo apresentam apenas um problema: o imperativo singula r (o verdadeiro, original, primeiro), na voz ativa do infectum, seria de desinn cia zero, naturalmente.12 Mas os temas em consoante e semivogal precisaram de um a vogal de apoio -e que, por analogia, os outros verbos usam; krne/t-ye-e > t -yei. No aoristo sigmtico singular da voz ativa e mdia, usam-se antigas frmul as, mas so de 2 pessoa -so-n / -sai. E no aoristo passivo singular toma-se emp restada a desinncia do locativo -yi sobre o tema de aoristo passivo. Observe-se ainda a sintonia ou sinfonia fontica entre as consoantes das pessoas gramatica is e as desinncias: 1 o -m- dos pronomes de 1 pessoa e o -m da primeira pessoa : no singular: me/mou/moi -m-> -n/-mi/-mai/-mhn 13; No plural, mew mterow -m2 o -s- das 2as pessoas correspondem a tu > su -w/-sai/-so 3 o -t- das 3 a s pessoas do singular tw e do plural (com -n- epenttico) -ti / -t/-nt/ntai/nto tw um antigo ditico empregado por Homero e Herdoto com significado de es te , um anafrico; e a um conetivo anafrico tambm, por sua vez so os formadore s do pronome de 3 pessoa, na verdade um ditico: a tw > atw. Ao tratarmos da morfologia do aoristo, veremos que h um aoristo flexionado sobre a prpria raiz do verbo. Chamaremos esse aoristo de aoristo de raiz-tema . o aoristo que as gra mticas denominam aoristo segundo ou aoristo temtico . So denominaes imprprias : a primeira porque meramente administrativa, pois as gramticas estudam o 12 Faria contraponto com o vocativo, que o gancho do dilogo apenas; no tem fun o e por isso no tem desinncia (caso). 13 g absoluto; no tem plural nem f eminino, e as flexes dele so sobre tema diferente. Mas a variante -v de primeira pessoa no deve ser mera coincidncia. mur01.p65 24 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 25 aoristo sigmtico antes desse aoristo; a segunda, como j dissemos, porque confu nde vogal temtica com vogal de ligao. Diremos tambm que esse aoristo de raiz -tema o mais antigo por razes semnticas e arrolaremos uma lista de verbos ho mricos, todos com significados dos atos primeiros, essenciais, concretos, do se r humano. Estudaremos a seguir o aoristo em -h, que na origem tem um significado mdio, intransitivo e depois serviu para exprimir a voz passiva, sobretudo dos verbos de tema em soante-lqida, fazendo contraponto com outra caracterstica d a passiva, mais tardia e mais forte, que passou a ser a paradigmtica, -yh- / sy h. Falaremos a seguir do aoristo e do futuro sigmticos. Embora o aoristo sigmt ico esteja presente nos textos homricos, sua criao certamente recente. Mas, por ser uma marca forte, acabou prevalecendo e passou a ser o aoristo-refernci a, e todos os verbos novos que foram sendo criados passaram a ter o aoristo sigmt ico. Dentro do aoristo sigmtico mostraremos o tratamento fontico que ele sofre depois de temas em soante-lqida: l, m, n, r. Vincularemos a flexo do futuro do aoristo, mostrando que, por razes semnticas, o futuro no poderia ser con strudo sobre o tema do infectum-inacabado. Provaremos tambm que morfologicamen te ele se constri sobre o tema do aoristo. Ao tratarmos do perfectum-acabado, m ostraremos que formalmente ele se constri sobre o tema do aoristo; falaremos so bre o redobro e suas variantes e mostraremos que cronologicamente o perfeito md io-intransitivo anterior ao passivo, que se serviu de suas desinncias, e que o perfeito ativo o mais recente. Diremos tambm que o perfeito ativo mais di fcil de formular em portugus, e que, estatisticamente, o menos freqente. Ao pensarmos em portugus, temos dificuldades em diferenciar um pretrito perfeito simples de um aoristo narrativo (pontual). A diferena existe, mas s o context o nos pode esclarecer. O imperativo perfeito ativo, embora formalmente possvel, exige uma operao mental complexa: a noo do acabado, perfeito no se coaduna com a noo eventual do imperativo. No temos lembrana de a termos encontrado em textos. mur01.p65 25 22/01/01, 11:35
26 introduo: guia do leitor Passamos ento a estudar os modos, numa seqncia que manteremos sempre: indicat ivo, subjuntivo, optativo, imperativo, particpio e infinitivo. O estudo dos mod os em grego precedido de algumas consideraes sobre os modos em portugus e l atim. Mostraremos que a nomenclatura referente aos modos discutvel, e que ess e problema j est em Dionsio Trcio, em sua gramtica que j sofre os vcios d a gramtica descritiva, que deixa de lado a relao significante-significado. Ex plicaremos os modos a partir de seus nomes. preciso ter em mente, antes de tud o, que o uso desse ou daquele modo num enunciado qualquer depende do emissor da mensagem, ele o dono da mensagem, e de como ele quer que o receptor a receba. Es tamos falando de uma mensagem pensada coerente, claro. Essa observao muito i mportante porque, sempre que pensamos em estudar os modos verbais de determinada lngua, pensamos na sintaxe dos modos. Essa viso a partir do abstrato para o con creto a causadora principal da dificuldade do entendimento e do emprego dos mo dos em qualquer lngua. Ns entendemos, e a prtica na sala de aula nos confirmo u, que as palavras so autnomas, as expresses, quer verbais quer nominais, tm um significado em si mesmas e por si mesmas e dentro do enunciado so elos da c adeia e so interdependentes; o que os comanda a linha semntica do enunciado, que o que o emissor elaborou ou est elaborando em sua mente e est transmiti ndo ao receptor da maneira que ele quer que o receptor a aceite. A interpretao e o entendimento dos modos empregados depende desse dilogo direto, sem interme dirios, entre leitor > texto . Entendemos por texto o prprio emissor. por isso qu e no teremos um captulo de Sintaxe dos Modos ou Sintaxe do Subjuntivo, ou do Opta tivo etc. ou da Sintaxe das Oraes Temporais, Causais, Relativas, Participiais, I nfinitivas. Os inmeros exemplos que arrolaremos nos levaro a entender os modos gregos. Mostraremos, por exemplo, que um subjuntivo eventual, e em portugus se traduz pelo presente ou futuro do subjuntivo quer ele esteja numa orao fina l, temporal, causal, modal etc. Mostraremos que o indicativo o modo da realida de objetiva e subjetiva e, por coerncia, ele tambm o modo da irrealidade. Ex emplificaremos com algumas frases, estabelecendo as correspondncias em portugu s. mur01.p65 26 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 27 O grego usa o mesmo modo, indicativo, quer na realidade objetiva ou subjetiva en unciativa, quer na irrealidade supositiva, hipottica de presente e de passado, em que usa, respectivamente o imperfeito e aoristo indicativos, apenas marcados por e na condicionante e n na condicionada. O portugus emprega o indicativo para a realidade objetiva ou subjetiva enunciativa presente; para a irrealidade present e, usa o imperfeito do subjuntivo com marcador se na condicionante e o condicional simples sem marcador na condicionada; e, para a irrealidade passada, o portugu s usa o mais-que-perfeito do subjuntivo com o marcador se na condicionante e o con dicional composto, sem marcador, na condicionada. Ver exemplos nas pginas 251 e 267. Diremos tambm que a denominao subjuntivo/ conjuntivo imperfeita, porq ue sugere que o modo da subordinao, quando a subordinao apenas uma parte de seu significado: nas expresses de deliberao, exortao, pedido (voto), n o h subordinao. Ela s est presente na suposio da probabilidade, futura, c om o se, ou caso, no caso de, quando na condicionante e subjuntivo presente ou f uturo, e geralmente futuro (indicativo) sem nada na condicionada; nas construe s de finalidade, ou se usa para que, a fim de que e o subjuntivo presente ou a c onstruo para com infinitivo. Insistiremos no sentido da eventualidade do subju ntivo. O subjuntivo o modo do eventual, do provvel, do fato futuro no determ inado. uma espcie de modo da antecipao. Portanto, a traduo em portugus s er ou pelo subjuntivo presente ou pelo subjuntivo futuro ou pelo infinitivo pre cedido de para. Essa eventualidade, no entanto, no sentida em portugus no us o do quando eventual, isto , quando exprime o fato repetido como presente: cada vez que, sempre que. O portugus usa o indicativo. O grego no. Usa coerentemen te o subjuntivo, isto , o eventual, porque, na medida em que um fato sucessiv o, repetido, ele no um fato s, isto , no delimitado, e por isso o uso do indicativo imprprio. Esse sentido da eventualidade, fato futuro, explica o u so de desinncias primrias para todo o subjuntivo. Ao tratarmos do optativo, di remos que o modo da possibilidade ou da afirmao atenuada e que em portugus ns o traduziremos ou pelo mur01.p65 27 22/01/01, 11:35
28 introduo: guia do leitor imperfeito do subjuntivo ou pelo condicional simples, que so os modos que expri mem em portugus a possibilidade e a afirmao atenuada. Diremos que a denomina o imperfeito do subjuntivo imprpria, porque o optativo o modo da possibili dade, do possvel, da transmisso da afirmao de terceiros, do voto negativo, i ncerto, da imprecao negativa, incerta, tendente irrealidade. Esse sentido de possvel, de incerteza, aproxima o optativo mais do irreal do que do real ou ev entual. Isso explica o uso de desinncias secundrias em todo o optativo. Ao tra tarmos do modo imperativo, diremos que o modo do dilogo, que bipolar, horiz ontal, singular na relao eu/tu e que, por isso mesmo, mais uma vez, a denomina o imperativo no corresponde exatamente ao seu significado. Nem sempre, ou quase n unca, o imperativo contm uma ordem. Mostraremos tambm que os outros imperativos so formaes analgicas e que h dois imperativos: os de 2 as pessoas (tu e vs ), que denominamos imperativo direto e os de 3as pessoas, tambm analgicos, que denominamos imperativo indireto, porque a 3 pessoa no est no eixo do dilogo e a mensagem dada indiretamente. Ao tratarmos do particpio, mostraremos a ri queza do uso do particpio em grego. Cada aspecto tem trs particpios: da voz a tiva, mdia e passiva: so doze (infectum, aoristo, futuro, perfeito), e cada um com trs formas: masculino, feminino e neutro. So ento, ao todo, trinta e sei s particpios. Formalmente so trinta, porque no infectum e perfectum a voz mdi a e a voz passiva tm a mesma forma Mostraremos as correspondncias em portugus , que no so claras por causa da invaso do gerndio, que ocupou as funes do particpio da voz ativa. Em grego, o particpio um verbo-adjetivo; disso que ele tira seu nome metox , participao. Ele tem formas nominais, mas funcioname nto e natureza verbal: ele pode ser adjunto adnominal (epteto), predicativo (ap osto, conjunto), pode ser substantivado, mas no perde sua natureza verbal e pod e ter objeto direto, pode exprimir relaes de espao, como o verbo de que ele a expresso nominal. mur01.p65 28 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 29 O infinitivo o ltimo item desta seqncia, mas ele j ter sido tratado em pa rte no captulo do infectum-inacabado, na voz ativa, porque, como noo substant iva do verbo, isto , um substantivo, pode exercer todas as funes de um substa ntivo, e mostraremos como o infinitivo grego descarrega todas as funes e todos os casos no artigo, contrariamente ao latim que, no tendo artigo, foi obrigado a criar casos para o infinitivo, e o gerndio representa esses casos; e que, em p ortugus, o gerndio representa os casos instrumental e locativo (raramente o ge nitivo-ablativo). Mas, tambm no infinitivo, o grego mais rico do que o latim e o portugus: cada aspecto tem trs infinitivos: ativo, mdio e passivo: infect um, aoristo, futuro e perfeito. So 12 infinitivos, com seu significado prprio. Na verdade so ento, ao todo, 12 infinitivos, semanticamente, mas morfologicam ente, formalmente, so 10, uma vez que no infectum e no perfectum a voz mdia e a voz passiva tm a mesma forma. Completaremos a srie falando dos adjetivos ver bais em -tw, t , -tn, que correspondem aos adjetivos de sufixo bilis, e, em la tim, e -vel, em portugus: o que pode ser feito ; e -tow, -ta, -ton, que corresp ondem aos adjetivos de sufixo -ndus, a, um do gerundivo em latim, e em portugus ao sufixo erudito -ndo do gerundivo latino, com o significado de o que deve ser feito , ambos construdos sobre o tema verbal puro, isto , sobre o tema do aorist o. Depois da flexo nominal e verbal, passaremos a tratar das Invariveis . Na verd ade elas so a conexo na relao substantivo/verbo; elas so circum-stanciais , pe rifricas, peritta . Comearemos pelas preposies e mostraremos que todas elas s o advrbios com significado espacial. No h nenhuma preposio com significado temporal. Mostraremos tambm, individualmente, que os casos que as preposies re gem so decorrentes da relao espacial que elas determinam e que, por regerem mais de um caso, no mudam necessariamente de significado, que permanece o mesmo, co ncreto, espacial. O que pode acontecer elas serem usadas em outro plano, metaf rico, figurado, mas, a relao espacial metafrica sendo a mesma, o caso ser o mesmo. H mur01.p65 29 22/01/01, 11:35
30 introduo: guia do leitor uma coerncia total nessas construes. Mas para demostr-la foram precisos inm eros exemplos que fomos buscar em vrias gramticas. A seguir abordaremos as con junes e conetivos em geral, que a gramtica grega denomina sndesmoi , amarraes . Mostraremos que o que chamamos de partculas so, na base, conetivos da oralidade, que permaneceram na mente do homem grego. Por coincidncia, nos textos em que a oralidade est mais presente, como no teatro ou nos dilogos de Plato, h mais desses conetivos do que nos textos de Aristteles, por exemplo. Mas eles so ma is instrumentais e marcadores, e por isso difcil identificar neles um signifi cado prprio, independente, permanente. Eles so mais conotativos. Os inmeros e xemplos mostraro isso com bastante clareza. Mas no estudaremos as partculas s eparadas das conjunes; elas estaro na mesma lista, por ordem alfabtica. Nas conjunes propriamente ditas, vemos amarraes entre frases, enunciados. Tambm a , por meio de inmeros exemplos, mostraremos que as conjunes no regem esse ou aquele modo verbal. Elas tm um significado prprio e o modo verbal decorrente de como o enunciado passado do emissor para o receptor: se h uma realidade o u irrealidade o indicativo; se h uma eventualidade, o modo o subjuntivo ou futuro; se h uma possibilidade, ou atenuao da mensagem, o modo o optativo. A seguir estudaremos os advrbios propriamente ditos; eles diferem das preposi es, antigos advrbios, na medida em que no exigem uma relao espacial depois d eles; so usados de maneira absoluta. Eles so os adjetivos do verbo , isto , do = ma, o que dito do sujeito . Eles so basicamente circunstanciais: modais, instru mentais, temporais e espaciais, em suas vrias relaes de acusativo, genitivo e locativo, e por isso muitos deles so formas petrificadas desses casos. este o roteiro da exposio de nossa teoria sobre a lngua grega. Mas esta teoria que r ser essencialmente prtica, porque foi da prtica que ela nasceu, durante anos sucessivos, em que nenhuma aula sobre um determinado ponto foi igual anterior ou posterior. Alm disso, a prtica, isto , o ensino foi a razo e causa des te nosso trabalho. Por isso, apresentaremos aqui tambm a parte didtica, na qua l foram aplicadas todas estas idias sobre o funcionamento da lngua grega. At agora ela foi apresentada nas diversas verses de nossas apostilas , na qual era ap resentada a teoria e a prtica, isto , as frases que mur01.p65 30 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 31 deviam ser traduzidas. Mas a teoria que estava nessas apostilas ou era sumria o u estava em processo de elaborao, e por isso ns solicitvamos aos alunos que usassem a pgina anterior em branco para anotar nossa exposio oral que s veze s at contrariava a escrita. As frases foram reunidas enfocando um ponto determi nado da matria, que foi dividida em unidades didticas, ou mdulos, na seguinte ordem: A/ Flexo dos nomes de tema em vogal e formas do verbo ser. So os Texto s I e II. Neles esto substantivos, adjetivos e diticos em -o e -a/-h nos diver sos casos, menos no acusativo, porque os verbos de ao sero dados a seguir.14 Mas a traduo dessas frases no um fim em si; ela s tem sentido se o enunciado foi entendido no relacionamento de suas partes. Por isso deve-se agir da forma seguinte: copiar o texto, mas s a frase que vai trabalhar15; identificar o suje ito e o verbo, e os outros casos, relacionando estreitamente caso e funo. Por isso deve-se deixar uma linha em branco e registrar isso nessa linha; s ento t raduzir, coerentemente com a anlise feita. As palavras esto no vocabulrio de mais ou menos 5.000 palavras, que foi preparado para isso. Traduzida essa frase, veremos a seguir propostas de verso, ou de uma frase imitando ou parodiando a que acabamos de traduzir, ou ainda 14 Procuramos registrar apenas frases abonadas, isto , frases de autores gregos ou da tradio grega. Frases pensadas e enunciadas em grego. Isto extremamente i mportante: o aluno sente que est penetrando num mundo diferente e que esse mund o o envolve. 15 A transcrio manual extremamente importante, essencial. Esse primeiro contato concreto com o texto tem um efeito muito importante, no s com pletando a alfabetizao do estudante, mas familiarizando-o com o texto: a parti r da o texto grego no ser o estranho com quem se bate ou de quem se foge. mur01.p65 31 22/01/01, 11:35
32 introduo: guia do leitor veremos alguns sintagmas em portugus, em que veremos as mesmas palavras que aca bamos de usar na traduo. Poder ainda haver uma proposta para manipular, trans formar a frase, quer passando-a para o singular ou para o plural, ou ainda mudan do-a da voz ativa para a passiva e vice-versa. Esses exerccios complementares, que foram denominados verso e ginstica nas edies anteriores, tm o objetivo de fazer fixar no s os casos da flexo nominal e as desinncias da flexo verb al, mas sobretudo fazer fixar um vocabulrio bsico. Na verso teremos em portug us todas ou quase todas as frases que foram traduzidas do grego, mas em forma d e glosa: muda-se o verbo, mudam-se as relaes entre os nomes, muda-se o nmero. A verso visa a que se vejam as relaes da lngua a partir do lado do leitor. Na frase expressa em grego, ele tem os casos para os quais precisa encontrar a f uno; na frase expressa em portugus, ele deve identificar a funo para lhe ap licar o caso correspondente. A verso tem tambm outra finalidade: fazer a revis o da frase grega que acabou de ser traduzida, para se identificar nela a glosa em portugus. Isso propicia ver pelo menos duas vezes as palavras empregadas, fi xar o significado delas e assim guard-las mais facilmente na memria. A ginsti ca, isto , exerccio com os sintagmas, apresentada em duas partes: a primeira compe-se basicamente de sintagmas das relaes nominais que se encontram nas f rases traduzidas. De novo, somos levados a reler as frases, identificar as palav ras e dar-lhes o caso compatvel com a funo que ele identifica no sintagma. O objetivo dessa ginstica familiarizar o leitor com o sistema de casos da lngu a grega e ajud-lo a identificar sempre a relao funocaso / caso- funo; a s egunda parte consiste em registrar em grego algumas das frases traduzidas, pedin do ao leitor pass-las para o plural, se esto no singular, e vice-versa; passar para a voz passiva e vice-versa; passar as formas verbais do presente para o im perfeito ou futuro etc. O objetivo dessa ginstica obrigar o leitor a voltar u ma terceira vez para as frases traduzidas, propiciando-lhe novo contato com as p alavras e as formas, ajudando-o a adquirir vocabulrio e firmeza e conscincia n o uso das formas nominais. mur01.p65 32 22/01/01, 11:35
introduo: guia do leitor 33 B/ Todas as formas do infectum dos verbos so introduzidas nos Textos Gregos II, III e IV, sempre com nomes de temas em vogal. O modelo de traduo o mesmo, m as, alm do acusativo, entram a todos os verbos, tanto em -v quanto em -mi. Ali s, mostramos que a diviso tradicional em duas categorias de verbos, com desin ncias diferentes no verdadeira. A nica desinncia diferente a da 1 pessoa da voz ativa, e isso decorre de fator fontico: os temas em consoante e semivog al tm a desinncia -v, e os de temas em vogal tm a desinncia -mi. Nesses dois grupos de textos usamos todas as formas do infectum das trs vozes e de todos o s modos, menos o particpio ativo, por ser um nome de tema em consoante do qual ainda no se viu a flexo. Segue-se o mesmo esquema e traduzem-se as formas verb ais depois de identific-las e analis-las; mas a traduo parte do texto, isto , do significado da forma dentro do enunciado. Cada um desses textos vem seguid o de uma verso e de ginstica com os mesmos objetivos dos textos I e II. C/ As formas do imperfeito de todos os verbos esto nos Textos III e IV que introduzim os evidentemente depois de explicarmos a construo do passado em grego. Novamen te, passamos pela traduo das frases e depois pela verso e ginstica. Nesse po nto o leitor se surpreende e pergunta a razo por que o grego no tem imperfeito do subjuntivo. Com o texto IV, termina o Mdulo I do curso. Em geral ele dado em um semestre. D/ A flexo dos nomes de temas em consoante e semivogal d inc io ao Mdulo II. Damos o quadro geral das desinncias e solicitamos ao leitores o trabalho de acoplar essas desinncias aos diversos temas. A primeira dificulda de encontrar o tema: na maior parte dos nomes, o registro no genitivo singular ajuda a identific-lo; mas nos temas em -w, -W, -j no. Os Textos Gregos V e VI contm essencialmente nomes de temas em consoante e semivogal e as formas do in fectum dos verbos (presente e imperfeito), em todos os modos. mur01.p65 33 22/01/01, 11:36
34 introduo: guia do leitor No introduzimos a o futuro, como fazem as gramticas, porque o futuro constr udo sobre o tema do aoristo. O ritual com os Textos Gregos V e VI o mesmo dos o utros: o aluno faz a traduo, depois a verso e ginstica. Os objetivos tambm so os mesmos. E/ O aoristo vem a seguir nos textos que denominamos Exerccios d e aoristo e futuro, que seriam os Textos Gregos VII e VIII. O ritual o mesmo, ma s, alm da traduo, pede-se que se identifique o tema verbal, para que se acost ume com a idia de que o verdadeiro tema verbal o aoristo; a seguir pede-se qu e se construa o infectum a partir do aoristo. Percebe-se ento com mais clareza que h uma relao estreita de significante e significado nas formas verbais. Us a-se para isso todo o quadro denominado Formao dos temas do infectum. As diver sas formas de aoristo que esto nessa srie de frases levam o estudioso a identi ficar e se familiarizar com todos os aoristos e futuros nas trs vozes e em todo s os modos. Nunca a partir de paradigmas, mas a partir das frases, que apresenta m as formas como elementos semntica e sintaticamente autnomos. Acontece ento que, por iniciativa prpria, o estudioso apresenta diversas construes do verbo grego, a partir do tema do aoristo! Isto mostra que, afinal, ele est entendend o a estrutura da flexo verbal! F/ O perfeito. Finalmente, temos os Exerccios s obre o tema do perfeito. Inicialmente houve uma introduo, em que ficou demonst rado que o perfeito, por ser um resultado presente de um ato passado, um estad o presente e que, por conseguinte, o perfeito mdio-intransitivo teria sido o ma is antigo, do qual derivou o passivo e finalmente construiu-se o ativo. So os T extos Gregos IX e X. O estudioso comea por transcrever e traduzir as frases, te ndo em vista sobretudo a identificao das formas verbais no perfeito. Ele encon tra as vrias formas do perfeito, que esto explicadas no manual, e vai tentando traduzir uma a uma essas formas para o portugus. mur01.p65 34 22/01/01, 11:36
introduo: guia do leitor 35 Depois de cada frase vm a Verso e a Ginstica. Mas, j, junto com o perfeito, estar enfrentando textos de autores, sobretudo de Plato, cuja traduo e leitu ra so instigantes e gratificantes. esse o projeto! Foi esse o projeto! Resta ver agora se na teoria ele se justificou. A prtica, ao que parece, o aprovou! mur01.p65 35 22/01/01, 11:36
36 o alfabeto grego O alfabeto grego Signo grego AB-b G-g D-d E-e Z-z H-h Y-y I -i K-k L-l M-m N-n J, j O-o P-p R-r S - s, w18 Tt U-u F-f X-x C-c V-v 16 A som a b gue d e dz th i k l m n ks o p r /rh s () t y ph kh ps Denominao lfa bta g mma dlta ciln zta ta yta ta k ppa l mbda m n j mikrn p = s gma tau ciln f x c mga lpha bta gma dlta e psiln17 dzta ta thta ita kpa lmbda m n ks o mikrn p rh sgma tau y psilon ph kh ps o mg a Exemplos fonticos altar, fada belo, bolo gato, guerra dado, dedo mesa, medo Zeus (Dzeus/Zdeus) atl eta, tese th (ingl. thing) nada Kant, Kent lado, lido ms, mal nada axioma tolo pedra rei, rato (vibrante) sal, ser (sempre ) tarde hypnose (u francs) fuga kh ris psicose hora a16 fonte grega utilizada neste livro a Athenian. no seguimos a denominao tradi cional dos grafemas gregos e, o, v, respectivamente psilon, mikron e mega; pr eferimos denomin-los pelo que eles so: e psiln, e simples, desguarnecido, o m ikrn, o pequeno, curto, breve e o mga, o grande, longo. 18 O s- usa-se no inc io e no meio das palavras, e -w no final. 17 Ns mur02.p65 36 22/01/01, 11:36
o alfabeto grego 37 Exerccio de leitura e transcrio: Leia com auxlio da transcrio em caracteres latinos as palavras abaixo, todas existentes em portugus, e a seguir transcreva-as em caracteres gregos; os acent os na transcrio em portugus so para auxiliar a leitura: o acento circunflexo no indica vogal fechada, que no existe em grego.19 Omhrow tr peza sbestow biblon gumn sion dhmokrata yatron yatron ciw ciw jvma a bow bow =inokrvw =inokrvw d d xaraktr xarakt r naw naw egenw egen w ggelow ggelow lrugj l rugj krsiw krsiw moiow moiow mnow mnow _ppoptamow p poptamow stoikw stoikw dilogow di logow mousik mousik Sprth Sp rth Ka sar Kasa r Hmeros trpeza sbestos biblon gymnsion demokrata thatron psis aksoma b os rhinokros oid/od kharaktr nas eugens ngelos lrynks krsis hmoios hy mnos hippoptamos stoiks dilogos mousik Sprte Kasar filanyrvpa filanyrvpa drma dr ma biografa biografa graf graf gnesiw gnesiw dignvsiw di gnvsiw lab rinyow labrinyow metafor metafor z on zon briw briw =ema =ema cux cux ke anw keanw fainmenon fainmenon plotow plotow gkura gkura ra ra Flippow Flippow damvn damvn =uymw =uymw m mow mmow nvmala nvmala _ppdromow ppdr omow klinikw klinikw sf gj sfgj krpoliw krpoliw philanthropa drma biograph a graph gnesis dignosis labyrinthos metaphor zion/zon hybris20 rhema psyk h okeans phainmenon plotos nkyra hra Phlippos damon rhythms mmos anoma la hippdromos kliniks sphnks akrpolis 19 H um equvoco quando se fala de vogais fachadas em grego: v / h so vogais longas, articuladas, abertas; mas e /o so breves, simples, soltas no articuladas, e n o so necessariamente fechadas. 20 O -y- no comporta acento nas lnguas modern as. mur02.p65 37 22/01/01, 11:36
jv
38 o alfabeto grego fvsfrow fvsfrow pitfiow pit fiow =eumatismw =eumatismw profulatikw profula tikw drma drma kubernetik kubernetik lgow lgow kan_n kann knhsiw knhsi w diskoblow diskoblow gevrgikw gevrgikw pardojow par dojow kklvc kklvc pax dermow paxdermow srigj srigj sgxronow sgxronow kaydra kaydra boukolikw b oukolikw x_ x ppow ppow m_numow mnumow mayhmatikw mayhmatikw tuf_n tu fn pntaylon pntaylon myow myow ylhtw ylht w gevmetra gevmetra politikw politikw biblioykh biblioy kh tomow tomow belskow belskow pologa pologa kvm da kvmda despthw despthw kat logow katlogow fil nyrvpow filnyrvpow must rio n mustrion di lektow dilektow roskpow roskpow asthrw asthrw phosphros epitphios rheumatisms prophylatiks drma kybernetik lgos kann k nesis diskoblos georgiks pardoksos kyklops pakhydermos syrinks synkhronos ka thdra boukoliks ekh hppos homnymos mathematiks typhn pntathlon mythos at hlets geometra politiks bibliothke tomos obelskos apologa komoida/ komod a desptes katlogos philnthropos mysteron dilektos horoskpos austers polglvttow polglvttow pgramma pgramma a_morraga amorraga Yedvrow Yedv row potenousa potenousa Ay_nai Aynai nmow nmow knhma knhma kvmikw kvmi kw kunikw kunikw cttakow cttakow duspeca duspeca fntasma f ntasma kntauro w kntaurow frmigj frmigj lyh l yh xrusostmow xrusostmow ama ama noma nom a liow liow xrusnyemon xrus nyemon ttanow ttanow rmona rmona metevrologa m etevrologa yumw yumw lurikw lurikw riymhtik riymhtik pliw pliw krob thw k robthw sterskow sterskow stronoma stronoma trag da tragda _larw larw y raj y_raj dskow dskow ceudnumow ceud_numow kataklusmw kataklusmw atxyvn a txyvn strathgw strathgw pokritw pokrit w polyglottos epgramma haimorraga Thedoros hypotenousa Athnai nmos knema ko miks kyniks psttakos dyspepsa phntasma kntauros phrminks lthe krysostmo s hama noma hlios khrysnthemon ttanos harmona meteorologa thyms lyriks arithmetik plis akrobtes asterskos astronoma tragoida /tragoda hilars th raks dskos pseudnymos kataklysms autkhthon strategs hypokrits mur02.p65 38 22/01/01, 11:36
o alfabeto grego 39 lejikn lejikn tojikw tojikw seismw seismw fr siw frsiw dgma dgma Pl tvn Pl tvn Dhmosynhw Dhmosynhw Diognhw Diognhw Puyagraw Puyagraw Levndaw Levnda w Pramow Pramow Milti dhw Miltidhw Agammnvn Agammnvn Xenofn Jenof_n Zew Ze w Ermw Erm_w Apllvn Apllvn Hra Hra Esta Esta Artemiw Artemiw Kli Kli_ Ora na Orana Tercixrh Tercixrh Yala Yala Polumna Polumna ZEUS ERMHS APOLLVN HRA AFRODITH AYHNA MELPOMENH EUTERPH KALLIVPH ERATV ERATV leksikn toksiks seisms phrsis dgma Plton Demosthnes Diognes Pythagras L eondas Pramos Miltides Agammnon Ksenophn Zes Herms Apllon Hra Esta rt emis Kli Ourana Terpsikhre Thala Polymna ZEUS HERMES APOLLON HERA APHRODITE ATHENA MELPOMENE EUTERPE KALLIOPE ERATO b rbarow brbarow yrnow yrnow prblhma prblhma bolw bolw Periklw Perikl_w Svkr thw Svkrthw Aljandrow Aljandrow Ekldhw Ekldhw Arxim dhw Arximdhw Axill ew Axillew Aristotlhw Aristotlhw Odussew Odussew Sofokl_w Sofoklw Aristof n hw Aristofnhw Poseidn Poseidn Arhw Arhw Hfaistow Hfaistow Dhm thr Dhmthr Afr odth Afrodth Ay na Ayna Melpomnh Melpomnh Etrph Etrph Kalli_ph Kallip h Erat Erat_ POSEIDVN POSEIDVN ARHS ARHS HFAISTOS HFAISTOS DHMHTHR DHMHTHR ARTE MIS ARTEMIS KLIV KLIV OURANIA OURANIA TERCIXORH YALIA YALIA POLUMNIA POLUMNIA brbaros thrnos prblema obols Perikls Sokrtes Alksandros Eukldes Arkhimd es Akhilles Aristotles Odysses Sophokls Aristophnes Poseidn res Hfaistos Demter Aphrodte Athna Melpomne Eutrpe Kallipe Erat POSEIDON ARES HEPHAIS TOS DEMETER ARTEMIS KLIO OURANIA TERPSIKHORE THALIA POLYMNIA mur02.p65 39 22/01/01, 11:36
40 o alfabeto grego Normas de transliterao Para comodidade do aluno, transcrevemos a seguir as Normas de transliterao de palavras do grego antigo para o alfabeto latino acordadas pela Sociedade Brasile ira de Estudos Clssicos, com algumas discordncias de nossa parte, expressas na s Observaes. Signo grego A, a Ai, & B, b G, g gg gk gj gx D, d E, e Z, z H, h Hi, Y, y I, i K, k L, l M, m N, n J, j O, o P, p R-, =-rS, -s-, -w T, t dlta - delta ciln - e psiln zta - dzta/ zta ta - ta ita suscrito yta - thta ta - ita k p pa - kpa l mbda - lmbda m - m / my n - n / ny j - ksi mikrn - o mikrn p - pi = - rh (inicial) r - r (interno) sgma - sgma ta - tau Denominao l fa - alfa ita suscrito bta - beta g mma - gama gama nasal Signo latino A, a ai B , b G, g ng nk nks nkh D, d E, e Z, z E, e Exemplos g ph - agpe dv/ idv - do / ido b rbarow - brbaros gevrgw - georgs ggelow - ngelos gkow - nkos s lpigj - slpin ks gxein - nkhein dkh - dke edvlon - idolon z thsiw - ztesis liow - hlios ei cux / cuxi - psykh / psykhi Th, th yew - thes I, i k L, l M, m N, n Ks, Ks O, o P, p Rh, rh R, r S, s T, t da - ida kakn - kakn lvn - lon martur a - martyra nmow - nmos juln - ksyln lgow - olgos potamw - potams =uy mw - rhythms riymw - arithms Sfgj - Sphnks tarow - taros mur02.p65 40 22/01/01, 11:36
o alfabeto grego 41 U, u au eu hu ou ui F, f X, x C, c V, v Vi, ciln - y psiln , au eu eu ou ui lra - lyra / lra ag - aug eagglion - euanglion hj mhn - euksmen plotow - plotos uw - huis f rmakon - phrmakon x riw - khris cux - psykh mw - oms tragda - tragoida/ tragvida - tragoida rg - org stora - histora f - phi x - khi c - psi v mga - o mega ita suscrito esprito brando esprit o rude Ph, ph Kh, kh Ps, ps O, o oi -.h Mantm-se os acentos agudo, grave e circunflexo na forma e nos locais em que se encontram em grego, mas, respeitando-se a acentuao diacrtica do portugus. Po r exemplo, os nomes gregos zta, ta, yta levam acento circunflexo em grego no por terem vogais fechadas, mas por serem longas (abertas). Acentu-las com circ umflexo em portugus induziria o leitor de lngua portuguesa a pronunci-las fec hadas. Seria um erro. Por isso empregamos o acento agudo. No o caso de S, sg ma, sgma, que poder receber o circumflexo no -i-, e de plotow, plotos, sem t ranstornos para a leitura. Exemplo: t tj noma bow, rgon d y natow ti tkso i noma bos rgon d thnatos Ao arco o nome vida, a obra, morte (Herclito) Observaes: l. O leitor deve ter notado que, na transcrio para caracteres lat inos, h, no portugus e no latim, um deslocamento da vogal tnica: a) nas palav ras gregas oxtonas de mais de duas slabas, como, metafor a transcrio para o p ortugus se faz para metfora , proparoxtona; b) nas palavras gregas oxtonas de d uas slabas, como d , a transcrio para o portugus se faz para ode , paroxtona; mur02.p65 41 22/01/01, 11:36
42 o alfabeto grego c) nas palavras gregas proparoxtonas de trs slabas com a penltima longa, jvm a, a transcrio para o portugus se faz para axioma , paroxtona e as com a penlt ima breve metafor se faz para proparoxtona. A explicao est na prosdia latina , intermediria entre o grego e o portugus, porque: O latim no tem acentos. O latim no tem oxtonas; por isso desloca a tnica das oxtonas gregas de trs s labas para proparoxtonas: o caso de metafor > metfora; e das oxtonas gregas de duas slabas para paroxtonas: o caso de: d > ode; Nas palavras latinas d e mais de duas slabas, a posio da tnica determinada pela quantidade da pen ltima slaba: se a penltima longa, a palavra paroxtona, jvma (penltima l onga) > axioma; se breve, a palavra proparoxtona: krpoliw (penltima breve) > acrpole. 2. Particularidades da sonoridade e representao grfica das letra s gregas: a) O som do G, g, gma, se produz no plato, isto o cu, ou vu da b oca; por isso ora denominado gutural, ora palatal ora velar. Os lingistas pre ferem denomin-lo velar ; ns o denominaremos palatal ou velar. A dificuldade est em l-lo corretamente na transcrio de gnow, ggnomai, isto , seguido de -ee -i-. Genos soa guenos e ggnomai soa gugnomai . b) A seqncia de um gama velar e uma outra consoante velar, sem vogal intermediria, leva necessariamente a prime ira velar a sair pelas fossas nasais. Da a existncia do g nasal. c) A transcri o do J, j , ksi, deve ser exatamente k + s, que seu verdadeiro som: a transcri o por x , dadas as vrias pronncias do x em portugus, leva a pronncias equivoc adas. d) Ultimamente os editores dos textos gregos preferem o iota adscrito, e p or isso pronunciado; os textos mais antigos, antes dos anos 50, trazem o iota suscrito, no pronunciado. Pura conveno. e) prefervel a transcrio do u em y e no em u , porque este y chamado y grego evoluiu para i em grego. f) O ditongo apenas formal; no se l como ditongo, o que muito incmodo; l-se como um u lo ngo (-ou- francs). mur02.p65 42 22/01/01, 11:36
alguns dados de o alfabeto grego fontica aplicada 43 Alguns dados de fontica aplicada Consideraes gerais No curso deste trabalho, ao tomar contato com as flexes nominal e verbal, o lei tor ver repetidas vezes referncias a alteraes fonticas que as formas nomina is e verbais sofrero. Ver tambm que essas alteraes ou acidentes fonticos s ero apresentados como normais, como se o autor supusesse que o leitor conhecess e fontica grega. Esse comportamento pode ser explicado pela experincia que o a utor adquiriu na sala de aula. Ao apresentar o sistema das declinaes e conjugae s da lngua grega, o autor constatou que estaria repetindo as lies multissecula res de latim e grego, em que se apresentam os esquemas numa certa ordem e o alun o decora um a um os paradigmas (declinaes e conjugaes) de flexo nominal e v erbal, independentes um do outro. E, ao notar que h quebras na sucesso das desin ncias, a gramtica e o professor afirmam que uma regra da lngua e que se dev e aprender assim. Os alunos mais curiosos e teimosos iam procurar o porqu, isto , as explicaes, nos tratados de fontica histrica ou de morfologia histric a, que so recentes. Mas, ao estudar durante anos a fio a lngua grega e tambm durante anos a ensinar (o que a mesma coisa que aprender), tentamos nos coloca r do outro lado da sala, isto , do ponto de vista do aluno, e percebemos que de vamos explicar-lhe que uma lngua um conjunto de sinais que tm a finalidade de comunicar, que uma lngua um idioma, isto , a identificao cultural de um povo e que, por isso mesmo, ela um todo slido, concreto, orgnico, lgico, c oerente, que o falante adquire, conserva e vigia, porque o elemento de sua ide ntificao dentro do grupo, e que qualquer alterao, qualquer atentado que ela sofre, imediatamente sentido e expulso como um elemento perturbador. Ns senti mos isso na lngua grega, que a lngua de uma civilizao extraordinria, toda ela construda na oralidade. Toda a tradio culmur02.p65 43 22/01/01, 11:36
44 alguns dados de fontica aplicada tural grega foi transmitida oralmente, desde a tradio oral anterior aos poemas homricos, os prprios poemas homricos, as obras de Hesodo, a introduo do a lfabeto (sc. VIII e VII a.C.) e os lricos, para no ultrapassarmos o sculo VI a.C. Mas, mesmo depois da introduo do alfabeto, os meios de transmisso da pa lavra escrita eram extremamente raros e caros. A oralidade e a memria eram as g randes armas para a transmisso e conservao do conhecimento. o que vemos na l ngua grega: uma lngua s, com variantes locais, mas que todos os gregos entendi am, durante os Jogos Olmpicos, por exemplo. essa lngua que o menino ateniens e vai aprender ao decorar passagens de Homero, Hesodo e dos lricos na casa do mestre, segundo diz Protgoras (Plato, Protgoras, 325c6-326c6). E quando, depo is de saber de cor esses poemas, aprender a cant-los ao som da lira ou da ctar a, o menino vai para o mestre de ginstica, ele no um menino s ateniense, ci rcunscrito ao ambiente familiar, ele um menino grego. E esse o sentimento qu e o acompanha a vida toda. Essa transformao, essa insero do menino, do efebo , e depois do adulto, na nao grega, foi feita pela lngua grega. Pois bem, acr editando nessa coerncia lingstica, ns comeamos a passar aos alunos uma nova viso da lngua grega. Constatamos que o sistema de flexo da lngua grega si mples, orgnico e lgico. A flexo (nominal ou verbal) se constri sobre uma par te fixa, que vamos chamar de tema, e outra parte varivel, que vamos chamar de d esinncias21. Ns no vamos usar as expresses declinao nem conjugao , porque no vamos adotar a idia de que existe um caso reto (que seria o nominativo) e outros oblquos. No h um caso reto, e por isso no h casos oblquos. Os nomes se co mpem de duas partes: de um tema, que a sede do significado, em que o nome est em estado virtual, isto , sem funo, 21 Para Aristteles, todas as "quebras" no final das palavras so ptseiw, que os gramt icos latinos traduziram por "casus". Mas a tradio da gramtica ocidental reser vou a palavra "caso" para a flexo nominal, com certa ampliao do significado n o sistema das "declinaes". mur02.p65 44 22/01/01, 11:36
alguns dados de fontica aplicada 45 at que receba uma ptsiw, isto , um casus , uma desinncia, que lhe d essa fun o dentro do enunciado. A flexo dos nomes simples: consiste na identificao d esse tema e na aplicao das desinncias que correspondam funo que o nome ex ercer no enunciado. Veremos isso na Flexo nominal. A flexo verbal segue o mes mo modelo: haver um tema, sede do significado virtual, e o sistema de desinnci as (so poucas) que daro ao tema a pessoa, a voz (sujeito agente ou paciente), o nmero (se singular, dual ou plural) e o modo. Veremos isso na Flexo verbal . Tanto a flexo nominal quanto a flexo verbal so absolutamente regulares, nor mais. Bastaria, ento, conhecer as ptseiw/casus/desinncias nominais e verbais (que so muito poucas) e aplic-las aos temas nominais ou verbais. H, contudo, um elemento complicador: a transformao fontica que a lngua grega sofreu no c orrer dos sculos. No vamos falar aqui de sua derivao de um tronco indo-europ eu e suas opes fonticas; vamos falar nas modificaes internas da lngua greg a e sobretudo dos problemas fonticos que surgiram na aplicao dessas ptseiw/c asus/desinncias que so voclicas, semivoclicas ou consonnticas, a temas tamb m voclicos, semivoclicos e consonnticos. O encontro, por exemplo, de um tema voclico com uma desinncia voclica recebe tratamentos diversos segundo os dia letos. O jnico, o drico e o elico, por exemplo, admitem hiatos; o tico, no e ntanto, opta pela contrao. Tambm os encontros entre temas consonnticos com d esinncias consonnticas apresentam problemas: ou as consoantes se acomodam, ass imilam, dissimilam, ou sofrem sncope dependendo das condies, ou vo buscar um a vogal para ajudar a pronunciar os encontros consonnticos difceis. Essa vogal se chama vogal de ligao ou vogal de apoio. Mas precisamos ter em mente que o que preside s modificaes em todas as lnguas, e a lngua grega no exceo, so dois princpios, contraditrios mas harmnicos: de um lado o princpio da f acilidade, que poderamos chamar de praticidade, acomodao ou mesmo preguia, q ue os fillogos acordaram em denominar lei do menor esforo e, de outro lado, o significado da forma, a semntica, isto , o fundamento do exerccio da lngua, que a comunicao. mur02.p65 45 22/01/01, 11:36
46 alguns dados de fontica aplicada Todo e qualquer ser humano, que usa da fala, quer comunicar alguma coisa, e da m aneira mais clara e prtica possvel. Esse princpio ainda mais fundamental na transmisso oral: a relao entre o emissor e receptor da mensagem momentnea , fugaz; ento a maior brevidade e clareza so indispensveis. evidente que o cdigo dos dois (emissor/ receptor) deve ser o mesmo, e bem conhecido. Vemos, en to, que clareza (significado) e praticidade (lei do menor esforo) se vigiam mu tuamente. As transformaes e simplificaes s se admitem quando no descaracte rizam as formas e a mensagem. Teremos ocasio de repetir isso inmeras vezes no curso da apresentao das flexes. Mas esses comentrios, repetidos, exageradame nte, propositadamente repetidos, esto dispersos. Vamos agora agrup-los num esp ao apropriado, para que o leitor tenha sempre onde buscar uma explicao, uma r eferncia. Finalmente, ns no nos incomodamos em usar uma terminologia tcnica ortodoxa. No tivemos a inteno de fazer tratado de fontica ou fonologia. Resp eitamos a nomenclatura tradicional na medida em que ela significante, mas usam os do vocabulrio do cotidiano para mostrar que essas modificaes fonticas so absolutamente normais, fisiolgicas, concretas. Elas acontecem no aparelho fona dor, isto , na boca, laringe, fossas nasais, pulmes etc. A experincia na sala de aula nos mostrou que os alunos no s aceitam essas explicaes, mas no que rem outras. Por isso vamos, neste captulo, apresentar foneticamente a lngua gr ega. Vamos, a seguir, estudar todos os elementos (stoixa) do alfabeto grego, pr imeiro individualmente quanto pronncia e depois nas suas combinaes entre si , nos seus diversos encontros: vogal com vogal; consoante com vogal; soante com vogal, soante com soante, consoante com consoante. Esses encontros s vezes apre sentam certas dificuldades que as gramticas tentam resolver enquandrando-as nas leis fonticas que apresentam, mas no comentam. Faremos algo parecido, mas insis tiremos, como estamos fazendo em todo este trabalho, em no abusar do vocabulri o tcnico , preferindo o uso de expresses do cotidiano, e procuraremos mostrar sem pre que mur02.p65 46 22/01/01, 11:36
as vogais alguns dados de fontica aplicada 47 esses fenmenos so naturais; acontecem e so produzidos na boca, que chamamos a parelho fonador, acima mencionado. preciso ter em conta que a lngua grega foi transmitida por via oral. No havia outro registro. A escrita entrou tardiament e, quando j havia uma larga tradio cultural e literria. Ento, essas modific aes fonticas que constatamos foram aceitas e transmitidas porque ou quando no ca usavam dano mensagem, isto , ao contedo da mensagem, e sobretudo no causava m dano integridade da lngua grega, que era o fator de unificao daquele povo . As vogais As vogais so modificaes do som glotal, que produzido pelas cordas vocais su periores ou inferiores, com o sopro mais ou menos forte que vem dos pulmes. Ess as cordas vocais, obedecendo vontade, ora se aproximam, ora se afastam; se se aproximam, comprimem o ar e produzem um som que se pode chamar de som glotal; se se afastam, o ar sai livre sem ser modificado e no produz som. A esse som glot al, produzido pelas cordas vocais, chamamos vogais. Como diz Aristteles (Potic a, 1456b): sti t fvnen mn neu prosbolw xon fvnn koust n... a vogal o que t em um som audvel sem aplicao (sem articulao, isto , sem aplicao da lngua ou dos lbios). Conforme a abertura ou o fechamento do aparelho fonador (boca ), no sentido vertical ou horizontal, produzido esse ou aquele timbre da vogal . Os timbres extremos das vogais gregas so: a, da abertura mxima e u, i, mnim a, prxima glote. O -i- a vogal mais fraca; a ltima das vogais. Da posi o mxima do a, posio anterior, da frente, at a mnima, posterior de u, i, h uma progresso de fechamento das vogais: as variantes do som o velares, redondas , e as variantes do som e glotais laterais (palatais). Alm de diferena de timb re, o grego reconhecia uma diferena de durao nas vogais: uma vogal longa tinh a a durao de duas breves. mur02.p65 47 22/01/01, 11:36
48 as vogais Essa durao de tempo era tambm sentida como um desdobramento do tom: uma eleva o da voz na primeira metade da vogal (rsis) e uma posio (thsis). Ns, que falamos as lnguas ocidentais, no temos mais ouvido para sentir essas mudanas de tonalidade, e por isso mesmo somos incapazes de produzi-las. Os timbres e e o tm grafias diferentes para longa e breve: e/h; o/v; os outros a, u, i, no; os gramticos as chamam de dxrona, de dois tempos , ou mfbola, ambguas , e para serem reconhecidas graficamente eram marcadas pelos sinais: m kron longo -, e br xia, brev e , curto. Os fonemas voclicos em grego so 12: a /a, e / e/ h, o /o /v, i / i , u /u.22 Alm disso eles podem ser aspirados 23 ou no. A marcao da aspirao das vogais iniciais das palavras teve altos e baixos. Com a adoo do alfabeto jnico pelo tico empregava-se a letra H para indicar o pnema das, spiritus as per, esprito rude, sopro forte , para marcar a aspirao. Posteriormente os gramt icos alexandrinos passaram a usar a metade esquerda do H, que foi se simplifican do at ser representado por um sinal que se assemelha ao nosso apstrofo, que us amos para marcar eliso, mas em sentido esquerda/direita. E por uma espcie de is onomia passaram a marcar tambm, com a outra metade do H, a ausncia de aspirao , ou pnema ciln, spiritus lenis, esprito leve, suave, doce. A representao g rfica das vogais foi tirada do alfabeto fencio, do nome de alguns sons de cons oante, ausentes no grego: aleph > A, het > H, yod > I, ayin > O, waw > Y. No in cio, havia s uma letra para o som e. Foi em Mileto que comeou o uso do H para o e longo, aberto, e depois, por analogia, criou-se V para o longo, aberto. 22 Devemos considerar os timbres do a longo e breve; do e breve e longo ei; do o breve e lo ngo ou; do i breve e longo e do u breve e longo com diferenas de timbre imperce ptveis para ns. 23 O termo aspirado se presta a confuso, porque o ato de aspi rar chupar o ar. O termo gramatical vem do latim ad spiratum, isto soprado p ara (em cima) de spiritus, sopro. Ento teremos vogais e consoantes aspiradas, i sto , sopradas, acompanhadas de uma lufada de ar. Todas as vogais podem ser sop radas e as consoantes oclusivas surdas (mudas), p, k, t. mur02.p65 48 22/01/01, 11:36
as vogais 49 Os ditongos Segundo A.C. Juret, o ditongo um timbre em movimento . uma espcie de deslocame nto do som voclico de uma posio de abertura, para a de fechamento; o ponto ex tremo do ditongo a posio u/i, que so chamadas semivogais. Por isso se diz q ue o ditongo so dois sons pronunciados em uma s emisso de voz. Na composio do ditongo a vogal prottica e a semivogal hipottica24. So basicamente 12, assim definidos pelos gramticos antigos: 1. difyggoi kat kr sin - ditongos por fu so (uma s emisso de voz); por isso so chamados kriai, principais, e so: au, eu, ou, ai, ei, oi (o u soa u em au, eu, ou). O ditongo ou soa u ; em portugus: au, u, ou (u), ai, ei, oi. 2. difyggoi kat dijodon - ditongos pela sada , porque a vo gal prottica sendo longa, a voz permanece mais tempo sobre ela e s no fim (sa da) que vai para a hipottica, e so: hu, vu, ui (u longo). Para os gramticos , esses ditongos so kakfvnoi, cacfonos, e os primeiros kat kr sin so efvnoi, uf onos. 3. difyggoi kat pikr teian - ditongos por dominao, porque prevalece o som de uma vogal s, a que se ouve . So: hi, vi, ai (a longo). O enfraquecimento do i- desses ditongos j completo desde o IV sc. a.C. e passou a ser subscrito a partir do sc. XII: o -hi- se tornou e aberto25; o vi se tornou aberto (desde 150 a.C.); o ai se tornou a longo (desde 100 a.C.). 24 O verdadeiro ditongo comea com vogal e termina na semivogal (i/u); o que alguns chamam de "ditongo decrescente"; o chamado "ditongo crescente", isto , semivog al seguida de vogal um hiato, e no ditongo. 25 No dialeto tico j se pronunc iava e se escrevia -ei no sc. V. A maioria dos escritores dessa poca escreve ass im. mur02.p65 49 22/01/01, 11:36
50 as vogais As edies recentes dos textos gregos restabeleceram a grafia antiga, com o -iadscrito e no subscrito, e nas salas de aula voltou a pronncia cacofnica. Alternncia voclica Chama-se alternncia voclica (metafonia/apofonia) a alterao do timbre voclic o que se verifica no corpo de uma palavra, em suas diversas partes (raiz/tema, s ufixos, desinncias), ligada aos diversos aspectos do significado que ela assume . Essas alteraes nunca acontecem juntas, isto , presas a um paradigma. Elas s o sempre isoladas e na maior parte das vezes acontecem na raiz ou no tema (radi cal). Essa alternncia no exclusiva da lngua grega. Muitas lnguas antigas e mesmo as modernas as tm. Assim, em portugus, o verbo fazer sofre alternncia voclica em fao, fazemos, fiz, fez, feito. A alternncia pode ser qualitativa ( variao do timbre), como fiz/ fez/fao; e quantitativa (variao da durao - l ongas/breves), como em fez/feito, em portugus. 1. Alternncia qualitativa: Em grego temos trs graus de alternncia voclica, na alternncia qualitativa; o que se chama de vocalismo; vocalismo o (grau fraco); vocalismo e (grau forte) , e vocalismo zero (reduzido), corresponde ausncia de vogal. Assim os diverso s -gn-/gen-/gong-gn-o-mai -gen--mhn g-gon-a leip-/lip-/loiplep-v -lip-o-n l-loip-a temas dos verbos: tornar-se, vir a ser eu me torno, venho a ser eu me tornei, aconteci eu me tornei, nasci, sou deixar, abandonar eu deixo, abandono e u deixei, deixo eu deixei (presente, infectum) (aoristo) (perfeito) (presente, infectum) (aoristo) (perfei to) mur02.p65 50 22/01/01, 11:36
as vogais 51 Alternncia tambm na flexo dos nomes: T. - p tr- / p terto patr-w - do pai (gen. ) tn patr-a - o pai (acus.) T. - genest gnow - a raa (nom. voc. acus.) to gnes-ow > gneow > gnouw - da raa (gen.) T. - nyrvpo nyrvpo-w - o homem (nom.) nyrvpe - homem (voc.) 2. Alternncia quantitativa: a alternncia de durao (quantidade da vogal: longa/breve): fhm/ famn digo / dizemos t-yh-mi / t-ye-men coloco / colocamos d-dv-mi / d-do-men dou / dam os 3. Observao: Na flexo nominal dos nomes e adjetivos de tema em soante / lqida, h uma fals a alternncia voclica; nos temas masculinos e femininos em vogal breve, essa vo gal se alonga no nominativo singular e permanece breve nos outros casos. um fa to normal, porque no nominativo masculino e feminino o alongamento se faz compen sando a apcope do sigma, marca do nominativo dos seres animados, sobretudo dos masculinos. No se trata pois de alternncia voclica. T. =tor T. damon T. poi mn N. = tvr N. damvn N. poim n o orador; o nume; o pastor; Mas, quando o tema longo, no h alternncia voclica; T. mur02.p65 51 22/01/01, 11:36
gn N.
gn a luta.
52 as vogais
Vogal de ligao ou de apoio um recurso de que lanam mo todas as lnguas, e no s a grega, para desfazer encontros consonnticos difceis e que no devem se confundir, fundir ou assimi lar, para no descaracterizar a palavra. A vogal de ligao isola as duas consoa ntes e facilita a pronncia. O -a- epenttico que as raizes e temas trilteres d esenvolvem antes da lqida (visto acima) um exemplo disso. T. stl -st l-h-n eu fui enviado T. fyr -fy r-h-n eu fui destrudo T. nr nr-sin > n-d-r-sin > ndr -sin aos homens26 As vogais de ligao bsicas do grego so: e /o e s vezes -h- (no lati m so i/u e e antes do -r). importante lembrar que as vogais de ligao ou de apoio no fazem parte do corpo da palavra, como as vogais temticas. Elas so me ros recursos fnicos de que a lngua oral faz uso sempre e na medida em que prec isa delas. Elas tambm no so elementos da flexo; no so desinncias nem sufi xos que, no sistema verbal, indicam a relao da pessoa gramatical com o verbo, ao indicarem o singular/plural, a voz (ativa/mdia/passiva) e o modo. Por exempl o, nos verbos de tema em consoante ou semivogal (chamados verbos em -v), a vogal de ligao se faz presente em todo o infectum-inacabado porque as desinncias s o consonnticas ou em soante (semivogal)27; e, por analogia, tambm no futuro a tivo e mdio por causa da introduo da marca do futuro -s-. fr-o-men ns porta mos -fr-e-te vs portveis fr-o-i-e-n eles portassem, portariam ls-o-men ns desligaremos ls-e-sye vs desligareis para vs 26 Nesse caso, o que vemos uma consoante de ligao. O -d- se desenvolve naturalmente e ntre o ponto de articulao do -n- e do -r-. O castelhano e o francs tambm des envolvem um d epenttico na flexo verbal: je viendrais < venirais; yo viendria < veniria. 27 As semivoclicas so sentidas como consonnticas. mur02.p65 52 22/01/01, 11:36
as vogais 53 Mas no aoristo ativo e mdio, a vocalizao da desinncia -n, (-s-n > sa), no pe rfeito ativo (-k-n > ka), dispensa a vogal de ligao. -lus-n > -lu-sa eu desl iguei, eu desligo -l-sa-men ns desligamos -lu-s -meya ns desligamos para ns l-lu-kn > l-luka eu completei o ato de desligar, eu desliguei le-l-ka-men ns completamos o ato de desligar, desligamos Na caracterstica do aoristo passivo (-h-/yh-), a presena da vogal tambm dispensa a vogal de ligao: -d-yh-sye v s fostes dados, sois dados -st l-h-men ns fomos enviados, somos enviados Mas, n as formas do perfeito contro entre as consoantes: p-prag-tai > p-prak-tai t-t rib-sai > t-tricai pe-pey-meya > pe-pes-meya mdio-passivas, a lngua prefere o enele foi feito, est feito tu foste esmagado, ests esmagado ns fomos conve ncidos, estamos convencidos Mas, na 3a pessoa do plural: p-prag-ntai > pepr g-a-tai, eles foram, esto feitos ; o -n- interconsonntico se vocaliza em -a-. Essa a opo que encontramos nos lricos e em Herdoto; o dialeto tico construiu uma forma analtica, em lugar de vocalizar o -ninterconsonntico: pe-prag-mnoi, ai, a esin eles foram, esto feitos Veremos isso com mais detalhes quando tratarmos da flexo verbal. mur02.p65 53 22/01/01, 11:36
54 as vogais
Encontro de vogais O encontro de vogais chamado hiato, isto , vcuo, vazio; para todos os gramt icos o hiato uma cacofonia e a tendncia geral elimin-lo. Essa a tendnci a no dialeto tico; nos dialetos jnico, drico e elico o hiato permanece. 28 N o grego tico h trs maneiras de eliminar um hiato: a) pela eliso da vogal ant erior; um sinal apstrofo, no lugar da vogal elidida, registra o fato; b) pela c rase (fuso) de duas vogais entre duas palavras diferentes (entre a ltima da an terior e a primeira da seguinte; indicada por um sinal igual ao apstrofo, col ocado sobre a vogal resultante da fuso, chamado de coronis/cornide. c) pela co ntrao, que a reduo do hiato que se encontra no meio da palavra. Na seqnc ia de duas palavras: a anterior terminando em vogal e a seguinte comeando por v ogal, pode-se dar uma eliso, que a apcope (corte) da vogal final da palavra anterior. Nesse caso essa apcope marcada pelo apstrofo. 1. Em geral a vogal elidida uma breve; raramente um ditongo, e o -u- jamais se elide. ll g > ll g mas eu p mo > p mo de mim, a partir de mim 2. Pode acontecer uma eliso invert ida: em lugar de elidir a vogal final da palavra anterior elide-se a vogal inici al da seguinte. Esse processo se chama afrese ( faresiw), isto , retirada. ra ra e em geral s se usa na poesia e nos dilogos. naj > naj senhor, chefe gay > gay meu caro (bom) gor n Ay naiw > gor n Ay naiw mercado em Atenas Eliso: (kyliciw) 28 A conservao ou no do hiato uma questo de idiotismos . Podemos estabelecer um pa ralelo: o dialeto tico tende a reduzir os hiatos, como o portugus; o dialeto j nico no se incomoda tanto com os hiatos, como o castelhano. mur02.p65 54 22/01/01, 11:36
as vogais 55 3. Pode acontecer que haja mais de uma eliso. Tambm um caso raro: s na poes ia ( por necessidades mtricas) e nos dilogos rpidos, sobretudo em Aristfanes . po sti Plotow > po sy Plotow; onde est Plutos? ou sobre os escudos p spdvn > p spdvn 4. Pode acontecer, raramente tambm, a eliso de um ditongo (tambm nos mesmos casos dos anteriores; poesia e dilogos). bolomai g > bol om g sou eu que quero 5. Quando a palavra seguinte comea por vogal aspirada e a consoante anterior da vogal elidida for uma oclusiva, essa oclusiva, em contat o com a vogal aspirada, se torna aspirada: p mn > p mn > f mn de ns, a partir de ns met mn > met mn > mey mn conosco nkta lhn > nkt lhn > nky lhn a n oite inteira 6. A conjuno ti e as preposies per e pr nunca sofre