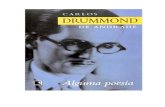A Arte de Andar Pela Cideade Paola Berensteins Washington Drummond
-
Upload
washington-drummond -
Category
Documents
-
view
23 -
download
1
Transcript of A Arte de Andar Pela Cideade Paola Berensteins Washington Drummond

[email protected] [email protected] 1
PEQUENO HISTÓRICO DAS ERRÂNCIAS URBANAS: A ARTE DE ANDAR PELA CIDADE Paola Berenstein Jacques Washington Luis Drummond Universidade Federal da Bahia Em paralelo à história do urbanismo podemos traçar um pequeno histórico das errâncias urbanas propostas por artistas, que muitas vezes criticavam direta ou indiretamente os métodos de intervenção dos urbanistas. O estudo histórico dessas errâncias pode levar ao desenvolvimento teórico reflexivo sobre outra forma de apreensão das cidades, o que pode ser chamado de experiência estética do espaço urbano. Através das obras ou escritos de alguns artistas podemos apreender de outra forma o espaço urbano, partindo do princípio de que certos artistas questionam esses espaços de forma crítica. Trabalharemos sobre as experiências artísticas no espaço urbano que promoveram a experiência estética através das errâncias urbanas. Esse pequeno histórico de artistas e teóricos começaria com Baudelaire, da idéia de Flâneur, passaria pelos dadaístas, com as excursões urbanas por lugares banais, as deambulações aleatórias organizadas por Aragon, Breton, Picabia e Tzara, entre outros, e continuaria com os surrealistas liderados por Breton, que desenvolvem a idéia de Hasard Objectif , ou seja, da experiência física da errância no espaço real urbano que vão ser a base dos manifestos surrealistas e do próprio Paysan de Paris de Aragon. Walter Benjamin retomou o conceito de Flâneur de Baudelaire e Aragon, e começou a falar em “flânerie”, ou seja, das flanâncias urbanas, a investigação do espaço urbano pelo Flâneur. Os situacionistas desenvolveram a noção de deriva urbana, da errância voluntária pelas ruas, principalmente nos textos e ações de Debord, Vaneiguem, Jorn e Constant. O grupo neo-dadaísta Fluxus, por exemplo, também propôs experiências semelhantes, foi a época dos “happenings” no espaço público. No Brasil, tanto os modernistas quanto os tropicalistas também tiveram idéias semelhantes, como a experiência nº 3 de Flávio de Carvalho ou ainda o “Delírio Ambulatorium” de Hélio Oiticica. Dentro do contexto da Arte Contemporânea, vários artistas trabalham hoje no espaço público de forma crítica. A análise dessas obras pode revelar novas formas de apreensão do espaço urbano, uma vez que esses artistas vêem a cidade como um campo de investigações e acabam por indicar outras formas de se apreender esses espaços, através de experiências estéticas.

[email protected] [email protected] 1
PEQUENO HISTÓRICO DAS ERRÂNCIAS URBANAS: A ARTE DE ANDAR PELA CIDADE Paola Berenstein Jacques Washington Luis Drummond Universidade Federal da Bahia INTRODUÇÃO Assim como de forma simultânea à história das cidades podemos falar de uma história do nomadismo, ou melhor, de uma nomadologia1, também podemos traçar, de forma quase simultânea à própria história do urbanismo, um pequeno histórico das errâncias urbanas. Esse histórico seria construído por seus atores, errantes modernos ou nômades urbanos, filhos de Abel e Caim ao mesmo tempo. Os errantes modernos não perambulam mais pelos campos como os nômades mas pela própria cidade grande, a metrópole moderna, e recusam o controle total dos planos modernos. Eles denunciavam direta ou indiretamente os métodos de intervenção dos urbanistas, e defendiam que as ações na cidade não poderiam se tornar um monopólio de especialistas. Dentre os errantes e nômades urbanos encontramos vários artistas, escritores ou pensadores que praticaram errâncias urbanas. Acreditamos que um estudo histórico dessas errâncias poderia levar ao desenvolvimento teórico reflexivo sobre uma outra forma de apreensão das cidades, o que poderíamos chamar de experiência estética do espaço urbano. Através das obras ou escritos desses artistas podemos apreender o espaço urbano de outra forma, partindo do princípio de que os errantes questionam a construção dos espaços de forma crítica. Trabalharemos sobre as experiências artísticas no espaço urbano que promoveram a experiência estética e crítica através das errâncias urbanas. O simples ato de andar pela cidade pode assim se tornar uma crítica, direta ou indireta, ao urbanismo enquanto disciplina prática de intervenção nas cidades. Esta crítica pode ser vista tantos nos textos quanto nas fotografias ou mapas produzidos por artistas errantes a partir de suas experiências relativas ao andar pela cidade. Ao ler Baudelaire podemos ver uma reação crítica à reforma urbana do Barão Haussmann, que estava transformando completamente a velha cidade de Paris naquele exato momento. As obras de Haussmann vão de 1853 a 1870, enquanto o livro Le Spleen de Paris de Baudelaire, por exemplo, é de 1855. Para fotografar essas transformações urbanas radicais, da cidade antiga sendo destruída para dar lugar a nova, Haussmann contratou um fotógrafo, Charles Marville, que retratou o desaparecimento de uma certa Paris por onde perambulava Baudelaire. No Rio de Janeiro se passou algo bem parecido, já no início do século XX. João do Rio, cronista e errante urbano, descreve nos jornais suas errâncias pela antiga cidade que também estava sendo destruída pelo nosso Haussmann tropical2, Pereira Passos, que como Haussmann também contratou um fotógrafo oficial para retratar a transformação em curso na cidade, Marc Ferrez. Pereira Passos realizou um “bota-abaixo” no centro do Rio de Janeiro entre 1902 e 1904. Um texto muito conhecido de João do Rio, por exemplo, chamado A Rua, foi publicado na mesma época na Gazeta de Notícias, mais precisamente em 1905. Esse texto de João do Rio (1881-1921, pseudônimo de Paulo Barreto) começa por: “Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós.” E continua por: “(…) A rua era para eles apenas um alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações… Ora, a rua é muito mais do que isso a rua é um fator de vida das cidades, a rua tem alma! (…) A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada

2
aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça (…) Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhes as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessante dos esportes – a arte de flanar.” A título de comparação, entre os principais objetivos do plano de melhoramentos de Pereira Passos, citados por Alfredo Rangel em 1904, era: “Dar mais franqueza ao tráfego crescente das ruas da cidade, iniciar a substituição das nossas mais ignóbeis vielas por ruas largas arborizadas”. O urbanismo enquanto campo disciplinar e prática profissional surge exatamente com o intuito de transformar as antigas cidades em metrópoles modernas, o que significava também transformar as antigas ruas de pedestres em grandes vias de circulação para automóveis. Podemos, a grosso modo, classificar o urbanismo moderno3 em três momentos distintos (mas que se sobrepõem): a modernização das cidades, de meados e final do século XIX até início do século XX; as vanguardas modernas e o movimento moderno (CIAMs) propriamente dito, dos anos 1910-20 até 1959 (fim dos CIAMs); e o que chamamos de modernismo (moderno tardio), do pós-guerra até os anos 1970. O primeiro momento foi marcado pelas grandes reformas urbanas na Europa: o plano de Haussmann para Paris e o projeto de metrô para Londres, ambos de 1854 ou ainda o plano de Cerdà para Barcelona e o Plano de Viena (Ringstrasse) ambos de 1859. O segundo momento pode ser dividido em dois: as vanguardas modernas e os CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna). Nas vanguardas temos vários exemplos de cidades utópicas: a Cidade Nova de Antonio Sant’Elia de 1914; a Cidade Contemporânea para 3 milhões de habitantes de Le Corbusier de 1922; a Cidade Vertical de Ludwig Hilberseimer de 1924; a Cidade Contemporânea de Cornelius Van Eesteren de 1926; ou ainda a Cidade Indústria de Iakov Chernikov de 1927. Os CIAMs começaram em 1928 e acabaram em 19594, o congresso de 1933, dedicado ao tema da cidade funcional, foi a base da famosa Carta de Atenas, que representa até hoje a doutrina urbana moderna por excelência. O terceiro e último momento, que chamamos de forma pejorativa de modernismo, seria o momento (pós-guerra) em que se tentou colocar a Carta de Atenas em prática por técnicos municipais de várias cidades do mundo, que construíram em massa enormes conjuntos habitacionais, com projetos genéricos e reutilizáveis, criando uma uniformização e padronização generalizada dos espaços urbanos. O símbolo internacional do final deste período foi a destruição do conjunto habitacional Pruitt Igoe, que foi dinamitado nos EUA em 19725. Também podemos dividir o pequeno histórico das errâncias urbanas em três momentos, de forma quase simultânea a esses três momentos principais da história do urbanismo moderno, que corresponderiam às diferentes críticas aos três momentos que acabamos de ver: o período das flanâncias, de meados e final do século XIX até início do século XX, que criticava exatamente a primeira modernização das cidades; o das deambulações, dos anos 1910-30, que fez parte das vanguardas modernas mas também criticou algumas de suas idéias urbanísticas (como o Plan Voisin de Le Corbusier para Paris em 1925) do início dos CIAMs; e o das derivas, dos anos 1950-60, que criticou tanto os pressupostos básicos dos CIAMs (principalmente a Carta de Atenas) quanto sua vulgarização no pós-guerra, o modernismo. O primeiro momento, flanâncias, corresponderia principalmente a criação da figura do Flâneur em Baudelaire, no Spleen de Paris ou no Les fleurs du mal, que foi tão bem analisada por Walter Benjamin nos anos 1930. Benjamin também praticou a “flânerie” (principalmente de Paris e de suas passagens cobertas6), ou seja, as flanâncias urbanas, a investigação do espaço urbano pelo Flâneur. O segundo momento, deambulações, corresponderia as ações dos dadaístas e surrealistas, as excursões urbanas por lugares banais, as deambulações aleatórias organizadas por Aragon, Breton, Picabia e Tzara, entre outros, que desenvolvem a idéia de Hasard Objectif, ou seja, da experiência física da errância no espaço real urbano que foi a base dos manifestos surrealistas, do Nadja de Breton ou ainda do próprio Paysan de Paris de Aragon. Já o terceiro e último momento, derivas, corresponderia ao pensamento urbano dos situacionistas, uma crítica radical ao urbanismo, que

3
também desenvolveu a noção de deriva urbana, da errância voluntária pelas ruas, principalmente nos textos e ações de Debord, Vaneiguem, Jorn e Constant. Tanto Baudelaire quanto os dadaístas e surrealistas, ou ainda os situacionistas, estavam praticando errâncias urbanas - e relatando essas experiências através de escritos ou imagens explícita ou implicitamente críticas - em uma mesma cidade, Paris, mas em três momentos distintos, como acabamos de ver. A análise mais detalhadas dessas errâncias, rebatidas nos textos ou imagens produzidas, podem nos revelar outras maneiras de se apreender o espaço urbano, uma vez que estes artistas indicam indiretamente outras formas de se vivenciar esses espaços, através de experiências estéticas resultantes das errâncias, ou seja, da própria arte de se andar pela cidade. FLANÂNCIAS (meados/final do século XIX) O poeta Charles Baudelaire publicou em 1857 o livro As flores do mal, no qual alguns poemas descreviam a cidade de Paris, reconstruindo-a com imagens fortemente decadentistas inspiradas no universo poeano. Baudelaire, que foi o tradutor7 para o francês da obra de Edgar Alan Poe (autor da célebre novela “O Homem da Multidão”8), inspirou-se nos seus protagonistas decrépitos e em sua ambiência obscura, aprofundando-a, dando-lhe contornos inusitados através de novos personagens demonizados, luxuriantes, lúgubres saídos de sua imaginação atormentada. No poema Correspondências, considerado como um programa estético precursor do simbolismo, o poeta se imagina caminhando “através de florestas de símbolos” que o espreitam “com olhares familiares” onde “numa tenebrosa e profunda unidade” promovem a correspondência dos “perfumes, as cores e os sons”. Esse embaralhamento dos sentidos que em De Quincey é provocado pelo ópio, e em Poe, pelo turbilhão urbano, aqui é fruto da ordenação (ou seria de desordenação?) sinestésica dos sentidos, isto é a correspondência e inversão perceptiva, sendo nos versos seguintes demonstrado pelos “perfumes saudáveis como carnes de crianças” ou “doces como oboés” que “ cantam os êxtases do espírito e dos sentidos”. Tema caro aos simbolistas, a sinestesia invocada por Baudelaire não poderia ser estendida, numa analogia, ao caminhar nas “fôrets de simboles” das vias urbanas da “tenebreuse” Paris? Os Quadros parisienses, uma das seções do As flores do mal, aglutina dezesseis poemas que abordam o lado obscuro da capital francesa, desfilando seus mais desgraçados habitantes (a mendiga ruiva, o cisne, os setes velhos, as velhinhas, os cegos, a passante, o esqueleto lavrador além de meretrizes, rufiões moribundos, jogadores, escroques etc) pelas suas ruas. No poema O sol, Baudelaire assume o papel de um solitário que exercita uma fantástica esgrima “tropeçando em palavras como nas calçadas” e aí, chocado, depara-se com “imagens desde há muito sonhadas”. As vias da metrópole moderna baudelaireana são tão assustadoras, supra-reais, que se assemelham imageticamente ao mundo onírico, realizando-o. Os versos iniciais do poema Os setes velhos confirmam essa perspectiva (“cidade a fervilhar, cheia de sonhos”), ao tempo que a aproxima do fantasmagórico (“o espectro, em pleno dia, agarra-se ao passante”). O mesmo para o poema seguinte, As velhinhas, onde o “enrugado perfil das velhas capitais” como Paris, acolhe o horror que “se enfeita de esplendores”. Em A uma passante, a rua torna-se “um frenético alarido” atualizando o coração romântico ao ritmo elétrico moderno, a experiência do amor urbano adquire então velocidade insuspeita, chispa-se. A aparição dramática de uma bela e majestosa mulher embriaga o poeta que “afoito (eu) lhe bebia”, essa “efêmera beldade” cujos olhos lhe fazem “nascer outra vez” antes de ser tragada velozmente pela multidão obrigando-o a lamentar: “Não mais hei de te ver senão na eternidade?”. A fugacidade dos encontros (ou desencontros) na circulação urbana, antes de cerrar o amor num tempo agora impossível, lança-o na imediaticidade do olhar ligeiro dos transeuntes, sintonizando a paixão romântica ao mundo moderno. Baudelaire finaliza o poema constatando que aquela que se esfuma desconhece o destino do poeta, tanto quanto ele ao dela e mais uma vez lamenta “tu que eu teria

4
amado”. Talvez, não quisesse perceber que a instantaneidade não é o algoz da paixão moderna, mas seu campo de possibilidades! Experimentando a prosa poética no livro O Spleen de Paris (também conhecido como Pequenos poemas em prosa) iniciado em 1855, de onde extraímos o Os olhos dos Pobres, Baudelaire coloca a cidade de Paris mais uma vez como seu principal personagem, especificamente as suas avenidas, os “boulevards”. A noite cai e dois enamorados se dirigem a um café “na esquina de um novo bulevar que, ainda cheio de entulho, já ostentava glorioso os seus esplendores inacabados”, daí, eles podem mirar tanto o interior resplandecente do estabelecimento, pois o “gás mostrava ali todo o calor de uma estréia” quanto o seu exterior abominável. A imagem terrível da pobreza se instala na felicidade pequeno-burguesa do casal assim descrita por Baudelaire: “Da calçada, diante de nós, víamos plantado um pobre homem (...) de ar fatigado (...) que segurava por uma das mãos um menino e trazia no outro braço um pequenino ser ainda muito frágil, incapaz de caminhar”, “todos em trapos”. Espantosa “família de olhos” que perplexa pelo brilho do café e dos convivas empaca frente ao casal sabendo que “é uma casa onde só podem entrar as pessoas que não são como nós”. Os olhos do menor dos meninos cintilam “de tão fascinados”, revelando “uma alegria estúpida e profunda”. Enternecido, o namorado procura refúgio nos olhos da amada que peremptória exclama “que gente insuportável aquela, com uns olhos escancarados como portas-cocheiras! Você não poderia pedir ao dono do café que os afastasse daqui?” A dura observação que afasta os amantes desvela parte do processo de intervenção urbana empreendida, do final dos anos de 1850 em diante, pelo Barão Haussmann, prefeito de Paris, que a pedido do Imperador Napoleão III, remodela de forma sistemática seu traçado urbano, através de uma ampla reforma urbana que reestruturou a cidade transformando-a num canteiro de obras. As grandes avenidas abertas com calçadas largas, arborizadas para o deleite burguês, permitem um tráfico mais fluido de pessoas e mercadorias, expulsando as classes humildes e miseráveis do coração da cidade. Acelera também o movimento das tropas de artilharia prevendo o aparecimento de barricadas, marca das insurreições populares parisienses. Charles Marville (1816-1879), o fotógrafo contratado por Haussmann durante o Segundo Império, fotografou sistematicamente toda a Paris, cidade ainda medieval sendo lentamente destruída pela modernização urbanística. Suas fotos, que se tornaram as primeiras que integraram um arquivo governamental, são de uma intensa dramaticidade, pois registraram ruas e casas em pleno desaparecimento, vítimas do ímpeto modernista. A tragicidade dessas fotos, agônicas, reverberaram posteriormente em toda a estética surrealista, seja literária ou visual. Essa eminência do desaparecimento ou mesmo interrogação das formas paradoxais da modernidade estabelecem um fio comum condutor entre esses artistas. O impacto dessas imagens nos invoca uma cidade em pleno movimento, em metabolização, desde o trabalho dos homens demolindo velhos prédios, passando pelos vãos que se abrem através do traçado urbano parisiense, até as ruas paradas e indefesas um segundo antes de desaparecerem. Na trilha das reflexões de Walter Benjamin, a escritora americana Susan Sontag produziu nos anos setenta uma série de textos tendo como tema fotógrafos e fotografias. No livro, traduzido no Brasil como Ensaios sobre a Fotografia, a autora desenvolve seu diálogo benjaminiano, embora sob o artifício de analisar a flanância baudelairiana, afirmando que "a fotografia primeiramente consolida-se como extensão do olho do flâneur". O fotográfo é o herói urbano, aquele que devassa a cidade com um olhar melancólico, e que recusa olhar a cidade de uma maneira estabelecida, oficial, pois, ele também não a enfrenta, desafia, caminhando o mesmo caminho de todos? No traçado urbano ele como andarilho diminui o passo, ou acelera, pára quando todos ainda caminham, procura as margens das vias urbanas, corta avenidas, arrisca a errância, pois sabe que só assim será possível um outro lugar, um outro tempo, uma outra imagem. A única diferença com o flâneur é que ele não se limita a olhar: "o fotógrafo é uma versão armada do caminhante solitário". Assim como o flâneur, o que lhe atrai nas cidades são seus habitantes e lugares esquecidos, o que escapa a inexorabilidade do

5
moderno, do burguês e que através de sua máquina fotográfica "apreende tal como o detetive captura o criminoso".9 Baudelaire, que teria participado de barricadas na revolução de 1848, denuncia essa nova astúcia de constituição do espaço urbano, tomando partido dos novos miseráveis desalojados e segregados. No Perda de auréola, do mesmo Spleen de Paris, a celeridade dos bulevares assume feições tragicômicas quando dois amigos se encontram e um deles pergunta “ você por aqui meu caro?”, o outro desinibido responde - alertando o transeunte do seu “pavor pelos cavalos e pelos carros” – dizendo que enquanto “ atravessava a avenida, com grande pressa, e saltitava na lama por entre este caos movediço em que a morte chega a galope por todos os lados ao mesmo tempo, minha auréola (...) escorregou (...) para a lama da calçada”. O pedestre assustado pelo ritmo frenético das ruas, entretanto não se lamenta pela perda, julgando ser “menos desagradável perder” suas insígnias do que permitir que lhe “rompessem os ossos”. Talvez, para a maioria dos neófitos dos bulevares fosse melhor não lamentar as perdas sociais mas, se possível, saírem vivos dessa empreitada modernizadora. DEAMBULAÇÕES (anos 1910-30) O Surrealismo, segundo Benjamin, é o último instantâneo da inteligência européia, surgido na França em 1919, tendo uma tríade de artistas como o seu núcleo fundamental, os escritores André Breton, Philippe Soupault e Louis Aragon. Charles Baudelaire, Lautréamont, Apolinaire encontram-se também em miligramas luminosas espalhadas por toda a produção surrealista. Apesar de toda a já excessiva exegese da arte surrealista, alguns textos nos legaram uma compreensão diferenciada do movimento seguindo os passos da análise benjaminiana. O camponês de Paris de Aragon é o primeiro dos livros surrealistas que tem como centro de sua trama a cidade de Paris, ao qual se juntaria Nadja de Breton , em que a cidade moderna surge, segundo Benjamin, como palco da iluminação profana “de inspiração materialista e antropológica”. Percorrendo a Passagem da Ópera parisiense, Aragon, reduz a cidade inteira ao seu interior, dando visibilidade às contradições modernas, ao deslumbramento fetichizado da mercadoria, o poder capitalista de distribuí-la para consumo global. As lojas da galeria acumulam objetos de todas as partes do mundo, essas mercadorias tornam-se assombradas pelo seu desraizamento espaço-temporal montando um mosaico surreal do mundo. Aragon se surpreende ao deparar com uma vitrine em toda sua riqueza sugestiva, onírica. Uma sereia anã o surpreende arremessando-o para dentro de visões iluminadoras, na verdade é todo o espaço das galerias que está deslocado. Próximos estão os jogadores, os rufiões e as prostitutas que formam a fauna e flora das galerias e que como ela estão ameaçados pelo tempo moderno. Breton em Nadja percorre as ruas de Paris numa errática perseguição a uma mulher tão misteriosa quanto a cidade, que achada não se deixa revelar. No caminho são muitos os sinais dessa “floresta de símbolos”, dos cartazes publicitários aos objetos dos bric-á-brac, dos transeuntes aos boulevares e parques assombrados, do cinema de massa ao teatro popularesco. O cotidiano urbano é abraçado em sua imediatez, propiciando aos surrealistas iluminações profanas através do estranhamento do que lhes está próximo, em que objetos, espaços se reorganizam em combinações inesperadas. A escolha dos surrealistas, entretanto, não é aleatória, para Benjamin, eles foram os primeiros a pressentir “as energias revolucionárias que transparecem no antiquado”. O movimento francês dobra a etnografia sobre si, o estranho não mais está a alhures, mas próximo... bem próximo, em plena cidade moderna que pelo seu ritmo incessante tanto produtivo quanto destrutivo aproxima instantaneamente o novo e o antigo, caracterizando essa nova experiência moderna urbana de se viver em ruínas. São produções escritas dessas deambulações urbanas: as Iluminuras de Rimbaud, o Spleen de Paris de Baudelaire, O Camponês de Paris com Louis Aragon, Nadja de André Breton, Rua de Mão Única de Walter Benjamin. Esses autores transformaram o prazer das errâncias urbanas em relatos literários poéticos. Entretanto, deve-se somar a essas produções literárias as produções imagéticas

6
das deambulações de fotógrafos como Eugene Atget e Brassai, e anteriormente, como já vimos, Marville. Fotógrafos que miraram suas objetivas para o espetáculo citadino criando um discurso poético assombrado da vida urbana. O arquétipo do flâneur habita todos eles, flâneur que plasma o olhar e inventa uma cidade outra, flâneurs armados com uma máquina fotográfica que recorta a cidade real. A fragmenta e posteriormente a recompõe numa montagem, quase um exercício de bricolagem. Essas experiências de investigação do espaço urbano e seus registros imagéticos ou literários apontam para uma era em que um urbanismo poético se insinua possibilitando uma reinvenção poética, sensorial da cidade. Em a Pequena História da Fotografia, escrita em 1931, Benjamin, discorre sobre Atget e sua obra, colocando-o como um verdadeiro mestre, vivendo "em Paris, pobre e desconhecido, desfazendo-se de suas fotografias doando-as a amadores tão excêntricos como ele". Sua obra imagética investiria contra a fotografia convencional, retratista, regiamente remunerada e que impossibilitava o olhar surreal, politicamente engajado em libertar na intimidade do lugar as forças do estranho. Ora, os novos temas buscados pelo velho fotógrafo eram "as coisas perdidas e transviadas" que transformariam suas imagens parisienses em "precursoras da fotografia surrealista". Tais imagens "sugam a aura da realidade" isto é, "a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja". Através da fotografia o olhar surreal deveria curtocircuitar o meio reprodutível e a perda da aura, esse o projeto que Benjamin vê em Atget. Seguindo o pensador alemão, o fotógrafo evita os pontos turísticos da cidade de Paris e já consagrados pelo olhar convencional, venal. Entretanto, não negligencia "uma grande fila de fôrmas de sapateiro, nem os pátios de Paris" onde aparecem carrinhos enfileirados, ou mesmo "mesas com os pratos sujos ainda não retirados" nem "o bordel da rua...n 5". Todos esses lugares estão como que abandonados, a cidade está abandonada, pois as imagens das escadas, dos pátios, dos terraços do café, das praças e pontes, estão magnificamente vazias, pois "nessas imagens, a cidade foi esvaziada, como uma casa que ainda não encontrou moradores". Esse estranhamento no que é banal, cotidiano, daria o tom da sensibilidade estética revolucionária dos anos 1920 em relação à cidade moderna visto que são nessas fotos de Atget que "a fotografia surrealista prepara uma saudável alienação do homem com relação a seu mundo ambiente". Ao terminar seu texto Benjamin nos lega um curioso comentário ainda sobre Atget: “Não é por acaso que as fotos de Atget foram comparadas ao local de um crime. Mas existe em nossas cidades um só recanto que não seja o local de um crime? Não é cada passante um criminoso?” Caberia aos fotógrafos ligados a essa tradição inventariar essa modalidade criminosa e aos ensaístas arriscarem a sua taxionomia. Eugene Atget (1857-1927), órfão ainda na infância, ingressou na Marinha, vivendo profissionalmente como marinheiro até completar 32 anos. Iniciou a partir daí uma outra profissão tornando-se ator e durante longo período atuou em Paris e nas províncias do interior da França. Finalmente, fotógrafo aos quarenta e dois anos dedicou-se incansavelmente a fotografar a cidade de Paris, diariamente percorrendo suas ruas e indo até a suburbia, produzindo em torno de dez mil negativos melancólicos e poéticos voltados para uma cidade bucólica desaparecida. O próprio Atget era uma figura pitoresca e algo deslocada, se alimentando apenas de pão, leite e açúcar, a perambular metodicamente por ruas desertas, esquecidas, bairros distantes, antigos prédios, adentrando-os para devassar sua intimidade e fotografar mobiliários mais antigos ainda. Também não lhe escaparam ambulantes de todos os tipos que como ele percorriam durante todo o dia, e desde muito cedo, as ruas da cidade. Algumas imagens, desse precursor da fotografia surrealista, associam tanto a arquitetura depauperada da “vieux paris” quanto a dos seus habitantes: velhas prostitutas que insinuam uma beleza e desejo que só permanecem num tempo superposto, paradoxal, como a própria cidade moderna. Na história da fotografia de cidade persiste um olhar pelo maravilhoso espetáculo do fragmentário, fugidio, enigmático, quase um ritornelo10 (como as imagens de vitrines espelhando a paisagem urbana), como o mito do duplo, da superposição assustadora de superfícies perseguidas por fotógrafos como Atget, que tanto encantou o grupo surrealista francês nos anos 1920. Os fotógrafos

7
criaram poderosas imagens da cidade, alguns deles inclusive tornaram-nas mais reais que a cidade "real" invadindo seu imaginário, inventando-o. Nos interessam aqueles que deambulam pelas ruas, que cartografam uma outra cidade porque como visionários enxergam cidades ocultas, superpostas, fugidias, que pelo olhar realizam uma cidade "outra" só acessível em suas imagens, eles como heróis perseguem suas visões urbanas, como deuses que nunca se deixam desvelar, mas eles as perseguem e acreditam que talvez as retenham no último clic. Outro fotógrafo que se aproximaria do movimento surrealista é Brassai. Brassai (Gyula Halász), nasceu na Hungria, chegando como imigrante na França em 1924, onde trabalhou como jornalista. O fotógrafo André Kertész emprestou-lhe uma máquina fotográfica portátil que ele utilizou para retratar a noite de Paris. É o fotógrafo tipicamente surrealista, criando através de caminhadas noturnas uma cidade iluminada e encantada com suas prostitutas, pequenos delinqüentes, policiais, boêmios e uma arquitetura monumental. Suas imagens evocam o onirismo do movimento alegorizando a paisagem em preto e branco no livro Paris de Nuit (1933), seu primeiro livro de fotografia, produzido entre os anos de 1932 e 1933, considerado por ele como os mais importantes de sua vida, quando conheceu Picasso e colaborou na revista Minotauro juntamente com os surrealistas. Brassai declarou que sua “ambition fut toujours de faire voir um aspect de la vie quotidienne comme si nous la decouvrions pour la premiere fois”, dessa maneira surge a cidade de Paris das calçadas transformadas em quadriláteros luminosos, as estátuas e árvores fantasmagóricas incendiadas por clareiras místicas ou o skyline da cidade entre sombras etéreas e namorados no lusco-fusco da praça deserta. Todos os personagens humanos ou arquitetônicos estão banhados por uma luz espectral que escapa do negro da noite parisiense num jogo de re-conhecimento, re-estranhamento com o espaço urbano, como se o experimentássemos pela primeira vez. Etnografia voraz, noturna, noctívaga: floristas, prostitutas, guardas, assaltantes, pedintes...a fauna urbana. A arquitetura já monumental da cidade incorpora contornos trágicos, míticos: o Arco do Triunfo, Notre- Dame, Pont-Neuf, a Passage du Palais-Royal. Árvores retorcidas, luzes inesperadas, colunas de luz, sombras magistrais, um profundo silêncio. Estaria a cidade abandonada ao olhar do fotógrafo que tudo vê com olhos nômades, errantes e selvagens? DERIVAS (anos 1950-60) Apesar do flâneur ser para os situacionistas11 o protótipo de um burguês entediado e sem propostas, e da tentativa destes de se demarcar do que eles chamavam de “promenades imbeciles ” dos dadaístas e surrealistas, os situacionistas também contribuíram para desenvolver essa mesma idéia ao propor a noção de deriva urbana, a errância voluntária pelas ruas. Sem dúvida houve uma grande influência dadaísta, como por exemplo da famosa excursão dadá - sempre propostas em lugares escolhidos precisamente por sua banalidade e falta de interesse - à igreja Saint-Julien-le-Pauvre em Paris, que ficou conhecida como 1ère Visite e ocorreu na quinta-feira 14 de Abril de 1921 às 15 horas quando Breton leu um manifesto para “ épater le bourgeois ”. A grande diferença entre os dadaístas dos anos 1910-20 e os situacionistas dos anos 1950-60 é que estes últimos estavam bem mais interessados em despertar paixões e ações participativas, que levariam a uma revolução da vida cotidiana, do que simplesmente inspirar suas próprias obras artísticas ou literárias. No lugar de chocar a burguesia, os situacionistas pretendiam provocar uma revolução cultural através da idéia de construção de situações:
A construção de situações começa após o desmoronamento moderno da noção de espetáculo. É fácil ver a que ponto está ligado à alienação do velho mundo o princípio característico do espetáculo: a não-participação. Ao contrário, percebe-se como as melhores pesquisas revolucionárias na cultura tentaram romper a identificação psicológica do espectador com o herói, a fim de estimular esse espectador a agir, instigando suas capacidades para mudar a própria vida. A situação é feita de modo a ser vivida por seus construtores. O papel do “público”, se não passivo pelo menos de mero figurante, deve ir

8
diminuindo, enquanto aumenta o número dos que já não serão chamados atores mas, num sentido novo do termo, vivenciadores.12
O pensamento urbano situacionista também estava baseado na idéia de construção de situações. Era situacionista aquele “que se refere à teoria ou à atividade prática de uma construção de situações. Indivíduo que se dedica a construir situações”.13 Uma situação construída seria então um “momento da vida, concreta e deliberadamente construído pela organização coletiva de uma ambiência unitária e de um jogo de acontecimentos”.
Nossa idéia central é a construção de situações, isto é, a construção concreta de ambiências momentâneas da vida, e sua transformação em uma qualidade passional superior. Devemos elaborar uma intervenção ordenada sobre os fatores complexos dos dois grandes componentes que interagem continuamente: o cenário material da vida; e os comportamentos que ele provoca e que o alteram.14
A tese central situacionista era a de que por meio da construção de situações se chegaria à transformação revolucionária da vida cotidiana. E para tentar chegar a essa construção total de um ambiente, os situacionistas criaram um procedimento ou método, a psicogeografia, e uma prática ou técnica, a deriva, que estavam diretamente relacionados. A psicogeografia foi definida como um “estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”. E a deriva era vista como um “modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experiência”. Ficava claro que a deriva era o exercício prático da psicogeografia e, além de ser também uma nova forma de apreensão do espaço urbano, ela seguia a tradição artística das errâncias urbanas: flanâncias e deambulações. Mas a deriva situacionista não pretendia ser vista como uma atividade propriamente artística, mas sim como uma técnica de apreensão urbana para tentar desenvolver na prática a idéia de construção de situações através da psicogeografia. A deriva seria uma apropriação do espaço urbano pelo pedestre através da ação do andar sem rumo. A psicogeografia estudava o ambiente urbano, sobretudo os espaços públicos, através das derivas, e tentava mapear os diversos comportamentos afetivos diante dessa ação, basicamente do caminhar na cidade. Aquele “que pesquisa e transmite as realidades psicogeográficas” era considerado um psicogeógrafo. E psicogeográfico seria “o que manifesta a ação direta do meio geográfico sobre a afetividade”.
A brusca mudança de ambiência numa rua, numa distância de poucos metros; a divisão patente de uma cidade em zonas de climas psíquicos definidos; a linha de maior declive — sem relação com o desnível — que devem seguir os passeios a esmo; o aspecto atraente ou repulsivo de certos lugares; tudo isso parece deixado de lado. Pelo menos, nunca é percebido como dependente de causas que podem ser esclarecidas por uma análise mais profunda, e das quais se pode tirar partido. As pessoas sabem que existem bairros tristes e bairros agradáveis. Mas estão em geral convencidos de que as ruas elegantes dão um sentimento de satisfação e que as ruas pobres são deprimentes, sem levar em conta nenhum outro fator.15
A psicogeografia seria então uma geografia afetiva, subjetiva, que buscava cartografar as diferentes ambiências psíquicas provocadas basicamente pelas errâncias urbanas que eram as derivas situacionistas. Algumas dessas derivas foram fotografadas — algumas fotocolagens destas eram vistas como mapas, como o Map of Venise de Ralph Rumney sobre suas derivas em Veneza — ou filmadas, chegando a aparecer em alguns filmes de Debord, sobretudo no seu segundo filme, de 1959: Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Cartografias subjetivas, ou mapas afetivos, chegaram a ser efetivamente realizados, e um deles ficou quase como

9
um símbolo situacionista The Naked City, illustration de l’hypothèse des plaques tournantes, assinado por Debord em 195716. The Naked City talvez seja a melhor ilustração do pensamento urbano situacionista, a melhor representação gráfica da psicogeografia e da deriva, e também um ícone da própria idéia de Urbanismo Unitário (UU)17. Ele é composto por vários recortes do mapa de Paris em preto e branco, que são as unidades de ambiência, e setas vermelhas que indicam as ligações possíveis entre essas diferentes unidades. As unidades estão colocadas no mapa de forma aparentemente aleatória, pois não correspondem à sua localização no mapa da cidade real, mas demonstram uma organização afetiva desses espaços ditada pela experiência da deriva. As setas representam essas possibilidades de deriva e como estava indicado no verso do mapa: “the spontaneous turns of direction taken by a subject moving through these surroudings in disregard of the useful connections that ordinary govern his conduct”. O título do mapa, The Naked City, também escrito em letras vermelhas, foi tirado de um film noir americano homônimo. O filme de 1948, de Albert Maltz e Malvin Wadd, é uma história de detetives (ver nota 8) que investigam casos de crimes em Nova York. O filme se passa inteiramente nas ruas e espaços públicos de Manhattan. O título do filme, por sua vez, foi retirado de um livro de fotos de crimes reais, publicado em 1945. O subtítulo do mapa, illustration de l’hypothèse des plaques tournantes, fazia alusão às placas giratórias (plaques tournantes) e manivelas ferroviárias responsáveis pela mudança de direção dos trens, que sem dúvida representavam as diferentes opções de caminhos a serem tomados nas derivas. The Naked City tem nítida influência de alguns mapas do livro do sociólogo urbano Paul-Henry Chombart de Lauwe, Paris et l’agglomération parisienne, de 1952, que também foi citado nas páginas da IS (Internationale Situationniste), principalmente na Théorie de la dérive. Um diagrama desse livro de Lauwe também figura na IS, ilustrando o comentário sobre a deriva de Rumney em Veneza: um interessante mapa de Paris com o traçado de todos os trajetos realizados em um ano por uma estudante, que se concentram no bairro em que ela morava, nos percursos básicos entre a sua casa, a universidade e o local de suas aulas de piano. Chombart de Lauwe, muito influenciado pela Escola de Chicago e principalmente por Ernest Burgess, foi claramente uma influência forte, como Henri Lefebvre18, no pensamento urbano situacionista. Talvez, ao contrário de Lefebvre, a influência de Chombart de Lauwe não tenha sido propriamente teórica, mas sim mais ligada às questões de método — que são completamente desviados, “detournés”, pelos situacionistas — e sobretudo a uma fascinação comum, mesmo que com usos totalmente distintos, por mapas e fotografias urbanas aéreas. Numa das páginas da IS, ilustrando o texto L’urbanisme unitaire à la fin des années 50, estão colocados, lado a lado, uma foto aérea de Amsterdã, com o título Une zone expérimentale pour la dérive. Le centre d’Amsterdam, qui sera systématiquement exploré par les équipes situationnistes en Avril-Mai 1960 e uma Carte du pays de Tendre de 1656. Esse mapa de Madeleine Scudéry é uma metáfora de uma viagem no espaço geográfico imaginário que traçaria diversas possibilidades de histórias de amor e romances variados. Os nomes dos lugares estavam relacionados a diferentes sentimentos e marcavam momentos significativos e emocionantes. Este foi o mapa inspirador do Le guide psychogéographique de Paris, discours sur les passions de l’amour. Os mapas situacionistas, psicogeográficos, realizados em função de derivas reais, eram tão imaginários e subjetivos quanto a Carte du pays de Tendre; eles simplesmente ilustravam uma outra maneira de apreender o espaço urbano através da sua experiência afetiva. Esses mapas, experimentais e rudimentares, desprezavam os parâmetros técnicos habituais uma vez que estes, por questões funcionais e práticas, não levam em consideração aspectos sentimentais, psicológicos ou intuitivos, que muitas vezes caracterizam muito mais um determinado espaço do que os simples aspectos meramente físicos, formais, topográficos ou geográficos.

10
A confecção de mapas psicogeográficos e até simulações, como a equação — mal fundada ou completamente arbitrária — estabelecida entre duas representações topográficas, podem ajudar a esclarecer certos deslocamentos de aspecto não gratuito mas totalmente insubmisso às solicitações habituais. As solicitações dessa série costumam ser catalogadas sob o termo de turismo, droga popular tão repugnante quanto o esporte ou as vendas a crédito. Há pouco tempo, um amigo meu percorreu a região de Hartz, na Alemanha, usando um mapa da cidade de Londres e seguindo-lhe cegamente todas as indicações. Essa espécie de jogo é um mero começo diante do que será a construção integral da arquitetura e do urbanismo, construção cujo poder será um dia conferido a todos.19
A GUISA DE CONCLUSÃO (outras errâncias…) Outros tipos semelhantes de experiências do espaço urbano, que provocaram ou consideraram a própria apreensão afetiva desses espaços desenvolveram o que chamamos de errância urbana ou da arte de se andar pela cidade. Essas idéias se desenvolveram também no meio artístico após os situacionistas. Logo em seguida o grupo neo-dadaísta Fluxus (Maciunas, Patterson, Filliou, Ono etc) também propôs experiências semelhantes, foi a época dos “happenings” no espaço público, no caso do Fluxus das “FlexFluxTours”, errâncias por Nova Iorque nos anos 1970. Dentro do contexto da arte contemporânea, vários artistas trabalharam no espaço público de forma crítica ou com um questionamento teórico, e, entre outros, podemos citar: Krzysztof Wodiczko, Daniel Buren, Gordon Matta-Clark, Vitto Acconti, Dan Grahan, Barbara Kruger, Jenny Holzer ou Rachel Whiteread. O denominador comum entre esses artistas, e suas ações urbanas, seria o fato de que eles vêem a cidade como campo de investigações artísticas aberto a novas possibilidades sensitivas, e assim, possibilitam outras maneiras de se analisar e estudar o espaço urbano através de suas obras ou experiências. Diferentemente dessas abordagens, a deriva situacionista não pretendia ser vista como uma atividade propriamente artística, mas sim como uma técnica urbana para tentar desenvolver na prática a idéia de construção de situações através da psicogeografia. A deriva seria simplesmente uma apropriação do espaço urbano pelo pedestre através da ação do andar sem rumo (não necessariamente com pretensões artísticas). No Brasil tanto os artistas modernistas quanto os tropicalistas também tiveram algumas idéias semelhantes, principalmente as “experiências” de Flávio de Carvalho, próximo aos surrealistas parisienses dos anos 1930, ou o “Delirium Ambulatorium” de Hélio Oiticica, leitor admirativo do mentor dos situacionistas dos anos 1960, Guy Debord. Da mesma forma que nas flanâncias de João do Rio podemos notar uma clara influência dos textos de Baudelaire, Flávio de Carvalho (1899-1973), que conheceu os surrealistas parisienses em seus anos de estudo Europa nos anos 1910-20 e depois em Paris nos anos 1930 quando os reencontrou, também parece ter sido influenciado por suas idéias, principalmente em suas deambulações urbanas. O engenheiro civil, arquiteto, escultor e decorador Flávio de Carvalho, como ele se denominava, ficou mais conhecido por suas pinturas e obras arquitetônicas, em projeto (Palácio do Governo de SP de 1927 ou o Farol de Colombo de 1928) ou construídas (como o conjunto de casas da Alameda Lorena de 1936), do que por suas errâncias urbanas, que ele denominou de “experiências”. A “experiência nº 2” realizada em 1931 e publicada em livro homônimo (com o subtítulo, uma possível teoria e uma experiência), consistia na prática de uma deambulação, com um tipo de boné cobrindo a cabeça, no sentido contrário de uma procissão de Corpus Christi pelas ruas de São Paulo, como ele conta em seu livro: “Tomei logo a resolução de passar em revista o cortejo, conservando o meu chapéu na cabeça e andando em direção oposta à que ele seguia para melhor observar o efeito do meu ato ímpio na fisionomia dos crentes.” Depois de algum tempo a multidão se voltou contra ele, que teve que fugir e se refugiar em uma leiteria. Quando a polícia o prendeu ele disse que estava realizando uma “experiência sobre a psicologia das multidões”. Nos jornais do dia seguinte as manchetes destacavam: “Na procissão uma experiência sobre a psicologia das multidões da qual resultou sério distúrbio” (O Estado de São Paulo, 9 de junho de 1931).

11
Antes mesmo desta primeira experiência (a experiência nº 1 fracassou e não foi divulgada), Flávio de Carvalho publicou um texto interessante no jornal Diário de São Paulo intitulado: “Uma tese curiosa – A cidade do homem nu”. Já na “experiência nº 3”, que só foi realizada publicamente em 1956, ele sai andando pelas ruas de São Paulo vestido com o traje de verão do “novo homem dos trópicos” (ou new look), desenhado por ele, e que consistia em uma roupa para ambos os sexos: uma blusa de náilon, um saiote com pregas e um chapéu transparente, vestidos com meia-arrastão e sandálias de couro. A deambulação foi conturbada e polêmica, mas segundo os jornalistas da época: “São Paulo nunca viu nada igual” (Manchete, 1956). Flávio de Carvalho escreveu uma série textos sobre a cidade e as questões urbanas em 1955 no Diário de São Paulo, que tratavam sobretudo da questão do transporte e do trânsito urbano, e a partir de 1956 ele escreveu outra série de textos no mesmo jornal sobre “A moda e o novo homem” onde explica: “Entende-se por moda os costumes, os hábitos, os trajes, a forma do mobiliário e da casa (…) Contudo, é a moda do traje que mais forte influência tem sobre o homem, porque é aquilo que está mais perto do seu corpo e o seu corpo continua sempre sendo a parte do mundo que mais interessa ao homem”. Assim como Flávio de Carvalho pode ser considerado um pioneiro da chamada “arte de ação” ou “performance” no Brasil – em particular desta relação entre a arte e a vida cotidiana que passa também tanto por questões corporais quanto por questões urbanas - Hélio Oiticica (1937-1980), junto com Lygia Clark e Ligia Pape, pode ser considerado um dos mais inquietos seguidores desta linhagem teórica no país. A partir de 1964, ano da morte de seu pai e da “descoberta” da favela da Mangueira, Oiticica passa a desenvolver os Parangolés, são capas, tendas e estandartes, mas sobretudo capas, que vão incorporar literalmente as três influências da favela que Oiticica acabava de descobrir: a influência da idéia do corpo e do samba, uma vez que os Parangolés eram para ser vestidos, usados e, de preferência, o participante devia dançar com eles; a influência da idéia de coletividade anônima, incorporada na comunidade da Mangueira: com os Parangolés, os espectadores passavam a ser participantes da obra – e, diga-se – a idéia de participação do espectador (a mesma idéia desenvolvida pelos situacionistas como antídoto ao espetáculo) encontrou aí toda sua força; e a influência da arquitetura das favelas, que pode ser resumida na própria idéia de abrigar, uma vez que os Parangolés abrigam efetivamente e, ao mesmo tempo, de forma mínima (como os barracos das favelas), os que com eles estão vestidos. Assim como as “experiências” de Carvalho, os “Parangolés” de Oiticica causaram bastante polêmica. Os Parangolés, foram mostrados ao público pela primeira vez em 1965, na exposição coletiva Opinião 65 no MAM do Rio. Na abertura da exposição, Oiticica chegou vestido com um desses Parangolés, acompanhado por um cortejo de amigos da escola de samba da Mangueira, também vestidos com Parangolés, tocando bateria, cantando e sambando. Mas Oiticica e os passistas da Mangueira foram efetivamente impedidos de entrar no Museu de Arte Moderna, e os jornais da época registraram que a festa teve lugar no lado de fora do museu: “O que causou realmente impacto no grupo, foram os trabalhos apresentados por Hélio Oiticica, os quais ele denominou de Parangolé. (...) Comentaremos o fato de a direção do MAM não permitir a exibição da ‘arte ambiental’ no seu todo. Não foi possível a apresentação dos passistas, comandados por Hélio Oiticica, no interior do Museu, por uma razão que não conseguimos entender: barulho dos pandeiros, tamborins e frigideiras. Hélio Oiticica, revoltado com a proibição, saiu juntamente com os passistas e foram exibir-se no lado de fora, onde foram aplaudidos pelos críticos, artistas, jornalistas e parte do público que lotava as dependências do MAM” (Diário Carioca, 14/08/65). Toda a obra posterior do artista, que cada vez mais se confundiu com sua própria vida, seguiu buscando novas experiências corporais mas também urbanas: Penetráveis, Tropicália, Éden, Barracão, entre várias outras20. A partir de sua estadia em Nova Iorque, Oiticica se aproximou ainda mais do pensamento situacionista, ele passou a citar Guy Debord em vários de seus escritos e chegou a propor um Penetrável (P12) com textos escritos e declamados retirados do clássico de Debord, A sociedade do espetáculo (1967). Ao voltar ao Brasil, em 1978, participou do evento Mitos

12
Vadios, realizado pelas ruas de São Paulo, onde apresentou o Delirium ambulatorium, uma de suas últimas derivas urbanas. No texto EU em MITOS VADIOS (de outubro de 1978) ele descreve essa experiência e diz que a proposta era: “poetizar o urbano à AS RUAS E AS BOBAGENS DO NOSSO DAYDREAM DIÁRIO SE ENRIQUECEM à VÊ-SE Q ELAS NÃO SÃO BOBAGENS NEM TROUVAILLES SEM CONSEQUÊNCIA à SÃO O PÉ CALÇADO PRONTO PARA O DELIRIUM AMBULATORIUM RENOVADO A CADA DIA.” Talvez a maior crítica de todos os errantes - artistas ou poetas que citamos ao longo desse pequeno histórico das errâncias urbanas - aos urbanistas modernos, tenha sido exatamente o que Oiticica resumiu de forma tão clara. Os urbanistas modernos teriam esquecido, diante de tantas preocupações funcionais e formais novas, de algo tão simples porém imprescindível (para os amantes de cidades): “poetizar o urbano”. 1 "Escreve-se a história, mas ela foi escrita do ponto de vista dos sedentários, e em nome do aparelho unitário do Estado, pelo menos possível, inclusive quando se falava sobre nômades. O que falta é uma Nomadologia, o contrário de uma história (...) Nunca a história compreendeu o nomadismo (…)” in Gilles Deleuze e Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, ed. Minuit, 1980. 2 Cf. Jaime Larry Benchimol, Pereira Passos: um Haussmann tropical, Rio de Janeiro, Biblioteca Carioca, 1990. Sobre a idéia de Haussmanização tanto no Rio com Pereira Passos, quanto em Salvador em seguida com J.J. Seabra (1912-1916), ver Eloísa Petti Pinheiro, Europa, França e Bahia, difusão e adaptação de modelos urbanos, Salvador, Edufba, 2002. 3 O termo “urbanismo moderno” nos parece um pleonasmo, uma vez que o próprio termo urbanismo, e a disciplina que lhe corresponde, surgem exatamente neste momento de modernização das cidades ( termo usado pela primeira vez por Cerdà em 1867 – responsável pelo plano de modernização de Barcelona em 1959 - na obra Teoría general de Urbanizacion). Nos perguntamos: será que, mesmo após o final do movimento moderno em arquitetura e urbanismo, já existiu algum tipo de urbanismo não-moderno ou “pós-moderno”? A propria noção de plano, de planificação e de planejamento (bases da prática do urbanismo em geral), e até mesmo de projeto, são extremamente modernas… 4 Pode-se notar três fases claras de dominação distintas dentro dos CIAMs: Fase 1 – dominação da língua alemã, do Neues Bauen, vai do CIAM I de La Sarraz, Fundação dos CIAMs em 1928 ao CIAM III de Bruxelas, Loteamento Racional em 1930; Fase 2 – dominação da língua francesa, de Le Corbusier, vai do CIAM IV de Atenas (Patris II), Cidade Funcional de 1933 ao CIAM VII de Bergamo, «Grille » CIAM em 1949; e a Fase 3 – dominação da língua inglesa, do Team X, do CIAM VIII de Hoddesdon, O coração da cidade em 1951 ao derradeiro CIAM’59 de Otterlo, o fim oficial dos CIAMs em 1959. 5 O que para Charles Jencks simbolizava o início do Pós-modernismo em arquitetura e urbanismo. No Brasil vários conjuntos modernistas ainda foram construídos até os anos 1980. Como uma anedota para quem não conhece esta ironia da história da arquitetura, o conjunto Pruitt Igoe foi projetado pelo mesmo arquiteto, Minoru Yamasaki, das torres gêmeas do World Trade Center, destruídas em 2001 no ataque terrorista, que foram inauguradas também em 1972 (ano de destruição do Pruitt Igoe). Yamasaki passou a ser um dos arquitetos mais conhecidos do mundo por suas obras implodidas. 6 Ver Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle, le livre des passages, Paris, Cerf, 1989. As passagens, ruas cobertas, são exaltadas por Benjamin pois representavam um espaço intermediário entre interior e exteriior, entre privado e público, entre arquitetura e paisagem: “ a flanerie pode transformar toda a Paris num interior, numa moradia cujos aposentos são os quarteirôes, por outro lado, também, a cidade pode abrir-se diante do transeunte como uma paigem sem soleiras.” Os arquitetos modernos estavam propondo eliminar essa diferença entre o exterior-interior, Benjamin chega a citar Giedion (texto de 1928) falando de Corbusier: “Os prédios de Corbusier não são nem espaçosos nem plásticos: o ar sopra através deles! (…) Existe apenas um único e indivisível espaço. Caem as cascas entre interior e o exterior.’ 7 Assim como Bauleraire traduziu Poe, Walter Benjamin foi o tradutor de Baudelaire para o alemão. 8 Sobre a questão das multidões, principalmente em Londres (textos de Poe ou Engels), primeira das grandes cidades industriais modernas, ver Maria Stella Bresciani, A cidade das multidões, a cidade aterrorizada, in Olhares sobre a cidade, Robert Pechman (org), Rio de Janeiro, ed. UFRJ, 1994. 9 Segundo Benjamin, “na figura do Flanêur prefigurou-se a do detetive”. Sobre a relação entre o detetive e o urbanista, dois “profissionais da cidade”, ver Robert Moses Pechman, Cidades estreitamente vigiadas, o detetive e o urbanista, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2002. 10 Cf. Gilles Deleuze e Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, ed. de minuit, 1980. 11 Em 1957, em Cosio d’Arrosca, Guy Debord (1931-1994) fundou a Internacional Situacionista (IS). A IS passou rapidamente a ter adeptos em vários países, entre eles: Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Argélia. Entre 1958 e 1969, 12 números da revista IS foram publicados e, se nos primeiros seis números (até 1961) as questões tratavam basicamente da arte passando para uma preocupação mais centrada no urbanismo (crítica), estas se deslocaram “naturalmente” em seguida para as esferas propriamente políticas, e sobretudo revolucionárias, culminando na determinante e ativa participação situacionista nos eventos de Maio de 1968 em Paris. Além dos números da IS, dos inúmeros panfletos e das ações públicas realizadas pelos situacionistas, três publicações de seus membros foram determinantes na formação do espírito revolucionário pré-68: a brochura coletiva publicada em 1966 De la misère en milieu étudiant, considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel, et quelques moyens pour y remédier;o livro do situacionista Raoul Vaneigem, publicado em 1967, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations; e o hoje clássico de Guy Debord, também publicado em 1967, La société du spectacle. 11 Guy Debord “Relatório sobre a construção de situações e sobre as condições de organização e de ação da tendência situacionista internacional” (1957) in Paola Berenstein Jacques (org.) Apologia da Deriva, escritos situacionistas sobre a cidade, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003 (todas as citações situacionistas deste texto foram retiradas desta tradução). 13 Todas as definições situacionistas foram publicadas na IS, Internacionale Situationniste, nº 1 de 1958. 14 Guy Debord “Relatório sobre a construção de situações e sobre as condições de organização e de ação da tendência situacionista internacional” (1957).

13
15 Guy Debord, “Introdução a uma crítica da geografia urbana” (1955). 16 Debord e Jorn realizaram juntos dois livros ilustrados, feitos basicamente de colagens e que também continham outros “mapas”: Fin de Copenhague, MIBI, Copenhague, 1957, e Mémoires, IS, Copenhague, 1959, além do mapa Le guide psychogéographique de Paris, discours sur les passions de l’amour (1956). 17 O urbanismo unitário — unitário por ser contra a separação moderna de funções (base da Carta de Atenas) — não propôs novos modelos ou formas urbanas, mais sim experiências efêmeras de apreensão do espaço urbano através da proposta de novos procedimentos como a psicogeografia e de novas práticas como a deriva. Como os próprios situacionistas insistiam em dizer: “Primeiro, o urbanismo unitário não é uma doutrina de urbanismo, mas uma crítica ao urbanismo.” 18A tese central situacionista, a construção de situações se assemelhava muito à tese defendida por Henri Lefebvre — não por acaso muito próximo dos situacionistas no início do movimento de uma construção de momentos, em sua trilogia La critique de la vie quotidienne. A situação construída se assemelha à idéia de momento, e poderia ser efetivamente vista como um desenvolvimento do pensamento lefebvriano: O que você chama momentos, nós chamamos situações, mas estamos levando isso mais longe que você. Você aceita como momento tudo que ocorreu na história: amor, poesia, pensamento. Nós queremos criar momentos novos . Debord citado:“Lefebvre on the Situationnists: an interview”, in October nº 79, MIT Press, Winter 1997. 19 Guy Debord, “Introdução a uma crítica da geografia urbana” (1955). 20 Sobre esse aspecto na obra de Oiticica, em particular com relação às favelas, ver Paola Berenstein Jacques, Estéitca da Ginga, a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2001.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ATGET, Eugéne. Aget´s Paris. Paris: Taschen, 2001. _____. Aperture Masters of Photography. New York: Könemann, 1997. ARAGON, Louis. O Camponês de Paris. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Imago, 1996. BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal.Trad. Flávia Junqueira.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. _____. “Salão de 1859”. In: Obras Estéticas. Filosofia da Imaginação Criadora.Trad. Edson Darci Helat. Petrópolis: Vozes, 1993. _____. “Poema do Haxixe”. In: Paraísos Artificiais.O Ópio e Poema do Haxixe.Trad. Alexandre Arbundi. Porto Alegre: L&PM, 2000. _____. Pequenos Poemas em Prosa. Trad. Dorothée de Bruchard. Florianópolis: DAUFSC, 1996. BENJAMIM, Walter. “O Surrealismo. O último instantâneo da inteligência européia”.In: Obras Escolhidas I. Magia e Técnica, Arte e Política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. _____. “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica”. In: Obras Escolhidas I. Magia e Técnica, Arte e Política.Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense,1985. _____. “O Narrador”. In: Obras Escolhidas I. Magia e Técnica, Arte e Política.Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense,1985. _____. Obras Escolhidas II. Rua de Mão Única: Imagens do Pensamento.Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho & José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987. _____.Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire, Um Lírico no Auge do Capitalismo.Trad. José Carlos Martins Barbosa & Hemerson Alves Batista. São Paulo: Brasiliense, 1989. BRASSAI. Paris De Nuit. Paris: Flammarion, 1987. BRETON, André. Nadja.Trad. Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. _____. O Amor Louco. Lisboa, Editorial Estampa: LDA, 1979. CARVALHO, Flávio de. Experiência nº 2, Rio de Janeiro: NAU editora, 2001. DEBORD, Guy – Ernest. “Teoria da Deriva”. In: JACQUES, Paola Berenstein (org). Apologia da Deriva. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. _____. A Sociedade do Espetáculo., Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. DELEUZE, Gilles, FÉLIX, Guattari. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Editora 34, v. 1, 1995. 96p.(Coleção TRANS). DE QUINCEY, Thomas. Confissões de um comedor de ópio. Trad. Ibañez Filho. Porto Alegre: L&M, 2002. _____ . Confessions of na English Opium – Eart. London: Pequim Books, 1997.

14
ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Trad. Rosa Camargo Artigas e Reginaldo Forti. São Paulo: Global, 1985. _____ . “Contribuição ao problema da habitação”. In: Obras Escolhidas 1. São Paulo: Editora Alfa-Omega, s/d. FER, Brion. “Surrealismo, Mito e Psicanálise”. In: Realismo, Racionalismo, Surrealismo: FER, Brion; BATCHELOR, David & WOOD, Paul. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. FOSTER, Hal. “The Artist as Ethnographer”. In: The Return of Real. London: Mit Press, 1996. FOUCAULT, Michel. As Palavras e as coisas. Lisboa: Editora Portugália, s. d. 502p. JACQUES, Paola Berenstein. (org). Apologia da Deriva, escritos situacionistas sobre a cidade, Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. JACQUES, Paola Berenstein. Estética da Ginga, a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavram 2001. MARVILLE, Charles. Collection Photo Poche. Paris: Phot Poche, 1996. POE, Edgar Allan. Poemas e Ensaios. Trad. Oscar Mendes e Milton Amado. 3.ed. São Paulo: Globo, 1999. _____. “O Homem na Multidão”. In: Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Círculo do Livro, ano. RIMBAUD, Arthur. Uma Estadia no Inferno :Poemas Escolhidos, A carta do Vidente. Trad e Org. Daniel Fresnot. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. _____. Iluminações: Uma Cerveja no Inferno. Trad. Mário Cesariny. 2.ed. Lisboa: Assírio e Alvim, 1995. _____. Iluminuras, Gravuras Coloridas. Trad. Rodrigo Garcia Lopes e Maurício Arruda Mendonça. 2.ed. São Paulo: Iluminuras, 1996. RIO, João do. ANTELO, Raúl (org). A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. SONTAG, Susan. “Objetos Melancólicos”. In: Ensaios sobre a Fotografia. Trad. Joaquim Paiva. Rio de Janeiro: Arbor, 1981.