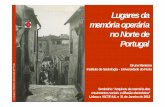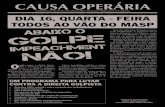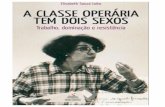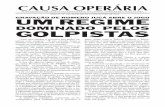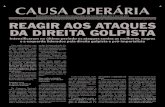A condição operária
Transcript of A condição operária

A condição operária: salários e modos de vida
O liberalismo político e as transformações operadas pelo avanço do capitalismo e da
industrialização criaram, nos escalões inferiores da sociedade de classes, um novo grupo social
– o operariado. Este era formado por todos os assalariados industriais ou fabris, isto é, todos
os que vendiam o seu trabalho braçal, especializado ou não, ao patronato industrial sem outro
lucro que o salário.
Concentrados nas cidades, onde a maior parte das indústrias se fixavam, os operários
constituíram o grupo mais característico entre os assalariados (ou proletários) do século XIX,
embora não o mais numeroso. Na maior parte das sociedades, correspondiam a cerca de um
terço da população activa não terciária, enquanto os restantes dois terços se dispersavam por
trabalhos braçais, quer nos campos quer nas cidades, ou tinham um comportamento
profissional de tal modo ambíguo e instável que se tornava difícil determinar-lhes uma
profissão principal.
Na verdade, a mão-de-obra operária registou, neste século, uma grande instabilidade
profissional e até geográfica, bem patenteada na diversidade de situações de emprego
observáveis entre ela: o emprego permanente e a tempo inteiro era extremamente raro,
abrangendo uma minoria de trabalhadores; o mais frequente era a contratação episódica ou
sazonal, a qual correspondia melhor aos interesses das empresas contratadoras, cuja
necessidade de mão-de-obra variava muito ao longo do ano e até ao longo do mesmo dia de
trabalho.
Assim, por meados do século XIX, a duração média dos contratos de emprego nas
indústrias andava pelo meio dia de trabalho; a maioria dos trabalhadores permanência apenas
12 a 15 por mês, passando o resto do tempo no desemprego ou em actividades não fabris.
Esta situação devia-se ao comportamento instável da mão-de-obra assalariada, mas
também, e principalmente, à política de emprego do patronato industrial. Empenhados em
alcançar o maior lucro possível, os patrões procuravam reduzir os custos de produção de modo
a poderem colocar os seus produtos nos mercados a preços concorrenciais. A redução das
despesas abrangia, frequentemente, o corte no número e no custo da mão-de-obra. Ora um
trabalhador permanente corresponde a um gasto orçamental constante, mesmo que o patrão
não tenha sempre a mesma quantidade de trabalho para ele realizar. Daí recorrerem,
pontualmente, a uma mão-de-obra flutuante e de curto prazo, que se despedia quando não
necessária. Nesta época, a abundância de mão-de-obra disponível facilitou grandemente esta
praticamente exploradora.
Assim, acentuou-se a tendência para a prática de baixos salários para os operários, o
que os manteve no limiar, ou abaixo, do mínimo de sobrevivência.
Embora, ao longo do século XIX, os salários nominais tivessem subido, a verdade é que
esses aumentos não cobriram as perdas no poder de compra entretanto provocadas pela
inflação dos bens essenciais. Assim, os salários reais diminuíram efectivamente em quase
todas as profissões operárias, contribuindo para uniformizar a classe numa miséria
confrangedora.

A necessidade de sobrevivência levou muitas famílias operárias a recorrer ao trabalho
de todos os seus membros capazes. Generalizou-se, por isso, o emprego das mulheres e das
crianças, cuja força de trabalho, sendo paga abaixo dos salários masculinos (cerca de metade
para as mulheres e um quarto para as crianças), passou a ser preferida pelos patrões, que a
usavam para diminuir os custos de produção. Até meados do século XIX, cerca de 70% da mão-
de-obra empregue nas indústrias têxteis era constituída por mulheres e crianças.
Aos salários baixos somavam-se as condições inumanas em que decorria o trabalho.
Grande parte das indústrias funcionava em espaços degradados e impróprios, como caves ou
pátios interiores de prédios urbanos, ou barracões improvisados nas zonas periféricas das
cidades. Os operários aglomeravam-se às dezenas nesses espaços insalubres, frios no Inverno
e quentes no Verão, húmidos, mal iluminados e mal arejados, ao longo de toda a jornada, que
em regra, se estendia para lá das doze horas diárias, quase sem interrupções.
Estas condições de trabalho tendiam a cansar e a desmotivar o operário, tanto mais
que, em muitas indústrias, o contínuo aperfeiçoamento técnico do processo produtivo reduziu
as suas incumbências ao mero acompanhamento das máquinas. Para impedir o afrouxamento
do ritmo de trabalho, os patrões contratavam capatazes ou contramestres que exerciam uma
apertada vigilância. As mulheres e crianças eram muitas vezes fustigadas de chicote para
retomarem o ritmo. A mínima falha no cumprimento das regras era castigada e deduzida no
salário.
Os contratos de trabalho eram elementares e unilaterais: estipulavam, com rigor e
severidade, as obrigações dos operários, mas ficavam omissos quanto a férias, faltas,
assistência na doença, na invalidez e na velhice e os despedimentos podiam fazer-se sem pré-
aviso, sem justa causa ou sem direito a indemnização. Por exemplo, em alguns casos, o
abandono do trabalho, antes de terminado o prazo do contrato, era castigado com prisão.
A pobreza da vida operária descia, em muitos casos, à mais extrema penúria material e
física. Sobrecarregados com as despesas de alojamento e de alimentação – que lhes levavam
mais de dois terços do salário recebido –, raramente lhes sobravam dinheiro para outras
necessidades da vida (saúde, educação, vestuário, lazer) e muito menos para a poupança, tão
do agrado burguês.
Subalimentados, sujeitos a rotinas quotidianas duras e sem descanso, os seus
organismos depauperavam-se com rapidez. Omalgias, febres, tifo, raquitismo, sífilis e
tuberculose registavam, entre os operários, uma alta incidência; a mortalidade, sobretudo a
infantil, manteve-se também das mais elevadas.
As condições de saúde eram agravadas pelas condições de habitação. O alto custo dos
alojamentos urbanos e a ausência de construções específicas para os operários lançou-os no
recurso à sublocação nos velhos prédios degradados dos centros citadinos ou nos bairros da
periferia, situados na proximidade das fábricas, das minas, das lixeiras… Nascidos da
improvisação ou feitos à pressa, esses alojamentos não possuíam as condições mínimas de
habitabilidade. Sobrelotadas, as casas degradavam-se rapidamente; as ruas, não pavimentadas,
transformavam-se em fétidos caixotes de lixo e palco para as brincadeiras das crianças que não
encontravam no lar nem espaço nem atractivos.

A constante luta contra a pobreza e o dia-a-dia incerto, exaustivo e triste degradaram
substancialmente os hábitos e os costumes dos operários. As relações familiares deterioraram-
se: as ligações conjugais desfaziam-se com facilidade; muitas viviam fora do casamento e a
taxa de filhos ilegítimos era elevada; o infanticídio e o abandono de recém-nascidos e de
crianças pequenas eram frequentes.
A falta de perspectivas de vida, o desemprego e a ausência de solidariedade do mundo
urbano permitiram a proliferação de vários vícios, como o alcoolismo, a prostituição, a
vagabundagem, a mendicidade e, até, a marginalidade e o crime.
p. 90-95, Cadernos de História B – 10º ano, 3º módulo