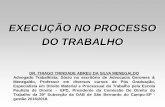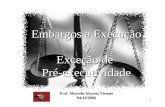A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCALsiaibib01.univali.br/pdf/Carlos Augusto de...
Transcript of A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCALsiaibib01.univali.br/pdf/Carlos Augusto de...

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS - CEJURPS CURSO DE DIREITO
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
Itajaí/SC, maio de 2006.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS - CEJURPS CURSO DE DIREITO
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
Monografia submetida à Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em
Direito. Orientador: Professor Msc. Alexandre Macedo Tavares
Itajaí/SC, maio de 2006.

MEUS AGRADECIMENTOS
Ao meu grande, amado e honroso Pai,
homem de imensa sapiência e de grande
valor. Exemplo de batalhador e vencedor,
que sempre se sacrificou em prol de meus
objetivos. Fazendo o possível e impossível
para que eu não abrisse mão de meus
sonhos.
À minha eternamente amada Mãe, que,
enquanto Deus permitiu sua estadia aqui na
terra, sempre foi minha companheira em
todos os momentos, bons e ruins de minha
vida. Mãe, dedico esta minha grande vitória
a você. Te amarei para sempre.
Ao meu amado irmão, que, orgulhosamente,
tem se espelhado em mim para tomar suas
decisões e me procurado para elucidar suas
dúvidas, o qual, também deseja ser um
operador jurídico.
À minha noiva Carla Fernanda, que desde o
princípio desta minha longa jornada esteve
ao meu lado, me apoiando em todos os
momentos de minha vida, bons e ruins.
Amarei você para sempre meu amor.
A todos os meus parentes que, por mais
distante que estejam, jamais deixaram de se
preocupar comigo e de me incentivar e
apoiar em todas as ocasiões de minha vida.
As inúmeras amizades sinceras que consegui
conquistar no decorrer desta minha jornada.
Amigos que levarei para sempre junto
comigo e nada será capaz de apagá-los de
meu coração.

Ao meu Professor e Orientador, Msc.
Alexandre Macedo Tavares, por toda
atenção a mim dispensada e por ter
aceitado o encargo de ser meu orientador e
ter me dado toda atenção necessária.
Principalmente a Deus, por nos dar o dom e a
essência da vida, nos dar saúde, alegrias,
vitórias, garra, enfim, por permitir-nos de
usufruir a existência de cada dia, guiando-
nos na retidão do conhecimento, do
crescimento e da evolução enquanto seres
humanos.

DEDICATÓRIA
Este trabalho dedico exclusivamente à minha
inesquecível e eternamente amada Mãe
(Astrid Sueli de Oliveira), que por vontade
divida não pôde chegar ao fim desta minha
caminhada e compartilhar comigo desta
conquista. Ela que, juntamente com meu
Pai, sempre abriu mão de tudo para que
meus sonhos fossem concretizados. Uma vida
inteira de abdicação interrompida pela
vontade de Deus. Mãe, sei que estás em um
bom lugar, sei que cuidas-te e continuarás
cuidando de mim, de meu irmão Marco
Aurélio e de meu Pai aí de cima. Sei que
nunca me abandonasse em minha
caminhada e sempre estarás ao meu lado,
iluminando o meu caminho. É por estas e
outras que eu TE AMO e continuarei te
amando eternamente, obrigada por tudo.

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade
pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a
Universidade do Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito, a
Banca Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade
acerca do mesmo.
Itajaí/SC, maio de 2006.
Carlos Augusto de Oliveira Graduando

PÁGINA DE APROVAÇÃO
A presente monografia de conclusão do Curso de Direito da Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI, elaborada pelo graduando Carlos Augusto de
Oliveira, sob o título A Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal,
foi submetida em 01/06/2006 à banca examinadora composta pelos
seguintes professores: MSc. Alexandre Macedo Tavares – Presidente; MSc.
Natan Ben-Hur Braga e Dr. Diego Richard Ronconi como membros
convidados, e aprovada com a nota 9,2 (nove vírgula dois).
Itajaí/SC , maio de 2006.
Profº. MSc. Alexandre Macedo Tavares] Orientador e Presidente da Banca
Profº. MSc. Antonio Augusto Lapa Coordenação da Monografia

ROL DE CATEGORIAS
Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à
compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos
operacionais.
Crédito Tributário1
É um vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força da qual o Estado
(sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável
(sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária
(objeto da relação obrigacional).
Dívida Ativa2:
Dívida ativa tributária é constituída pelo crédito de igual natureza, inscrita
de modo regular na repartição competente de administração fazendária,
após aspirado o prazo legal para o pagamento ou força de decisão final
proferida em processo regular, o pressuposto essencial para sua
caracterização é a sua natureza que há de ser tributária, sem o qual não
poderá ser qualificada de dívida ativa tributária.
Embargos do Devedor3
Os embargos do devedor são o meio de defesa deste, com a natureza
jurídica de uma ação incidente que tem por objeto desconstituir o título
executivo ou declarar sua nulidade ou inexistência.
Execução Fiscal4
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p. 121.
2 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Crédito tributário, p. 66.
3 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de execução e procedimentos especiais, p. 108.
4 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 355.

É ação análoga à ação executiva, iniciando-se, também, pela citação
do réu devedor para que pague imediatamente ou ofereça bens à
penhora, a fim de que, por ela, se processe a fase executória da ação.
Exceção de Pré-Executividade5
Forma excepcional de oposição do devedor ao processo de execução
fundada nos pressupostos processuais, merecendo assim o rótulo genérico
de exceção de pré-executividade.
5 ASSIS, Araken de. Manual de processo de execução, p. 347.

SUMÁRIO
RESUMO ............................................................................................ XI
INTRODUÇÃO .................................................................................... 1
CAPÍTULO 1 ...................................................................................... 3
PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ...................... 3
1.1 NOÇÃO DE PRINCÍPIO ....................................................................................3 1.2 PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ......................................................5 1.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE .............................................................................8 1.4 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA...............................10 1.5 PRINCÍPIO DA AÇÃO ....................................................................................12 1.6 PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE E DA INDISPONIBILIDADE .......................13 1.7 PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DA LIVRE INVESTIGAÇÃO DAS PROVAS – VERDADE FORMAL E VERDADE REAL ..................................................................15 1.8 PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL .................................................................16 1.9 PRINCÍPIO DA ORALIDADE............................................................................17 1.10 PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ.......................................20 1.11 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS............................21 1.12 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE .......................................................................23 1.13 PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL .....................................................25 1.14 PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO............................................................................................................27
CAPÍTULO 2 ....................................................................................29
NOTAS INTRODUTÓRIAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO ...................................................................................... 29
2.1 DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO DE CONHECIMENTO E PROCESSO DE EXECUÇÃO ..........................................................................................................29 2.2 O CONTRADITÓRIO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO ...................................37 2.3 DOS MEIOS DE DEFESA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO ..............................38 2.3.1 DOS EMBARGOS DO DEVEDOR...........................................................................39 2.3.2 DOS EMBARGOS DE TERCEIROS ..........................................................................42
CAPÍTULO 3.......................................................................................49
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO INSTRUMENTO DE DEFESA NA EXECUÇÃO FISCAL ...................................................... 49
3.1 ORIGEM DO INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE .................49 3.2 COMPETÊNCIA...............................................................................................51

3.3 PROCEDIMENTO DA EXCEÇÃO ....................................................................53 3.4 PRAZO PARA OFERECIMENTO.......................................................................55 3.5 LEGITIMIDADE ................................................................................................57 3.6 EFEITOS PROCESSUAIS E EFEITO SUSPENSIVO ..............................................59 3.7 RECURSO CABÍVEL NA HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ............................................................................................61 3.7 MATÉRIAS ARGÜÍVEIS ATRAVÉS DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ...62 3.7.1 CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA...............................................65 3.7.2 NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ............................................................67 3.7.3 EXCESSO DE EXECUÇÃO ....................................................................................69 3.7.4 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ..............................................................................71 3.7.5 COMPENSAÇÃO ..............................................................................................75 3.7.6 HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXCEÇÃO ...........................................................76
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................80
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS .................................................82

RESUMO
A presente monografia trata da Exceção de Pré-
executividade junto ao Processo de Execução.
A Exceção de Pré-Executividade, com muita eficácia,
é uma espécie de ação que não possui amparo específico em Lei. É um
dos remédios jurídicos em que o Executado possui “certas” vantagens em
relação aos Embargos. Ela serve para, literalmente, aniquilar a ação.
Uma das grandes vantagens para propor a exceção
de pré-executividade é que basta uma simples petição, com as provas
robustas do vício que há nos autos, que será juntada e julgada nos
próprios autos da execução. Outra vantagem da exceção é a não-
necessidade de garantir o juízo para que se tenha o direito de discutir o
crédito tributário exeqüendo, o que é impossível em sede de embargos à
execução fiscal. A exceção de pré-executividade não possui prazo para
ser interposta, o que não ocorre com os embargos pois, nele existem os
prazos peremptórios a serem cumpridos.

INTRODUÇÃO
A presente Monografia tem como objeto a Exceção
de Pré-Executividade. Tendo como objetivos:
a) institucional: produzir uma monografia para
obtenção do grau de bacharel em Direito, pela Universidade do Vale do
Itajaí – UNIVALI.
b) geral: abordar a possibilidade de defesa em
processo de execução fiscal através da exceção de pré-executividade.
Sem que haja a necessidade de garantia do juízo ou a constrição judicial
de bens do devedor;
c) específicos, analisar as regras procedimentais da
ação de execução.
Para tanto, no Capítulo 1, tratou-se de uma grande
gama de princípios indispensáveis ao desenvolvimento processual, sem
que haja favorecimento a uma das partes.
No Capítulo 2, trata-se já da parte processual e se
aborda a própria execução em si. Enfatizam-se as diferenças entre os
processos de execução e de conhecimento, as diferenças entre os títulos
judiciais e extrajudiciais, etc.
No terceiro e último Capítulo, abordou-se mais
profundamente o instituto da exceção de pré-executividade, com ênfase.
O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as
Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos
destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das

2
reflexões sobre o instituto da exceção de pré-executividade na execução
fiscal.
Para a presente monografia foram levantadas as seguintes hipóteses de
que seria possível o devedor apresentar defesa em sede de execução
sem garantir o juízo; os embargos constituem o único meio de defesa do
devedor em sede de Execução Fiscal; as questões de ordem pública que
o juiz pode (deve) conhecer de ofício devem ser argüidas somente
através de embargos ou de outro remédio jurídico.
Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na
Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo6, e, o Relatório dos
Resultados expresso na presente Monografia é composto na base lógica
Indutiva.
Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as
Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da
Pesquisa Bibliográfica.
6 PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o
pesquisador do direito, p.104.

CAPÍTULO 1
PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1.1 NOÇÃO DE PRINCÍPIO
Em um primeiro momento, pode-se dizer que os
princípios são os marcos iniciais que servem de referência a um
determinado propósito: é o início, a origem, o começo, a causa.
Carazza7 aduz:
Etimologicamente, o termo “princípio” (do latim principium,
principii) encerra a idéia de começo, origem, base. Em
linguagem leiga é, de fato, o ponto de partida e o
fundamento (causa) de um processo qualquer.
O estudo dos princípios gerais do direito processual
civil, leva, inicialmente, a elucidar o que significa, em direito, a palavra
princípio. Requer, antes de tudo, a compreensão do próprio termo
Princípio. Desta maneira, far-se-á uma breve análise etimológica da
palavra Princípio e seu significado.
A palavra Princípio, leva a pensar sobre o início de
tudo. Início dos tempos, início das coisas, tudo a partir do momento em
que passam a existir. Porém, com o passar dos tempos, remeteu-se à idéia
de valores do homem, e também em preceitos processuais.
Cintra, Grinover e Dinamarco8 lecionam que:
Através de uma operação de síntese crítica, a ciência
processual moderna fixou os preceitos fundamentais que
7 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p. 32.
8 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 50.

4
dão forma e caráter aos sistemas processuais. Alguns desses
princípios básicos são comuns a todos os sistemas; outros
vigem somente em determinados ordenamentos.
Para Silva9:
Derivado do latim principium (origem, começo), em sentido
vulgar quer exprimir o começo de vida ou o primeiro
instante em que as pessoas ou as coisas começam a existir.
É amplamente, indicativo do começo ou da origem de
qualquer coisa.
Segundo clássica definição de Bandeira de Mello10:
É, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se
irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos
princípios que se preside a intelecção das diferentes partes
componentes do todo unitário que há por nome sistema
jurídico positivo.
Os princípios são, em verdade, os enunciados basilares
que dão sustentação à Ciência Jurídica. Imprescindível ressaltar que os
princípios jurídicos indicam, através de elementos vitais do próprio direito, o
alicerce do mesmo Direito.
Tavares11 afirma “já num plano elucidativo, que os
princípios constitucionais assumem a função de uma bússola jurídica
orientadora do caminho a ser trilhado pelo intérprete em toda empreitada
9 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 639.
10 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo, p. 807-808.
11 TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de direito tributário, p. 11.

5
exegética e, ipso facto, da determinação do sentido objetivo, lógico e
sistêmico do Sistema Tributário Nacional”.
Concluindo, os princípios nada mais são do que pontos
de partida, sólidos e seguros, em que o sistema deve estar assentado.
1.2 PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ
É um princípio de natureza constitucional que garante
às partes litigantes em um processo que o mesmo seja julgado por um Juiz
imparcial.
Schlichting12 conceitua este princípio como sendo:
[...] um dos direitos primordiais do homem, os sujeitos do
processo têm o direito de exigir do Estado um julgador
imparcial, e o Estado, por sua vez, na pessoa do julgador,
tem o dever correspondente de agir com imparcialidade no
atendimento às tutelas jurisdicionais que lhes são
submetidas.
A CRFB/8813, em seu artigo 5º, declara que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]. Conforme
previsto no referido preceito constitucional, ninguém deve merecer
tratamento diferenciado independentemente da cor, raça ou credo.
O parágrafo único do artigo 95 do mesmo diploma
legal dispõe que aos juízes é vetado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
12 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 46.
13 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988).

6
III - dedicar-se à atividade político-partidária.
Cintra, Grinover e Dinamarco14 aduzem que:
A incapacidade subjetiva do juiz, que se origina da suspeita
de sua imparcialidade, afeta profundamente a relação
processual. Justamente para assegurar a imparcialidade do
Juiz, as constituições lhe estipulam garantias (Const., art. 95),
prescrevem-lhe vedações (art. 95, par. Ún.) e proíbem juízos
e tribunais de exceção (art. 5º, inc. XXXVII).
O Juiz deve nortear-se aos rumos do processo,
verificando a eficácia e validade processual no âmbito de não ferir o
direito de nenhuma das partes.
A imparcialidade do Juiz também é referenciada no
artigo 125 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 125. O Juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, competindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento.
A imparcialidade do Juiz possui, basicamente, duas
causas geradoras. A primeira delas é o impedimento, disposto no artigo
134 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo
contencioso ou voluntário:
I - de que for parte;
II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou
como perito, funcionou como órgão do Ministério Público,
ou prestou depoimento como testemunha;
14 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 52.

7
III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe
proferido sentença ou decisão;
IV - quando nele estiver postulando, como advogado da
parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu,
consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral
até o segundo grau;
VI - quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de
alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o
terceiro grau;
V - quando for órgão de direção ou de administração de
pessoa jurídica, parte na causa.
Parágrafo único. No caso do nº IV, o impedimento só se
verifica quando o advogado já estava exercendo o
patrocínio da causa; é, porém vedado ao advogado
pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do juiz.
Por sua vez, o artigo 136 do mesmo diploma legal dispõe:
Art. 136. Quando dois ou mais juízes forem parentes,
consangüíneos ou afins, em linha reta e no segundo grau na
linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa no
tribunal, impede que o outro participe do julgamento; caso
em que o segundo se escusará, remetendo o processo ao
seu substituto legal.
A segunda causa geradora de imparcialidade é a
suspeição de parcialidade.
Silva15 leciona que:
Em sentido do Direito Processual, a suspensão envolve,
naturalmente, a suspeita da parcialidade, em virtude do
que, não somente o Juiz, como qualquer outro funcionário
da Justiça, ou o próprio MP, é tido, ou, é temido como
15 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 788.

8
parcial, ou capaz de ser influenciado a agir de uma certa
forma, em detrimento de uma das partes.
A suspeição do Juiz funda-se, em primeiro lugar, se este
for amigo íntimo de ou inimigo declarado de uma das partes, bem como,
quando ligado direta ou indiretamente a qualquer das partes por interesse
ou afeição (Código de Processo Civil, art. 135).
Em se tratando de imparcialidade do Juiz, Cintra,
Grinover e Dinamarco16, por sua vez, asseveram que:
[...] a imparcialidade do Juiz é uma garantia de justiça para
as partes. Por isso, têm elas o direito de exigir um Juiz
imparcial: e o Estado, que reservou para si o exercício da
função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir
com imparcialidade na solução das causas que lhe são
submetidas.
Desta maneira, é válida à ambas partes do processo,
quando uma delas possuir certa amizade e intimidade com o julgador e
este não declarar ex officio, agüir a suspeição, e, conseqüentemente, a
recusa de audiências, haja vista a proximidade entre o Juiz e a parte.
1.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE
O princípio da igualdade, também conhecido como
princípio da isonomia, está consagrado no artigo 5º, caput, da
Constituição de 1988, onde se tem que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza.
Ichihara17 leciona que:
16 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 52.
17 ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário, p. 61.

9
Essa igualdade não quer significar a igualdade de fato, mas
a igualdade jurídica, no sentido da notória afirmação de
Aristóteles de que “a igualdade consiste em tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”.
A lei não pode conceder tratamento específico
vantajoso ou desvantajoso, em atenção a traços e circunstâncias
peculiares de uma categoria de indivíduos se não houver adequação
racional entre o elemento diferencial e o regime dispensado aos que se
inserem na categoria diferenciada.
Em matéria, a isonomia, ressurge no artigo 150, inciso II,
da CRFB/8818:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
Ressalta-se que: aquele de desrespeitar este princípio,
estará desrespeitando uma elementar diretriz constitucional.
O princípio da igualdade também está presente no
artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil, onde está proclamado
que o juiz deve “assegurar às partes igualdade de tratamento”.
18 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988).

10
Note-se que, independentemente de quem seja,
exeqüente ou executado, requerente ou requerido, acusado ou vítima,
cabe ao Juiz aplicar o princípio da igualdade.
No ensinamento de Cintra, Grinover e Dinamarco19:
A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a
desigualdade econômica; por isso, do primitivo conceito de
igualdade, formal e negativa (a lei não deve estabelecer
qualquer diferença entre os indivíduos), clamou-se pela
passagem à igualdade substancial. E hoje, na
conceituação positiva da isonomia (iguais oportunidades
para todos, a serem propiciadas pelo Estado), realça-se o
conceito realista, que pugna pela igualdade proporcional,
a qual significa, em síntese, tratamento igual aos
substancialmente iguais.
Cabe ressaltar que, no âmbito processual civil, existem
prerrogativas, como, por exemplo, as concedidas à Fazenda Pública e ao
Ministério Público (Código de Processo Civil, art. 18820) e também quando
os litisconsortes têm procuradores diferentes, pois têm o prazo em
quádruplo para contestar, recorrer e falar nos autos (Código de Processo
Civil, art. 19121).
1.4 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Este princípio consiste na igualdade de oportunidade
de manifestação das partes em quaisquer atos processuais.
19 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 53-54.
20 Art. 188 - Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou Ministério Público.
I - em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e
II - em quádruplo para contestar.
21 Art. 191 - Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.

11
Ninguém será condenado, judicial ou
administrativamente, sem que lhe seja concedido o direito à defesa. A
todos é garantido o contraditório e a ampla defesa.
Assim dispõe o artigo 5º, inciso LV, da CRFB/8822:
Art. 5º [...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Para Nelson Nery Júnior23:
[...] o princípio do contraditório, além de fundamentalmente
constituir-se em manifestação do princípio do estado de
direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e
do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir
aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer
significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de
defesa, são manifestações do princípio do contraditório.
Schlichting24 leciona que este princípio:
[...] não admite exceções, mesmo nos casos de tutelas
cautelares de urgência e nos casos excepcionais em que o
Juiz provê, inaudita altera pars, a tutela requerida.
Alvim25 ressalta que “a importância histórica do
princípio do contraditório está em que, apesar das alterações sofridas no
curso da evolução da humanidade, restou como direito impostergável a
exigência de citação, para a validade do processo”.
22 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988).
23 JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do processo civil na constituição, p. 128.
24 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 54.
25 ALVIM, Arruda. Tratado de direito processual civil, p. 85.

12
Importante ressaltar que o princípio do contraditório
também indica a atuação de uma garantia fundamental de justiça:
absolutamente inseparável da distribuição da justiça organizada, o
princípio da audiência bilateral encontra expressão no brocardo romano
audiatur et altera par: Que a parte contrária seja também ouvida. Ele é
tão intimamente ligado ao exercício do poder, sempre influente sobre a
esfera jurídica das pessoas, que a doutrina moderna o considera inerente
mesmo à própria noção de processo.
1.5 PRINCÍPIO DA AÇÃO
Princípio da ação, ou princípio da demanda, indica a
atribuição à parte da iniciativa de provocar o exercício da função
jurisdicional, ou seja, quando se tem um direito ameaçado, violado ou até
mesmo permitido pela lei, é restabelecido, garantido ou concedido
através da respectiva ação judicial.
Pistori26 aduz que:
A tal princípio é refutável a jurisdição condicionada, pois o
esgotamento das vias administrativas antes de utilizar o
direito de ação e seu princípio corresponde a uma
frustração de um direito político relativo à cidadania, que
não pode se sujeitar ao trâmite burocrático do Estado,
ainda mais quando o próprio Estado vem a ser parte como
demandado.
Cintra, Grinover e Dinamarco27 denominam que ação
é “o direito (ou poder) de ativar os órgãos jurisdicionais, visando à
satisfação de uma pretensão, tendo em conta que a jurisdição é inerte e,
26 PISTORI, Gerson Lacerda. Os princípios do processo – os princípios orientadores, p. 116.
27 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 57-58.

13
para sua movimentação, exige a provocação do interessado. É a isto que
se denomina princípio da ação: nemo iudex sine actore”.
Para Schlichting28:
[...] nenhum Juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando
à parte a requerer, nos casos e formas legais, os mesmos
ficam impedidos de agir, de ofício, sem o requerimento da
respectiva tutela de parte do agente pretensor à mesma.
De maneira mais clara e sucinta, o princípio da ação
judicial.
1.6 PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE E DA INDISPONIBILIDADE
Referido Princípio está configurado pela possibilidade
ou não de ingressar em juízo.
Desta maneira, combinado com outros princípios, se
uma pessoa não tem, por exemplo, a legitimidade ou causa de pedir, esta
pessoa não está apta para ingressar em juízo pretendendo algo como
ressarcimento, ou seja, está sob o princípio da indisponibilidade, caso
contrário, o princípio seria o da disponibilidade.
Para Silva29:
[...] indica, no conceito de Direito Civil, a qualidade daquilo
que se pode dispor, em virtude do que se diz que é
alienável. Neste sentido, até, confunde-se com a própria
faculdade de dispor derivada da capacidade ou poder de
alienar.
Na lição de Schlichting30:
28 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 45.
29 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p.280.

14
O princípio da disponibilidade, característico do Direito
Processual Civil, está ligado diretamente ao direito de ação
e consiste na prerrogativa, no poder de liberdade que as
pessoas têm de exercer ou não os seus direitos, podendo ou
não apresentar suas lides em juízo, no todo ou em parte.
Neste mesmo sentido, é o ensinamento de Pistori31:
Quanto ao princípio da disponibilidade e sua aplicação no
âmbito processual civil, cabe destacar que, no processo do
trabalho, ainda que haja uma natureza privatista nas
relações de emprego, essas estão sob esferas de influência
comunitária ou coletiva, quando não sob a esfera de
domínio tutelar do Estado.
Ainda que abra mão de seu direito processual, o
agente possuidor do interesse e da legitimidade ainda mantém vivo e
consigo o direito material que ensejaria a ação. Assim, pode este agente,
enquanto não decaído ou prescrito tal direito, utilizá-lo.
No que concerne à indisponibilidade, registra Silva32:
Ao contrário de disponibilidade, em sentido vulgar,
entende-se que a qualidade do que não se pode dispor,
ou porque faça falta, ou porque se mostre necessário. [...]
Em se tratando de processo criminal, prevalece o
princípio da indisponibilidade, haja vista o interesse coletivo e o dano
muitas vezes irreparável relativo ao crime cometido.
30 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 59.
31 PISTORI, Gerson Lacerda. Os princípios do processo – os princípios orientadores, p. 117.
32 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 426.

15
1.7 PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DA LIVRE INVESTIGAÇÃO DAS PROVAS –
VERDADE FORMAL E VERDADE REAL
Este princípio é característico no âmbito processual
penal, haja vista estar ligado diretamente à coleta de provas e sua
apreciação no que concerne à instrução processual.
Assim está disposto no artigo 386 do código de
Processo Penal, in verbis:
Art. 386. O Juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[...]
II – Não haver prova da existência do fato;
Na esfera processual civil, Cintra, Grinover e
Dinamarco33 sustentam que:
[...] o princípio dispositivo consiste na regra de que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes
quanto às provas e às alegações em que se fundamentará
a decisão: iudex secundum allegata et probata partium
iudicare debet.
Relatam os mesmos autores, ainda, que:
[...] no campo do processo civil, embora o Juiz hoje não
mais se limite a assistir inerte à produção das provas, pois em
princípio pode e deve assumir a iniciativa destas (CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, arts. 130, 341, etc), na maioria dos casos
(direitos disponíveis) pode satisfazer-se com a verdade
formal, limitando-se a acolher o que as partes levam ao
33 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 64.

16
processo e eventualmente rejeitando a demanda ou a
defesa por falta de elementos probatórios34.
Segundo Schlichting35 :
Cabe às partes provar aquilo que alegam, devido à
disponibilidade do bem, e conseqüentemente, o direito de
abrir mão da utilização de determinada prova, ainda que
importante, considerando o princípio dispositivo.
Imprescindível ressaltar que mesmo quando no
processo civil, se confiava exclusivamente no interesse das partes para o
descobrimento da verdade, tal critério não poderia ser seguido nos casos
em que o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia privada.
1.8 PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL
Sabe-se que o processo civil começa por iniciativa das
partes, mas se desenvolve por impulso oficial, competindo ao Juiz velar
pela rápida solução do litígio.
Assim, o princípio do impulso oficial é aquele pelo qual
compete ao Juiz, uma vez instaurada a relação processual, mover o
procedimento de fase em fase, até extinguir a função jurisdicional.
Para Pistori36:
Trata-se de um princípio do direito processual, mas
relaciona-se intimamente com o procedimento, sendo que
garante a continuidade dos atos procedimentais e o
caminho à decisão definitiva.
34 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 65.
35 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva e atua. Livro 1, p. 59.
36 PISTORI, Gerson Lacerda. Os princípios do processo – os princípios orientadores, p. 119.

17
Ribeiro e Ferreira37 ensinam que:
Todavia, uma vez ativada a máquina judicial, com a
propositura da ação, insta que o processo atinja, o mais
rapidamente possível, o momento da entrega da prestação
jurisdicional, com o julgamento da lide. Não interessa ao
Estado que os cartórios fiquem abarrotados de processos
pendentes de decisão.
Destarte, seja de interesse direto das partes a rápida
solução do conflito de interesses, o nosso Direito Processual Civil Brasileiro
delega ao Juiz o poder de impulsão processual, mais precisamente
chamado de princípio do impulso oficial, devendo o mesmo obrar no
sentido de que o processo caminhe com mais celeridade.
Rodrigues38 aduz que:
[...] a celeridade é ponto nevrálgico e fundamental na
ciência processual civil moderna. Por isso, todos os
instrumentos idôneos que permitam o alcance da tutela
jurisdicional justa e célere devem ser utilizados. Ajudando a
compor tais instrumentos se encontra o princípio do impulso
oficial, cuja raiz histórica remonta à fase da cognitio extra
ordinem do direito romano.
Para finalizar, o impulso oficial inspira-se na idéia de
que o Estado tem interesse na rápida solução das causas.
1.9 PRINCÍPIO DA ORALIDADE
Trata-se de um princípio de suma importância para o
processo civil moderno, no qual cada vez mais se exige a celeridade na
entrega da tutela jurisdicional.
37 RIBEIRO, Pedro Barbosa; FERREIRA, Paula M. C. Ribeiro. Curso de direito processual civil: processo de conhecimento, p. 38.
38 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil, p.70.

18
Para Schlichting39, “o princípio da oralidade é o
princípio que proclama, juntamente com a matéria escrita, o uso da
palavra, pelas partes, para a defesa de seus direitos”.
Este princípio foi instituído em nosso ordenamento
jurídico de uma maneira quase plena nos procedimentos previstos na Lei
9.099/95, que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo artigo 2º
estabelece que os processos civil ou criminal, irão se orientar pelos critérios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual,
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação e a transação.
É raro o procedimento oral em sua forma pura,
ocorrendo mais comumente o chamado procedimento misto.
De um modo geral, a oralidade refere-se à forma de
expressão dos atos processuais. Neste sentido, significa que os atos
processuais se desenvolvem conforme a um sistema predominantemente
oral.
Rocha40 ensina que, da oralidade, derivam os
seguintes sub-princípios:
CONCENTRAÇÃO: É decorrência lógica do sistema oral.
Com efeito, se a atividade processual desenvolve-se
oralmente, é necessário que os atos que a compõem
realizem-se em uma ou em poucas audiências próximas,
para que não desapareçam da memória do Juiz.
IMEDIAÇÃO: É outra decorrência do sistema oral. Traduz-se
na necessidade de o Juiz manter relação direta e imediata
com os meios de prova e com o material fático em geral.
39 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 51-52.
40 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo, p. 52.

19
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: Se as provas são produzidas
oralmente, só o Juiz que assistiu o debate está em
condições de tomar a decisão.
PUBLICIDADE: É exigência do Estado democrático fundado
na soberania popular, ao qual deve conformar-se a
atividade jurisdicional desenvolvida pelo Judiciário. A
publicidade tem duas direções: a) destina-se às partes; b)
destina-se ao público. Só esta última pode ser limitada por
interesse público(CF, art. 93, IX41).
Para Ribeiro42, o princípio da oralidade é “mais
precisamente um sistema, posto que compreende vários sub-princípios.
Quando se teceram comentários sobre o procedimento, viu-se que, entre
outras espécies, ele pode ser escrito ou oral. Este se caracteriza pela forma
falada dos atos processuais. Aquele, pela predominância da palavra
escrita”.
Nesse mesmo sentido, colhe-se de PISTORI43:
Trata-se, portanto, de um princípio de cunho procedimental
que vem sendo ampliado em nosso país, principalmente a
partir do final dos anos oitenta, quando se foi entronizando
de forma elástica em nosso ordenamento a concepção
instrumentalista do processo e a importância do acesso à
justiça. Os Juizados Especiais, sucessores dos denominados
de pequenas causas, possuem em seu bojo toda uma
sistemática oralizante, a par da antiga (e moderna)
Consolidação das Leis do Trabalho.
41 CRFB/88 - Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;
42 RIBEIRO, Pedro Barbosa; FERREIRA, Paula M. C. Ribeiro. Curso de direito processual civil: processo de conhecimento, p. 37.
43 PISTORI, Gerson Lacerda. Os princípios do processo – os princípios orientadores, p. 122.

20
Encerrando, não há um sistema oral absoluto em que
todos os atos processuais sejam exclusivamente orais, bem como inexiste
um sistema rigidamente escrito.
1.10 PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ
Após a fase instrutória e os debates, em regra, o Juiz irá
julgar a lide. Ao fazê-lo, procede a um exame minucioso da matéria
contida nos autos, dando atenção especial às provas, a fim de formar o
seu convencimento.
Sobre a livre apreciação das provas, assim dispõe o
Código de Processo Civil:
Art. 131 - O juiz apreciará livremente a prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
Schlichting44 aduz que este princípio “indica que o Juiz
deve convencer-se racionalmente, formando livremente sua convicção
após apreciar os fatos e provas constantes dos autos”.
Para Cintra, Grinover e Dinamarco45:
Tal princípio regula a apreciação e a avaliação das provas
existentes nos autos, indicando que o Juiz deve formar
livremente sua convicção. Entre o sistema da prova legal e
o do julgamento secundum conscientiam.
Cabe aqui esclarecer que prova legal é quando o Juiz
dá às provas o valor que lhe for atribuído. É um sistema de provas
tarifadas. 44 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 55.
45 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 67.

21
Schlichting46, por sua vez, completa que as provas:
[...] são meios produtores da certeza jurídica, e, no aspecto
subjetivo, representam a própria convicção que se forma no
espírito do julgador a respeito da existência ou inexistência
de fatos alegados no processo.
Relacionado às provas, há três condutas do Julgador
quanto à valoração: A primeira consiste em tarifar as provas. O Julgador
impõe e edita regras estabelecendo uma espécie de tarifa às mesmas; o
segundo consiste em atribuir ao Juiz o poder de valorizar as provas
existentes nos autos de acordo com o seu livre conhecimento; o terceiro e
último modelo consiste em atribuir ao Juiz o poder da livre convicção,
seguindo o que diz sua consciência. Assim. Este decide e julga a lide por
livre convicção, sem que esta decisão esteja vinculada aos elementos
probatórios trazidos aos autos para discussão.
1.11 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
A motivação ou a fundamentação das decisões
judiciais faz mostrar o prisma pelo qual o órgão jurisdicional capta os fatos
e interpreta o direito, havendo uma pré-demonstração racional do Juiz
para si e depois de si para as partes. Ou seja, se a decisão não estiver bem
fundamentada, ficará obscura, onde, posteriormente, os advogados das
partes poderão recorrer da mesma, suscitando sua total reforma ou
apenas esclarecimentos acerca da mesma (como é o caso dos
embargos declaratórios).
Marques47 declara que:
[...] a primeira tarefa da decisão é estabelecer os
fundamentos do juízo que vai pronunciar. Aí o Juiz examina
as questões de fato e de direito e constrói as bases lógicas 46 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria Geral do Processo: Concreta, Objetiva. Livro 1, p. 57.
47 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil, p. 466.

22
da parte decisória da sentença, tratando-se de “operação
delicada e complexa, em que o Juiz fixa as premissas da
decisão, após laborioso exame das alegações relevantes
que as partes formularam, bem como o enquadramento do
litígio das normas legais aplicáveis.
Cintra, Grinover e Dinamarco48 versam o seguinte:
Mais modernamente, foi sendo salientada a função política
da motivação das decisões judiciais, cujos destinatários não
são apenas as partes e o Juiz competente para julgar
eventual recurso, mas quisquis de populo, com a finalidade
de aferir-se em concreto a imparcialidade do Juiz e a
legalidade e justiça das decisões.
Ao proferir sua decisão, o julgador deve ter convicção
no que está transmitindo às partes. Caso este não tenha certo poder de
raciocínio lógico, poderá dar outro sentido à sua decisão.
Neste sentido, o Código de Processo Civil Brasileiro, em
seu art. 458, I, é claro:
Art. 458 - São requisitos essenciais da sentença:
[...]
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
Finalizando, a decisão deve obedecer este princípio
por estar alicerçada e amparada pelo texto constitucional brasileiro. Caso
contrário, redunda em pena de nulidade à decisão correspondente.
Assim, se a decisão não obedecer referido princípio,
existe a possibilidade de sua impugnação para que seja efetuada a sua
reforma.
48 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 68.

23
1.12 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
O princípio dos atos processuais está sob o alicerce do
disposto no art. 155 do Código de Processo Civil, in verbis: “Os atos
processuais são públicos [...]”.
A CRFB/88, em seu art. 5º, inciso LX, ressalta que “a lei
só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem”.
O mesmo diploma legal, em seu artigo 37, nos traz:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (redação E.C. nº 19, de
04.06.98.)
[...]
Ainda estabelece a CRFB/88, em seu art. 93, inciso IX:
Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o
exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes;
Imprescindível ressaltar que a matéria relativa ao
princípio da publicidade está proclamada pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH) em seu 10º artigo.

24
Pistori49 assevera que o “princípio da publicidade
relaciona-se com a garantia política, não com o sensacionalismo ou a
violação da vida íntima do cidadão, razão por que a legislação adota
exceções a fim de que não seja exposta der forma tortuosa a
respeitabilidade e a dignidade da pessoa humana”.
Ribeiro50 e Ferreira preceituam que o princípio da
publicidade consiste:
[...] no aforisma de que os atos processuais são públicos por
excelência. Nem poderia ser de outra forma. O Estado, no
seu mister de distribuir justiça, através de seus órgãos
próprios – Juízes e Tribunais – exercita uma função estatal,
pública, no interesse de toda a coletividade.
Este princípio possui algumas restrições. Prescreve o art.
155, incisos I e II do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
Art. 155 - Os atos processuais são públicos. Correm, todavia,
em segredo de justiça os processos:
I - em que o exigir o interesse público;
II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos
cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda
de menores.
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir
certidões de seus atos é restrito às partes e a seus
procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico,
pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença,
bem como de inventário e partilha resultante do desquite.
49 PISTORI, Gerson Lacerda. Os princípios do processo – os princípios orientadores, p. 126.
50 RIBEIRO, Pedro Barbosa; FERREIRA, Paula M. C. Ribeiro. Curso de direito processual civil: processo de conhecimento, p. 26.

25
O inciso I trata que o próprio interesse da coletividade
é a causa determinante da quebra do princípio ora explanado. O
segundo caso, são situações onde está envolvido algo que diz respeito
apenas à família, onde apenas as partes possuem a necessidade de
analisar a matéria dos fatos controvertidos. Neste último caso, as
audiências ocorrem à portas fechadas, sendo restrito o manuseio dos
autos apenas às partes envolvidas e procuradores legalmente
estabelecidos.
Para Rodrigues51:
[...] o processo é o instrumento utilizado pela jurisdição para
que esta possa se fazer presente, então todos os atos
devem ser públicos, já que a jurisdição nada precisa
esconder.
Enfim, todos têm o direito da publicidade de qualquer
ato processual, como garantia da imparcialidade e, também, como
garantia de conhecimento dos referidos atos processuais.
1.13 PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL
Este princípio versa sobre a veracidade dos fatos
trazidos à discussão. Ambas as partes devem, sempre, expor a verdade. Se
fatos inverídicos e inúteis forem juntados aos autos, aquele que os trouxer
estará sujeito a determinadas sanções processuais.
Este princípio deve ser seguido não apenas pelas
partes envolvidas, mas por todos os participantes do processo.
Schlichting52 relata que:
51 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil, p.112.
52 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 50.

26
[...] os deveres de moralidade e probidade devem
estender-se a todos os participantes do processo: juízes,
auxiliares da justiça, membros do Ministério Público ou os
advogados das partes. A Legislação prevê dispositivos
instando a boa-fé. A lealdade, a verdade e impondo
sanções no caso de sua não observância.
Neste sentido, Cintra, Grinover e Dinamarco53 lecionam
que: “o desrespeito ao dever de lealdade processual traduz-se em ilícito
processual (compreendendo o dolo e a fraude processuais), ao qual
correspondem sanções processuais”.
O princípio da lealdade pode ser perfeitamente
identificado no Código de Processo Civil, em seu artigo 14. Estabelece que
compete às partes e aos seus procuradores: I - expor os fatos em juízo
conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; III - não
formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de
fundamento; IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou defesa do direito; V - cumprir com
exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à
efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
Arruda Alvim54 leciona que:
Tal princípio estabelece o dever, para os litigantes, de não
alterarem intencionalmente a verdade, punindo-se o
propósito de enganar, a mentira decorrente da vontade de
prejudicar, no âmbito do processo.
Como bem adverte Rodrigues, o princípio da boa-fé e
lealdade processual (probidade entre as partes), se não atendido,
“ofende não só a parte contrária na relação jurídica processual, mas,
53 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 71.
54 ALVIM, Arruda. Tratado de direito processual, p. 99.

27
ainda, espraia seus efeitos contra o próprio Estado que procura entregar
de maneira justa a tutela jurisdicional55”.
1.14 PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DO
PROCESSO
Quando uma pessoa for exeqüente ou executado em
mais de um processo e, se estes processos possuírem identidades iguais,
pode o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a reunião
destes autos, o que, na linguagem jurídica, é chamado de
apensamento56.
Com isso, o processo ganha uma maior celeridade,
haja vista a obtenção de um maior rendimento com um mínimo de
atividade jurisdicional, além do que Julgador não corre o risco de prolatar
decisões conflitantes entre os autos. Uma decisão cabe para todos os
processos, independentemente a quantidade apensada.
Basicamente, o princípio da economia processual se
expressa pelo interesse do legislador em que, no mínimo de tempo,
consiga o máximo de rendimento processual com o mínimo de custas,
para que o processo seja menos oneroso. Por exemplo, o julgamento
antecipado da lide.
Cintra, Grinover e Dinamarco57 esclarecem que:
Típica aplicação desse princípio encontra-se em institutos
como a reunião de processos em casos de conexidade ou
continência (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, art. 105), a
55 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil, p.70.
56 Apensamento: “Neologismo formado de apensar (de appendere – suspender, dependurar), para significar o ato pelo qual se anexa um processo aos autos de outra ação ou demanda, que com ele tem relação, por determinação legal ou a pedido de uma das partes”. (SILVA, de Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 70).
57 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, p. 72.

28
própria reconvenção, ação declaratória incidente,
litisconsórcio, etc.
O exercício da atividade jurisdicional, sendo um serviço
público prestado pelo Estado, gera determinados valores a serem pagos
por quem dele se utilizam, valores estes chamados custas judiciais, que
podem ser iniciais, intermediárias e finais. O princípio da economia
processual está diretamente ligado a estes valores.
No que concerne ao princípio da instrumentalidade do
processo, Schlichting58 aduz que:
O Princípio da Instrumentalidade estabelece o processo
judicial como instrumento, como um veículo para
composição da lide, através do qual a ordem jurídica
outorga o direito de ação, ou seja, o direito de pleitear em
juízo a reparação das violações dos direitos.
Este princípio, como uma espécie de regulador de
invalidades do processo civil, está previsto no art. 250 do aludido Diploma
legal: “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos
atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem
necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições
legais”.
No próximo capítulo deste trabalho será mostrado que
o processo se apresenta como um instrumento de solução de conflitos
onde, através de todos os atos e peças processuais que o compõe,
permite ao Juiz, através do estudo de toda a matéria e, com base nos
princípios do contraditório e da ampla defesa (princípios já abordados),
comparar as alegações efetuadas pelo autor e a defesa argüida pelo
defensor do réu.
58 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 1, p. 58.

29
CAPÍTULO 2
NOTAS INTRODUTÓRIAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE
EXECUÇÃO
2.1 DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO DE CONHECIMENTO E PROCESSO DE
EXECUÇÃO
Inicialmente, cabe definir o que significa, o que é um
processo. Santos59 define processo como sendo “o meio pelo qual a
jurisdição atua e a tutela jurisdicional é prestada nos seus fins específicos,
tal seja o pedido de quem a requerer”.
No ordenamento jurídico brasileiro existem três tipos
distintos de ritos processuais: processo de cognição (cognitivo ou de
conhecimento), processo de execução e o processo cautelar. Neste
capítulo serão abordados apenas os processos cognitivo e de execução.
O processo cognitivo, ou de conhecimento, é,
particularmente, intelectual. Corresponde propriamente ao conteúdo da
demanda. Nesta fase, o juiz analisa todos os fatos trazidos a juízo para
que, através destes fatos, ele possa definir qual a norma que está
incidindo no caso apresentado. Em resumo, o processo de conhecimento
serve para que o juiz examine a lide e para que possa descobrir e formular
uma regra jurídica concreta que deve regular o caso em questão.
59 SANTOS, Ernani Fidélis dos. Manual de direito processual civil - Volume 2, p.34.

30
Dower60 assevera que “no processo de conhecimento,
o juiz toma conhecimento da pretensão das partes através de suas
alegações e provas e, apoiado nesses elementos, decide a demanda”.
Wambier61 aduz que:
O processo de conhecimento é aquele em que a parte
realiza afirmação do direito, demonstrando sua pretensão
de vê-lo reconhecido pelo Poder Judiciário, mediante a
formulação de um pedido, cuja solução será ou no sentido
positivo ou no sentido negativo, conforme esse pleito da
parte seja resolvido por sentença de procedência ou de
improcedência.
Para Ferreira62, “o processo de conhecimento, também
chamado processo de cognição, pelo qual o autor requer ao magistrado
lhe reconheça o direito”.
Theodoro Júnior63 ensina que a função do processo
cognitivo é a “de verificar a efetiva situação jurídica das partes”.
No processo cognitivo, os sujeitos do processo podem
efetuar a ampla realização de provas em direito admitidas. Estas voltadas
a demonstrar a existência de seus direitos ou até mesmo fato que os
impeça, modifique ou até mesmo os extinga.
Nunes64 assevera que:
Geralmente, o processo ou a relação processual dele
decorrente forma-se, desenvolve-se e extingue-se com o
60 DOWER, Nélson Godoy Bassil. Curso básico de direito processual civil – 2º volume –
(Processo de conhecimento), p. 02.
61 WAMBIER, Luiz Rodriguez; ALMEIDA, Flavio Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil – Volume 1 – Teoria geral de processo e processo de conhecimento, p. 114-115.
62 FERREIRA, Pinto. Curso de direito processual civil, p. 20.
63 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar, p. 38.
64 NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil, p.153-154.

31
atingimento de seu objetivo: a composição do litígio.
Através da petição inicial, o autor provoca a jurisdição. Esta,
por sua vez, verificando ser idôneo o meio utilizado para
provocá-la e presentes certos requisitos, determina a
citação do réu. O réu, a seu turno, apresenta defesa.
Ultrapassada esta fase de apresentação dos fatos pelas
partes, passa-se à coleta de provas e, em seguida, o juiz,
conhecendo os dois aspectos do litígio (do autor e réu),
profere a decisão.
Para o processo de cognição, a sentença prolatada
significa um “ponto final”. Nesta, o juiz pode acolher os pedidos
formulados pelo autor ou rejeitar a sua pretensão. Assim, o magistrado
pode ou não condenar o réu ao cumprimento de determinada prestação
de ressarcimento.
Cabe aqui ressaltar que, se em uma audiência, houver
conciliação entre as partes, o julgador deverá homologá-la através de
sua sentença.
O processo de conhecimento possui alguns princípios que o
regem em 1º grau. Dentre eles cabe destacar:
Princípio da iniciativa da parte: o órgão jurisdicional só pode exercer suas atividades quando provocado. Esta provocação ocorre por meio da interposição da demanda;
Princípio do contraditório: com a propositura da demanda, o autor fará (formulará) o seu pedido, e assim sendo, irá abrir prazo para o réu defender-se das alegações do autor;
Princípio do livre convencimento do juízo: para que possa decidir de forma justa e perfeita, cabe ao julgador, através de sua função jurisdicional, estudar todas as provas trazidas por ambas às partes ao processo. Com esse estudo aprofundado, certamente a decisão será a mais justa possível.
No processo de conhecimento têm-se, em seu
procedimento, três fases:

32
A primeira delas é a fase postulatória, onde o autor
formula o seu pedido e o réu, por sua vez, o contesta. Esta fase é também
conhecida como fase saneadora e está claramente demarcada pela
petição inicial e a resposta do réu.
Já a fase instrutória é o momento em que ambas as
partes irão produzir suas provas. Com estas, irão tentar formar o livre
convencimento do juiz. Esta fase é bem diferenciada das demais, sendo
que pode ser verificada quando existe a necessidade de prova pericial.
Ressalta-se que pode também estar inserida em outras fases
procedimentais.
Por fim, a fase decisória nada mais é do que a fase em
que o juiz irá se pronunciar com relação às provas trazidas aos autos.
Para finalizar, o processo de conhecimento tem por
objetivo a obtenção de uma sentença que declare uma pretensão ou
componha uma situação posta em juízo.
Diferente do processo de conhecimento, o processo
de execução busca o cumprimento da ordem emanada através da
sentença de mérito obtida no processo de conhecimento, título executivo
judicial, ou mesmo de um título executivo extrajudicial, ou seja, de um
título ao qual a própria lei atribui a eficácia executiva (arts. 58065 e 58366,
do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
Assim dispõe o art. 585 do Código de Processo Civil:
Art. 585 - São títulos executivos extrajudiciais:
65 Art. 580 - Verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover
execução. Parágrafo único. Considera-se inadimplente o devedor, que não satisfaz, espontaneamente o direito reconhecido pela sentença, ou a obrigação, a que lei atribuir a eficácia do título executivo.
66 Art. 583 - Toda execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial.

33
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a
debênture e o cheque;
II - a escritura pública ou outro documento público assinado
pelo devedor; o documento particular assinado pelo
devedor e por duas testemunhas; o instrumento de
transação referendado pelo Ministério Público, pela
Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores; (**
Redação dada aos incisos I e II pela Lei nº 8.953, de
13.12.94)
III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de
caução, bem como de seguro de vida e de acidentes
pessoais de que resulte morte ou incapacidade;
IV - o crédito decorrente do foro, laudêmio, aluguel ou
renda de imóvel, bem como encargo de condomínio,
desde que comprovado por contrato escrito;
V - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de
intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos
ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
VI - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União,
Estado, Distrito Federal, Território e Município,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
VII - todos os demais títulos, a que, por disposição expressa,
a lei atribuir força executiva.
Parágrafo primeiro - A propositura de qualquer ação relativa
ao débito constante do título executivo não inibe o credor
de promover-lhe a execução.
Parágrafo segundo - Não dependem de homologação pelo
Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos
executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O
título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos
requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua
celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento
da obrigação.

34
Assim, o processo de execução somente pode ser
utilizado quando exista um credor que, em posse de um título judicial ou
extrajudicial, pretende ter seu direito reparado. Por isso busca, através da
atividade jurisdicional, a liquidação da sentença ou do título extra judicial.
Theodoro Júnior67 é categórico:
Atua o Estado, na execução, como substituto, promovendo
uma atividade que competia ao devedor exercer: a
satisfação da prestação a que tem direito o credor.
Somente quando o devedor não cumpre voluntariamente a
obrigação é que tem lugar a intervenção do órgão judicial
executivo. Daí a denominação de “execução forçada”,
adotada pelo Código de Processo Civil, no art. 56668, à qual
se contrapõe a idéia de execução “voluntária” ou
“cumprimento” da prestação, que vem a ser o
adimplemento.
Para Schlichting69:
[...] a Sociedade, através do Poder Legislativo, com a
finalidade de impor ao exeqüido o comando emanado de
um título executivo (judicial ou extrajudicial), excutindo seus
bens, se necessário, posto não haver o mesmo cumprido
espontaneamente tal comando, normatizou uma ação
própria, regida por processo próprio, chamada de ação de
execução.
Assim, o credor, munido de um título líquido, certo e
exigível, possui o direito de receber ou fazer o devedor cumprir a decisão
emanada em juízo e, a ele cabe promover a ação de execução.
Versando sobre esta matéria, Haeser70 assevera que:
67 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Volume 2, p. 05.
68 Art. 566 - Podem promover a execução forçada: I - o credor a quem a lei confere título executivo; II - o Ministério Público, nos casos prescritos em lei.
69 SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria geral do processo: concreta, objetiva, atual. Livro 2, p. 32.

35
Sem título executivo líquido, certo e exigível não há
possibilidade de execução válida. Trata-se de condição da
própria execução, o que deve ser verificado de ofício pelo
Juiz quando do recebimento da petição inicial, indeferindo-
a.
De Humberto Theodoro Júnior71 colhe-se que a função
do processo de execução é “a de realizar efetivamente a situação
jurídica apurada”.
No processo executivo o pedido consiste em um
credor buscar, junto ao Estado, uma prestação jurisdicional que lhe
assegure o cumprimento de obrigações assumidas através de um título
extrajudicial ou judicial (sentença condenatória), mediante a realização
de atos próprios da execução forçada contra o respectivo devedor.
Nunes72 assevera que:
[...] acertado o direito através do processo de
conhecimento e não cumprindo o devedor
voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta na
sentença, abre ao credor a possibilidade de novamente
acionar a jurisdição. Agora não mais para definir o direito,
mas sim para satisfazê-lo, para substituir forçadamente op
devedor que inadimpliu a obrigação.
Sempre que houver uma sentença condenatória
proferida no processo de conhecimento, ou qualquer outro título que
tenha força executiva, o credor deve sempre utilizar o processo de
execução, haja vista o pressuposto deste tipo de processo é sempre o
título executivo, seja este judicial ou extrajudicial.
70 HAESER, Moacir Leopoldo. Do cabimento da exceção de pré-executividade.
Disponível: http://www.enap.com.br/emp5136.htp. Acessado e capturado em 19/09/2005.
71 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar, p. 38.
72 NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil, p.382.

36
Imprescindível ressaltar que a presença do título
executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, é regra sine qua non para que
o processo tenha validade. Assim, o título é pressuposto vital para o
processo executório pois, nulla executio sine titulo: nula é a execução sem
título.
No entendimento de Dower73:
O processo de execução destina-se, portanto, a fazer
cumprir a sentença condenatória proferida no processo de
conhecimento, ou satisfazer o crédito advindo dos títulos
extrajudiciais.
Para Wambier74:
Além de servir de meio para a efetivação do provimento
jurisdicional contido na sentença proferida no processo de
conhecimento de natureza condenatória, o processo de
execução também serve para, com os mesmos meios
executórios, atuar concretamente comandos existentes em
documentos firmados entre as partes, aos quais a lei confere
a mesma força executiva atribuída à sentença
condenatória.
Para finalizar, cabe aqui ressaltar que a finalidade do
processo de execução pode ser resumida em determinar o cumprimento
de um direito reconhecido na sentença judicial do processo de
conhecimento, que constitui um título judicial ou qualquer título
extrajudicial com força executiva.
73 DOWER, Nélson Godoy Bassil. Curso básico de direito processual civil – 2º volume –
(Processo de conhecimento), p. 03.
74 WAMBIER, Luiz Rodriguez; ALMEIDA, Flavio Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil – volume 1 – Teoria geral de processo e processo de
conhecimento, p. 116.

37
2.2 O CONTRADITÓRIO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
Após a sentença proferida no processo de
conhecimento, já se pressupõe a certeza do direito do credor (líquido,
certo e exigível) emanado através da referida sentença, ou até mesmo
pelas próprias partes, em título extrajudicial.
Um princípio que aqui deve ser destacado é o princípio
do devido processo legal, pois este princípio abrange e incorpora os
demais princípios, como o princípio do contraditório. Como já visto, este
princípio tem por finalidade garantir às partes litigantes um tratamento
jurisdicional de igual para igual, sem que haja beneficiamento ou
favorecimento para uma das partes.
Nas palavras de Nunes75:
O contraditório existente na execução é limitado, restringe-
se a aspectos da própria execução, como, por exemplo, o
valor dos bens penhorados, jamais ao direito
consubstanciado no título.
Assim, no processo de execução, o credor usufrui o seu
direito subjetivo à ação, não tendo a pretensão de obter o título judicial,
haja vista este já existir em face da sentença proferido no processo de
conhecimento, mas sim, para obter a satisfação do crédito (direito) já
definido.
Imprescindível ressaltar que a noção de execução
como processo sem contraditório, onde apenas o credor poderia
participar ativamente está totalmente superada.
Assim preceitua a CRFB/88 de 88 em seu art. 5°, inciso
LV, verbis:
75 NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil, p.447.

38
Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Destarte, qualquer das partes de um processo têm o
direito de se defender, de se fazer ouvir das alegações feitas em seu
desfavor, de alegar o seu direito em igualdade de condições.
Não obstante, o contraditório no processo de
execução é invocado, tradicionalmente, através da interposição de
embargos do devedor, sendo esta a forma regular de defesa prevista no
ordenamento jurídico, porém, não é a única forma de defesa. Tem-se
também a exceção de pré-executividade, que será objeto de análise no
3º capítulo.
2.3 DOS MEIOS DE DEFESA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
O principal meio defesa do devedor no processo de
execução, é os de embargos. O Código de Processo Civil brasileiro dispõe
que existem dois tipos de embargos oponíveis em processo de execução:
a) Embargos do devedor (Arts. 736 a 747) e;
b) Embargos de terceiro (Arts. 1.046 a 1.054).
Imprescindível ressaltar que os embargos do devedor
encontram-se subdivididos na seguinte maneira:

39
a) Embargos à execução de título judicial (arts. 741 a
743);
b) Embargos à execução de título extrajudicial (art.
745);
c) Embargos de retenção por benfeitoria (art. 744);
d) Embargos à arrematação e à adjudicação (art.
746).
Vale ressaltar que os embargos do devedor possuem
natureza de ação que, por sua vez, devem preencher determinados
requisitos para que sejam admissíveis. O primeiro requisito é a segurança
do juízo, nos termos do artigo 737 do Código de Processo Civil.
2.3.1 Dos Embargos do Devedor
O oferecimento dos embargos do devedor deverá, nos
termos do art. 738 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, serem oferecidos no
prazo de dez dias para todas as espécies de embargos, salvo os Embargos
à Execução Fiscal, que possui regramento próprio disposto na Lei 6830/80,
contemplando o prazo de 30 (trinta) dias para seu oferecimento.
Conforme leciona Greco Filho76:
Os embargos do devedor são o meio de defesa deste, com
a natureza jurídica de uma ação incidente que tem por
objeto desconstituir o título executivo ou declarar sua
nulidade ou inexistência. Como a execução, seja ela
fundada em título executivo judicial, seja em título
extrajudicial, é um conjunto de atos judiciais tendentes à
satisfação da obrigação contida no título, no processo de
expropriação de bens, entrega de coisa e outros não há
uma sentença que declare a existência da obrigação ou 76 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro: processo de execução e
procedimentos especiais, p. 108.

40
que condene o devedor. Com efeito, na execução
fundada em título executivo judicial tal decisão não teria o
menor sentido, porque a sentença sobre a obrigação
condenando o devedor já existiu e é exatamente o título;
na execução fundada em título extrajudicial, é a lei que
atribui força a determinados negócios jurídicos
documentados, permitindo a execução sem prévia
cognição prévia.
Marques77 ensina que
Os embargos são oferecidos quando levados pela parte ao
juiz, para despacho liminar, ou entregues em cartório pra
esse fim. O juiz receberá ou rejeitará liminarmente os
embargos – o que equivale, respectivamente, a despacho
liminar no positivo ou despacho liminar negativo. Os
embargos devem ser liminarmente rejeitados, quando
oferecidos fora do prazo legal – é o que diz o art. 739, I. De
outro lado, regula o art. 738 o prazo para oferecimento dos
embargos, prazo esse que é de dez dias, quaisquer que
sejam os embargos opostos, e que tem seu dies a quo
indicado nos incs. I a IV do citado art. 738.
Um aspecto importante a ser destacado é que os
embargos não podem ser oferecidos sem que não se garanta o juízo, quer
pela penhora de bens, quando se tratar de execução por quantia certa,
quer pelo depósito, quando da execução para a entrega de coisa (art.
737 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
Como dito, os embargos possuem natureza de ação e
tem por pressuposto imprescindível e óbvio, a existência e instauração de
um processo executório. Sem uma ação executória não se concebe falar
em embargos; caberá ao devedor, em casos tais, propor ação com vistas
a anular o título executivo judicial ou extrajudicial, propondo, por exemplo,
uma ação rescisória, nunca, entretanto, embargos do devedor.
77 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, p. 247.

41
Marques78 lembra que:
No que tange ao conteúdo da petição inicial do processo
de embargos, ainda dispõe o art. 739 (no inc. II) que serão
eles rejeitados “quando não se fundam em algum dos fatos
mencionados no art. 741” – artigo esse no qual vêm
discriminadas as alegações que o devedor pode apresentar
nos embargos, como causa petendi do desfazimento da
eficácia do título executivo ou anulação do processo da
execução forçada que foi instaurado. Tal exigência se
refere aos embargos contra a execução fundada em título
judicial; naquela fundada em título extrajudicial, direito terá
o embargante de alegar, “além das matérias previstas no
art. 741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir, como
defesa, no processo de conhecimento” (art. 745).
Segundo entendimento de Rodrigues79, ainda o
diploma processual civilista instituiu:
[...] os embargos à arrematação e os embargos à
adjudicação, que podem ter lugar na execução por
quantia certa, quer se trate de execução fundada em
sentença ou em título extrajudicial (promissória, cheque
etc.), capitulados no art. 746, dos embargos na execução
por carta do art. 747, que pode ter lugar numa ou noutra
execução (por sentença ou título extrajudicial), desde que a
penhora recaia em bens situados em outro foro (art. 658 do
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), usada a expressão
“embargos à penhora”, em contraposição aos embargos à
execução.
Não obstante às espécies de embargos anteriormente
apontados, a legislação processual civil ainda prevê os embargos de
retenção por benfeitorias, que somente podem ser opostos na execução.
Há também, os embargos suspensivos e não–suspensivos que visam
justamente surtir os efeitos de suspensão ou não da execução. 78 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, p. 248.
79 RODRIGUES, Maria Stella Villela Souto Lopes. ABC do processo civil: processo de conhecimento e processo de, p. 434.

42
Em ocorrendo o recebimento dos embargos propostos
pelo devedor haverá a suspensão do processo executivo, conforme
disposto no artigo 739, § 1º, que poderá ser parcial ou total. Em se
tratando dos embargos parciais, que contrapõem parte da dívida ou
defeito existente em parte do processo de execução, produzem efeitos
suspensivos somente em face à parcela impugnada; por outro lado, os
embargos totais, suspendem plenamente o processo de execução.
Cabe salientar que, se no processo executivo figurar
mais de um executado, os embargos que porventura vierem a ser
propostos por um deles com vistas à suspensão parcial ou total da
execução, surtirá efeitos para os demais executados, conforme disposto
no art. 739, § 3º do Código de Processo Civil.
2.3.2 Dos Embargos de Terceiros
O ordenamento processual civil brasileiro prevê a
possibilidade da intervenção de um terceiro, ou mais, na relação
processual que esteja por ser instaurada ou que já esteja em andamento.
Esta intervenção é denominada de embargos de terceiros.
No que concerne aos embargos de terceiros no
processo civil brasileiro Oliveira Neto80 assevera que:
A primeira forma de intervenção de terceiros prevista pelo
Código de Processo Civil, nos arts. 56 a 61, é a oposição.
Instituto de origem germânica, que surgiu com o intuito de
permitir a terceiro intervir no processo visando a excluir, a
seu favor, que sobre o objeto da demanda incidisse a coisa
julgada, por influência do direito Canônico tomou a feição
de ação autônoma, “paralela e separada da ação entre as
partes”.
80 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução
forçada,, p. 136.

43
A legislação processual civil brasileira no tocante à
intervenção de terceiros determina que a “oposição representa uma
ação movida por um terceiro, visando a excluir a pretensão do(os)
autor(es) e a defesa do(os) réu(s) no processo principal”81.
Por sua vez, a oposição é uma espécie de ação
autônoma, na qual o terceiro se insurge contra o credor (autor) e contra o
devedor (réu) de um determinado processo em oposição aos
demandantes visando garantir para si o objeto da ação.
Segundo entendimento de Oliveira Neto82:
[...] a oposição é, sem dúvida, uma ação promovida por
quem pretende, no todo ou em parte, coisa ou direito
objeto de outro feito, contra o autor e o réu da demanda
conexa. Entre a oposição e a chamada “ação principal”
existe uma relação de conexidade fundada na identidade
da relação jurídica de direito material, bem como uma
relação de prejudicialidade impeditiva que deveria da
necessidade de se julgar, em primeiro lugar, a oposição (art.
59 e art. 61), já que esta pode impedir o conhecimento da
ação. Autor e réu opostos assumem uma posição sui geniris
de litisconsortes passivos na oposição, uma vez que não têm
interesse comum, mas antagônico.
A oposição, como exercício de um determinado
direito, se amolda na esfera e no universo do processo de conhecimento
e, desta maneira, não é passível de ser proposta no processo de
execução, seja a execução baseada em titulo judicial ou extrajudicial,
nem sendo também admitida nos embargos do devedor.
Neste sentido Carneiro83 aponta que a oposição:
81 ARRUDA ALVIM, José Manoel. Manual de direito processual civil, p. 87.
82 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, p. 138.

44
É incabível em processo de execução. Se a execução é de
sentença, cumpre notar que é inadmissível a intervenção
do terceiro após proferida a sentença. Se for execução por
título extrajudicial (obrigação de pagar, pois), a execução é
afastada inclusive pela absoluta incompatibilidade de
procedimentos.
Não obstante à oposição por terceiros como forma de
intervenção na relação processual, o diploma processual civil permite a
nomeação à autoria como outra possibilidade de terceiros atuarem no
processo.
O objetivo da nomeação à autoria é a de substituir o
sujeito ilegítimo que figure na parte passiva do processo, introduzindo
nesta relação processual o verdadeiro ou legítimo sujeito passivo, de
modo que a nomeação à autoria tem por objetivo promover a correção
da legitimidade passiva.
Oliveira Neto84 lembra que:
Em resumo, pois, a nomeação à autoria não é, em verdade
uma forma de intervenção de terceiros em processo alheio,
mas sim um instituto que visa a corrigir a legitimidade
passiva, nas hipóteses permitidas por lei, evitando a
aplicação da regra geral, que é a extinção do processo
sem julgamento do mérito pela falta de uma das condições
da ação.
No que diz respeito à possibilidade da nomeação à
autoria nos processos executivos, esta não encontra espaço, uma vez que
não existe a condição de substituição da parte passiva nesta espécie de
processo.
83 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 57.
84 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, p. 141.

45
Outra espécie de intervenção de terceiros ao processo
é a denominada denunciação à lide. Trata-se de intervenção que se dá
de maneira forçada, através da qual tanto o autor como o réu trazem
para dentro do processo um terceiro com vista a garantir o seu direito
discutido no litígio de modo a resguardar tal direito se a parte se ver
perdedora no processo.
Barbi85, tratando da matéria, leciona que:
Examinando as características do procedimento de
execução dessa natureza, verifica-se que nele não há lugar
para a denunciação da lide. Esta pressupõe prazo de
contestação, que não existe no processo de execução,
onde a defesa é eventual e por embargos. Além disto, os
embargos são uma ação incidental entre o executado
embargante e o exeqüente, para a discussão apenas das
matérias de execução. Não comportam ingresso de uma
ação indenizatória do embargante com um terceiro. A
sentença que decide os embargos deve apenas admiti-los,
ou rejeitá-los, não sendo lugar para decidir questões
estranhas à execução.
De acordo com o que determina o artigo 77 e
seguintes do Código de Processo Civi, o chamamento ao processo é uma
outra forma de intervenção de terceiros à relação processual.
Trata-se de ato através do qual o réu, após sua citação
na condição de devedor, traz, para dentro da relação processual, por
meio do instituto do chamamento ao processo, o devedor principal, ou
em havendo, os co-responsáveis ou coobrigados solidários que irão, cada
qual, responder dentro dos seus limites de responsabilidade, a obrigação
pleiteada pelo autor da ação.
Oliveira86 Neto assevera que:
85 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 212.

46
Podemos dizer, portanto que o chamamento ao processo é
o ato pelo qual o réu chama ao processo devedor, outro
fiador ou o devedor solidário, para que seja declarada por
sentença a responsabilidade de cada qual, estabelecendo-
se um litisconsórcio passivo entre o réu e os chamados com
relação ao autor.
Oliveira Neto87 ainda ensina que:
O art. 78 fala que o réu deve requerer a citação do
chamado no prazo para contestação, que não existe no
processo de execução, para que o juiz declare, por
sentença, a responsabilidade de cada qual. A não
existência de contestação não é óbice intransponível, já
que poderia ocorrer o chamamento no prazo para
oferecimento de embargos. Porém não é possível que se
profira sentença na execução apenas para declarar as
responsabilidades de cada qual. Seria ilógico e injusto que
apenas um dos devedores assumisse o ônus de garantir o
juízo, para só depois chamar aqueles que deveriam
também sofrer a penhora de seus bens; embora se admita
que o devedor que não teve bens constritos, com algumas
restrições, embargue a execução.
Em se tratando do processo de execução, existe a
possibilidade de terceiros intervirem no litígio. Qualquer pessoa que venha
como conseqüência do processo executório, sofrer a turbação ou esbulho
na posse de qualquer de seus bens e razão da apreensão judicial em face
da penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação,
arrolamento, inventário ou partilha, poderá fazer uso do instituto dos
embargos de terceiros para proteger-se.
86 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, p. 149.
87 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, p. 151.

47
Segundo entendimento de Nery Junior os embargos de
terceiros “têm natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa,
de procedimento especial sumário”88.
Araújo Junior89, por sua vez, ensina que:
Os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer
tempo no processo de conhecimento não transitada em
julgado a sentença, e, no processo de execução, até cinco
dias depois da arrematação, adjudicação ou remissão, mas
sempre antes da assinatura da respectiva carta. Registra-se,
outrossim, que devem ser opostos em face do exeqüente e,
eventualmente, do executado (litisconsórcio necessário),
quando este tenha dado causa à constrição. Não se
olvidando, ademais, que se os embargos envolvem bens
imóveis (direitos reais imobiliários), há necessidade da
participação de ambos os cônjuges no pólo ativo, ou
apresentar o embargante autorização marital ou uxória,
conforme o caso. Já no caso de os embargantes serem
casados, ambos os cônjuges deverão ser citados,
litisconsórcio necessário (art. 10, CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
Os embargos de terceiros é a maneira mais usada
para que o terceiro venha intervir no processo de execução. Trata-se de
uma ação de procedimento especial conforme disposto nos artigos 1.046
e seguintes do Código de Processo Civil.
Os embargos de terceiros são uma espécie de ação
especial “de procedimento sumário, destinada a excluir bens de terceiros
que estão sendo, ilegalmente, objeto de ações alheias”90.
88 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado, p. 1009.
89 ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudiano de. Prática no processo civil: cabimento, ações diversas, competência, procedimentos, petições, , p. 549.
90 MORAES BARROS, Hamilton de. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 358.

48
Deve-se ressaltar que os embargos de terceiros
produzem como efeito a suspensão do processo de execução quando o
objeto dos mesmos representarem a universalidade dos bens constritos, e,
por outro lado, se o bem constrito representar tão e somente uma parte
dos bens apreendidos, a suspensão ocorrerá somente no que tange ao
bem atingido, conforme determina o art. 1.052 do Código de Processo
Civil.

49
CAPÍTULO 3
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO INSTRUMENTO DE DEFESA NA EXECUÇÃO FISCAL
3.1 ORIGEM DO INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
A exceção de pré-executividade traz como criador
PONTES DE MIRANDA91 ao ser requisitado para elaborar parecer sobre os
diversos pedidos de falência em detrimento da Companhia Siderúrgica
Mannesmann, fundamentados em títulos extrajudiciais eivados de
nulidade. Assim sendo, Pontes de Miranda foi o primeiro jurista a utilizar e
adaptar este instituto do direito processual civil brasileiro, onde o intitulou
de exceção de pré-executividade. A finalidade da criação deste instituto
seria uma só: a de barrar o avanço de uma execução possuidora de
anomalias.
Miranda utilizou este instituto pela primeira vez em um
de seus pareceres confeccionado em 1966 para a Companhia
Siderúrgica Mannesmann, a qual à época estava sendo executada por
títulos extrajudiciais com assinatura falsa de um de seus diretores. Em tais
execuções, sabia-se que o único objetivo de tais títulos seria a realização
de penhoras sobre os depósitos bancários e a renda da referida empresa,
e com isso, estaria forçando uma total paralisação da empresa.
JOSÉ YSNALDO 92 assevera que:
Em verdade, daquele parecer não consta tal expressão e
não se sabe quem a utilizou pela primeira vez, pelo menos
91 MIRANDA, Pontes de. Dez anos de pareceres, p.125-139
92 PAULO, José Ysnaldo Alves. Pré-executividade contagiante no Processo Civil, p. 118.

50
em nossa pesquisa não conseguimos detectar tal
ocorrência. Os dois outros pareceres que se seguiram, o de
Alcides de Mendonça Lima e o de Galeno Lacerda não o
adotam também.
Para LENICE SILVEIRA MOREIRA 93:
Pontes de Miranda partiu da premissa básica do título
executivo como requisito para toda e qualquer execução.
Posteriormente, tratou dos efeitos que a arguição da falta
de executoriedade do título causaria no processo,
analisando a viabilidade do contraditório no processo
executivo. E por fim sustentou a existência das exceções no
processo de execução.
Ainda quanto à criação do instituto da Exceção de
Pré-Executividade, SIQUEIRA FILHO 94levanta controvérsias acerca do
instituo, vejamos:
Este objetivo de impossibilitar a penhora, atribuído à
exceção de pré-executividade, na verdade, é anterior à
formulação de Pontes de Miranda em seu parecer. Sete
anos antes do afamado parecer, José da Silva Pacheco
dizia em seu Tratado das Execuções que a defesa do
executado não se esgota nos embargos, e que esta
poderia revestir-se de ‘defesa imediata com demonstração
cabal da possibilidade do ato executivo, antes da sua
concretização’.
Assim, ainda existem inúmeras controvérsias quanto à
autoria da criação do instituto da Exceção porém, a mais aplaudida pela
doutrina é a de que PONTES DE MIRANDA, em seu parecer da siderúrgica
Mannesmann, seria o criador da Exceção de Pré-Executividade, embora
não utilizasse este nome.
93 MOREIRA, Lenice Silveira. A exceção de pré-executividade em matéria tributária, p. 51.
94 SIQUEIRA FILHO. Exceção de Pré-executividade, 2ª edição, p. 63.

51
3.2 COMPETÊNCIA
No âmbito tributário compete interpor a Exceção de
Pré-Executividade aquele que, através de Ação de Execução Fiscal, tem
seu nome lançado como devedor de algum tributo, materializado através
da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
A partir do momento que o Executado, ou seu
procurador, averiguar uma irregularidade processual antes de ter sido
efetuada a penhora, pode defender-se através da Exceção de Pré-
Executividade. Imprescindível ressaltar que, para interpor a Exceção de
Pré-Executividade, não é necessária a garantia do Juízo, como nos casos
de embargos de devedor.
Para Dantas95
A exceção de pré-executividade constitui a defesa – e, por
isso, exceção – que exerce no processo da execução,
independentemente da oposição de embargos e da prévia
segurança de juízo, quando se alega que essa foi
desfechada sem atender aos pressupostos específicos para
a cobrança de crédito que, na redação do art. 586 do
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, se resume à exigência de
título líquido, certo e exigível.
Assim sendo, a praticidade da interposição de
Exceção de Pré-Executividade é imensa, haja vista o Executado poder
defender-se em Juízo sem garantir o mesmo, desde que se faça presente
alguma questão de ordem pública passível de conhecimento ex officio
pelo Juiz.
Apenas para completar, no que concerne ao
cabimento da ação, Moreira96 descreve o dever jurisdicional de
95 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Exceção de pré-executividade: aspectos teóricos e
práticos, p28.

52
inspecionar o processo executivo, e faltando um de seus requisitos, de
ofício exterminar de plano a pretensão executiva:
Toca ao órgão judicial examinar a petição inicial de
execução, em atividade de controle análogo à exercida no
processo de conhecimento. Verificando que ela está
incompleta, ou não se acha acompanhada dos
documentos indispensáveis, determinará que o credor a
corrija, no prazo de dez dias, sob pena de ser indeferida (art.
616). Também a indeferirá em qualquer das hipóteses do
art. 295 aplicáveis ao processo executivo.
Com isso, Moreira traz à luz o importante dever de
cautela do Magistrado, uma vez que deve evitar a agressão ao
patrimônio do executado ao admitir a ação executiva, ordenando a
citação e posterior penhora sobre bens do Executado.
Cabe ainda ressaltar que a Exceção de Pré-
Executividade pode ser interposta em quaisquer das hipóteses previstas no
art. 618 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Martins97 aduz que:
A exceção de pré-executividade generalizou-se como
forma (exótica) de defesa à disposição do executado, cujo
objetivo é alertar o Juiz quanto à existência de vícios ou
falhas relacionados com a admissibilidade da execução e,
com isso, obter a extinção do feito executivo, fulminando a
pretensão do exeqüente de invadir a esfera patrimonial do
executado.
Desta forma, compete apenas ao executado propor a
presente ação, haja vista que é de seu interesse defender-se da demanda
executada contra ele.
96 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 224.
97 MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado por meio de ações autônomas:
defesa heterotópica.), p. 84-85.

53
3.3 PROCEDIMENTO DA EXCEÇÃO
A argüição da ausência de quaisquer um dos requisitos
necessários para o bom e regular desenvolvimento processual da
execução não têm procedimento específico, devendo ser observadas as
peculiaridades de cada caso, dando-se os motivos de fato e de direito
pelos quais o devedor entende ser incabível ou ilegal a execução.
O procedimento da Exceção de Pré-Executividade é
bastante simples. Ela se processa nos próprios autos da Ação de
Execução, mediante simples petição, devendo-se atentar, apenas aos
pressupostos necessários para que a mesma seja recebida pelo juízo.
Para interpor a exceção, basta a juntada de um
simples petitório a qualquer momento nos autos da execução principal
para que seja declarado o incidente processual.
É o ensinamento de Stürmer98:
A exceção de pré-executividade deve ser oposta em
petição breve, onde o oponente aponta ao juízo as razões
pelas quais entende não haver execução ou ser nula a
mesma. Em anexo à petição, deve estar juntada prova
cabal e robusta, para que o juiz, ao examiná-la possa
suspender a pretensa execução.
Greco99, dissertando sobre a matéria, aduz que: “Para
a argüição da exceção não se exige prazo, nem forma ou procedimento
especial. Pode ser argüida por escrito ou verbalmente”.
Se o juiz receber e a Exceção, a Execução principal
será suspensa, sendo providenciada a manifestação da parte Exeqüente 98 STÜRMER, Gilberto. A exceção de pré-executividade nos processos civil e do trabalho, p. 81-82.
99 GRECO, Leonardo. Exceção de pré-executividade na execução fiscal in problemas de
processo judicial tributário, p. 199.

54
para, posteriormente, ser proferida uma decisão acerca do incidente
processual.
Para Moreira100:
Questão crucial para definir-se o procedimento a ser
adotado pelo juiz diante da argüição da exceção de pré-
executividade, à análise do cabimento da produção de
provas no processo de execução, pois a necessidade de se
oportunizar, ou não, o debate nos autos sobre as provas a
serem produzidas é que definirá o procedimento a ser
aplicado.
Para a mesma autora101, a admissão da dita exceção
de pré-executividade teria que passar por uma grande reformulação
legislativa, sob pena de incorrer em deturpação no entendimento do
processo de execução, uma vez que o devedor poderia opor-se a
execução sem oferecer bens à penhora.
Ainda sobre o tema, assevera:
A exceção de pré-executividade não se trata de exceção,
sequer de objeção, porque tanto a primeira quanto a
segunda designação terminológica referem-se a defesas
exclusivamente processuais, sendo que a objeção poderá
ser suscitada de ofício pelo juiz, ao passo que a exceção
deverá ser argüida pela parte contrária. Ocorre que
sustentamos serem cabíveis na defesa anterior à penhora
não só as matérias processuais de ordem pública
decretáveis de ofício pelo juiz, assim abrangidos os
requisitos, pressupostos e condições da ação executiva,
como também matérias pertinentes ao mérito desde que
cabalmente comprováveis mediante prova pré constituída
nos autos da ação executiva, tais como a prescrição, a
compensação, etc. Portanto, a exceção de pré-
100 MOREIRA, Lenice Silveira. A exceção de pré-executividade em matéria tributária, p. 91.
101 MOREIRA, Lenice Silveira. A exceção de pré-executividade em matéria tributária, p. 58.

55
executividade tem a natureza de impugnação à execução
no juízo de admissibilidade da ação executiva.
Diante disso, cabe ao Magistrado agir com muita
cautela para evitar que o Executado não se aproveite desta situação
para que não tenha seus bens penhorados e ganhe o direito de vir à juízo
discutir a lide.
3.4 PRAZO PARA OFERECIMENTO
Como não há lei prevendo a oposição da exceção
de pré-executividade e, ainda, por conter alegação de matéria de ordem
pública, argüível ex officio pelo magistrado, não há prazo para a sua
oposição, podendo, portanto, ser oposta a qualquer tempo do processo.
Assim sendo, admite-se que a argüição da ausência
dos requisitos da execução poderá ser efetuada em qualquer tempo e
grau de jurisdição, conforme preceitua o artigo 267, §3.º, do CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, in verbis:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito,
da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a
não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba
falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.
Concernente à importância das normas de ordem
pública, tem-se as palavras de Lucon102:
102 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Objeção na execução no Processo de execução e
assuntos, p. 569-560.

56
No caso de exigências de ordem pública, como aquelas
relativas às condições da ação e aos pressupostos
processuais, o interesse é do próprio Estado em declarar de
ofício que não se dispõe a exercer a função jurisdicional, no
sentido de outorgar ou negar o bem da vida pretendido
pelo demandante. As normas que disciplinam esses
indeclináveis pressupostos, por serem cogentes,
independem da vontade das partes em conflito para serem
aplicadas. No processo de execução, como no processo de
conhecimento, o juiz deverá conhecê-las a qualquer tempo
e de ofício, independentemente da oposição de embargos
do executado ou de sua manifestação no processo
executivo.
Para Theodoro Júnior103:
Mesmo antes de opor embargos do devedor, o que
somente pode ocorrer depois de seguro o juízo pela
penhora, o devedor pode utilizar-se de outros instrumentos
destinados à impugnação do processo de execução,
notadamente no que respeita às questões de ordem
pública por meio da impropriadamente denominada
exceção de pré-executividade.
E completa:
A possibilidade de o devedor, sem oferecer bens a penhora,
ou embargar, poder apontar a irregularidade formal do
título que aparelha a execução, a falta de citação, a
incompetência absoluta do juízo, o impedimento do juiz e
outras questões de ordem pública é manifestação do
princípio do contraditório no processo de execução104.
Com isso, por se tratar de uma matéria de ordem
pública não alcançada pela preclusão, a exceção de pré-executividade
pode ser oponível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
103 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 129.
104 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 129.

57
3.5 LEGITIMIDADE
Em se tratando de legitimidade, passiva ou ativa da
ação executiva, apenas poderá ser executado o devedor que estiver
expressamente indicado no título executivo, não podendo ser executada
pessoa diversa daquela indicada no título. No tocante ao interesse de agir
no processo executivo, caberá somente argüir tal instituto quando
observado o inadimplemento da obrigação, ou seja, o vencimento da
dívida. Estando o crédito com sua exigibilidade suspensa, ficará
caracterizado a falta da exigibilidade do título e, conseqüentemente, o
interesse de agir do exeqüente.
Para Moréia, tradicionalmente, a doutrina refere que o
legitimado para opor exceção de pré-executividade seria o devedor105.
Sobre a legitimidade para propor a exceção de pré-
executividade, dispõe Stümer106:
Da mesma forma que não há prazo especial para argüí-la,
não há definição de quem seria parte legítima para tal. Isto
porque o instituto não está previsto na processualística
vigente. Em tese, a parte legítima para argüir exceção de
pré-executividade seria o executado, pois é este o
interessado em demonstrar ao juiz que não há título
executivo ou que o título apresentado é nulo e, portanto,
não há necessidade de constrição dos seus bens para
discutir a pretensa execução.
Para a admissão da exceção de pré-executividade,
basta verificar a ausência de qualquer uma das condições da ação, ou
105 MOREIRA, Lenice Silveira. A exceção de pré-executividade em matéria tributária, p.
101.
106 STÜRMER, Gilberto. A exceção de pré-executividade nos processos civil e do trabalho, p.74-75.

58
seja, legitimidade da parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do
pedido. É desta forma que a maioria dos casos propostos de exceção de
pré-executividade está relacionada à falta de algumas dessas condições,
uma vez que ausentes, invalidam o processo executivo.
Em matéria tributária, no tocante à legitimidade ativa
conferida ao órgão instituidor do tributo, raramente é levantada a
hipótese de alguma dúvida ou erro pertinente a este pólo da relação
processual. Em contrapartida, quanto ao pólo passivo, a situação se
mostra mais complexa, pois o art. 4° da LEF107 dispõe que podem ser os
sujeitos passivos da execução fiscal:
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I – o devedor;
II – o fiador;
III – o espólio;
VI – a massa
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e,
VI - os sucessores a qualquer título.
[...]
Assim sendo, não basta somente identificar quem, em
tese, poderá ser responsabilizado pelo crédito tributário (fato gerador) e
executá-lo. É indispensável que haja um trâmite processual administrativo
para apurar o débito, identificando quem são os responsáveis, diretos ou
indiretos, dentro dos ditames da legalidade. Somente assim e, seguindo
107 Lei 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais –LEF). Dispõe sobre a
cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, e dá outras providências.

59
este trâmite, a CDA desfrutará da liquidez e certeza que são requisitos sine
qua non do processo de execução fiscal.
3.6 EFEITOS PROCESSUAIS E EFEITO SUSPENSIVO
Como já tratado anteriormente, a exceção de pré-
executividade não apresenta nenhum autorizativo legal específico bem
como a jurisprudência e doutrina não demonstram unanimidade à
respeito dos efeitos que a oposição da exceção pode gerar.
Defende-se que esta deve gerar efeito suspensivo,
assim como acontece com os embargos do devedor. Este ato não é um
empecilho que ira “travar” a execução principal, mas sim, evitará que o
processo prossiga de uma maneira que o poderá levar ao insucesso.
Nolasco108 leciona que:
No direito brasileiro, realmente quase todos os textos legais
pertinentes à suspensão do processo revelam a suspensão
necessária, ou seja, decorre automaticamente das causas
indicadas na lei ou mediante ato vinculado do juiz, que de
ofício determina a suspensão. Mas, obviamente não existe
previsão legal de suspensão da execução diante da
exceção de pré-executividade, tendo em vista que tal
instituto também não suspende o procedimento, por falta
de amparo legal, é muito frágil e inconsistente.
O Código de Processo Civil, em seu art. 791, traz os
casos de suspensão da execução, verbis:
Art. 791. Suspende-se a execução:
I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2o);
II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;
108 NOLASCO, Rita Dias. Exceção de pré-executividade, p. 266.

60
III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis
O art. 265, III, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, diz que:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
III - quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz;
Sobre o efeito provocado pela apresentação de uma
exceção de pré-executividade, já decidiu o STJ, 4ª Turma, Min. Rel. Aldir
Passarinho Júnior, Resp. 268532:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 791, I – A regra do art.
791 da lei adjetiva civil comporta maior largueza na sua
aplicação, admitindo-se, também, a suspensão do processo
de execução, pedida em exceção de pré-executividade,
quando haja a anterioridade de ação revisional em que
discute o valor do débito cobrado pelo credor hipotecário
de financiamento contratado pelo S.F.H. II – Recurso
especial não conhecido.
Assim, conclui-se que, em hipóteses excepcionais onde
a discussão gire em torno da “inviabilidade do prosseguimento do
processo de execução”, conforme a conexão com a situação concreta,
é cabível a concessão do efeito suspensivo no curso da execução até
que o juiz decida a matéria pendente, ou seja, a exceção de pré-
executividade109.
109 NOLASCO, Rita Dias. Exceção de pré-executividade, p. 266.

61
3.7 RECURSO CABÍVEL NA HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
A exceção de pré-executividade pode ou não ser
acolhida pelo magistrado. Sendo acolhida, a execução principal é
extinta; caso a exceção não seja recebida, o Julgador deverá dar
prosseguimento normal ao feito principal.
Claro está que o processamento da exceção de pré-
executividade será o fator determinante para ver qual será o recurso
cabível a ser utilizado.
Por exemplo, se procedente a exceção de pré-
executividade, poderá o exeqüente apelar da decisão, haja vista a
exceção ser causa extintiva do feito excutivo. Caso julgada
improcedente, o executado poderá interpor agravo de instrumento, haja
vista o indeferimento ou o não recebimento da exceção ser prolatada
através de uma simples decisão interlocutória.
Neste sentido, colhe-se entendimento da 2ª Turma do
STJ, em sede de Recurso Especial nº 572421, Ministro Relator Castro Meira:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. 1. A exceção de pré-
executividade tem a natureza de incidente processual para
defesa do executado, processado nos próprios autos de
execução, sem necessidade da garantia do juízo. 2.
Acolhida a exceção de pré-executividade, sem extinção
da execução, essa decisão desafia recurso de agravo de
instrumento. 3. Recurso especial improvido.
RESP. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO CABÍVEL. 1. A decisão que acolhe exceção
de pré-executividade põe fim ao processo executório e,

62
como ato extintivo, desafia recurso de apelação. 2. Recurso
especial conhecido e provido110.
Assim sendo, deve atentar-se para a decisão do
julgador, uma vez que, propondo a exceção, ela deve estar bem
fundamentada e documentada para que seja recebida de início, caso
contrário, a decisão do Magistrado poderá apenas “atrasar” o trâmite
processual, haja vista existirem recursos cabíveis para este caso.
3.7 MATÉRIAS ARGÜÍVEIS ATRAVÉS DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Há várias matérias que podem ser argüíveis na
exceção de pré-executividade, porém, neste trabalho, destaca-se uma
delas, a contrariedade ao art. 618, I, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Como qualquer outro processo, a validade do
processo de execução está diretamente ligada e condicionada a alguns
requisitos legais previstos no CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O art. 618, I, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, traz que
é nula a execução se o título executivo não for líquido, certo e exigível.
Art. 618 do Código de Processo Civil:
É nula a execução:
I – se o título executivo não for líquido, certo e exigível.
[...]
Ipso Facto, o título, não sendo provido deste requisito,
não será título executivo, e assim, ocasionará a nulidade invalidando a
execução.
110 4ª Turma do STJ, no Recurso Especial 613702, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
2004.

63
O preenchimento destes pressupostos legais deve,
sempre, ser verificado de ofício pelo juiz que, sem os quais, não haverá
condição de dar início ou o simples prosseguimento da Ação.
Não são raras às vezes em que o juiz não percebe a
ausência de qualquer um dos pressupostos processuais ou condições da
ação e, com isso, acaba omitindo-os, não as conhecendo ex officio.
Neste caso, o executado pode e deve cientificar o julgador para que o
mesmo tome ciência da falta dos pressupostos legais.
Tal ausência de uma das condições da ação gera a
nulidade absoluta do processo que, a qualquer tempo, poderá ser
declarada pelo Magistrado.
Como ensina Rosa111:
Como a ação que é, a executória há de atender, também,
aos requisitos genéricos que condicionam a legitimidade da
relação processual e aos específicos que lhe são próprios,
entre eles, a liquidez, certeza e exigibilidade do título.
E ainda:
Quando o Executado impugnar esses pressupostos e
condições, com argumentos fundados e idôneos, deverá o
juiz admitir-lhe a defesa, porque logicamente anterior à
penhora, sem a segurança desta.
Para Pontes de Miranda112, são conhecíveis de ofício,
ainda, “a argüição de inexistência, da invalidade ou da ineficácia da
sentença é alegável antes da expedição do mandado de penhora”.
111 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade, matérias de ordem pública no
processo de execução, p.53.
112 MIRANDA, Pontes de. Dez anos de pareceres, p. 864.

64
A bem da verdade, sabe-se que a intenção da
exceção de pré-executividade é frear e aniquilar a execução, atacando
a própria executividade do título, contestando-o, ou até mesmo, outra
irregularidade qualquer que esteja nos autos e não foi verificada ou vista
pelo Magistrado. Assim, o excepto informará o juízo da ausência das
condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo executivo.
No tocante as matérias que devem ser conhecidas ex
officio pelo juiz, ou seja, aquelas de ordem pública, a doutrina e a
jurisprudência são uníssonas em aceitar estas alegações por meio desta
via processual. Cabe aqui colacionar a inclinação jurisprudencial neste
sentido:
Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade do título.
Consiste na faculdade, atribuída ao executado, de
submeter ao conhecimento do juiz da execução,
independentemente de penhora ou de embargos,
determinadas matérias próprias da ação de embargos do
devedor. Admite-se tal exceção, limitada porém sua
abrangência temática, que somente poderá dizer respeito
à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à
nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é,
nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório
ou dilação probatória. (TRF 4ª Região, 2ª Turma, AI n°
96.04.47992, Rel. Juiz Teori Albino Zavascki, julg. 7-11-96, DJ
27-11-96, p.91.446).
No mesmo sentido:
Processo Civil. Execução Fiscal. Exceção de Pré-
executividade. Embargos. A exceção de pré-executividade
só deve ser admitida se a matéria alegada é apreciável
pelo juiz e os vícios capazes de ilidir a presunção de liquidez
e certeza da CDA forem demonstráveis de pronto, sob pena
de fraudar o processo executório, que prevê os embargos
como único meio de defesa do executado. (TRF 4ª Região,

65
1ª Turma, AI n° 96.04.54328/RS, Rel. Juiz Vladimir Passos de
Freitas, julg. 18-2-97, publ. DJ 19.3-97, p.16.0480).
Assim, a exceção de pré-executividade apenas deve
ser imposta nos casos onde o Juiz, de ofício, não apreciou uma
irregularidade processual, cabendo, então, ao executado, em sede de
exceção, mostrá-la ao magistrado para que o mesmo decrete a extinção
da execução.
3.7.1 Crédito tributário com exigibilidade suspensa
Imprescindível ressaltar que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, como o próprio nome informa, é
necessariamente de caráter temporário, nunca definitivo.
O CTN, em seu art. 151 nos mostra os casos de
suspensão, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies.
Particularmente, no que tange à exceção de pré-
executividade na execução fiscal, sua função essencial é atacar e
aniquilar os processos que estão fundados com base em créditos onde a
exigibilidade encontra-se ausente ou suspensa. Ataca diretamente os

66
títulos carentes dos requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Colaciona-se da jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
SUSPENSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA. ART.
151, III DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO.1. O controle dos pressupostos processuais, das
condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do
título executivo são suscetíveis de exame em exceção de
pré-executividade, porque sujeitos a conhecimento de
ofício pelo Juiz. 2. No caso em epígrafe, a matéria objeto da
exceção de pré-executividade foi a inexigibilidade dos
créditos objeto das CDAs, por força de existir processo
administrativo em curso (art. 151, III). Trata-se de matéria
atinente a uma das condições da ação executiva (art. 586,
caput do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), exigibilidade do
título, a cuja verificação o Juiz pode proceder de ofício, e, a
falta acarreta a nulidade do processo de execução (art.
618, I do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 3. Recurso especial
provido. (Resp 741357 – 2ª Turma / SP – Recurso Especial
2005/0059430-3. Relator Ministro Castro Meira, julg.
19/05/2005, publ. DJ 01/08/2005, p. 433).
Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do
TJSC:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPUGNAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES FISCAIS NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 150, INCISO III, DO CTN). ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME DESPROVIDO. Suspensa a
exigibilidade do crédito tributário pela pendência de
reclamação ou recurso administrativo (art. 150, III, CTN),
incabível reclamar a sua satisfação pela via judicial.(AC.
2003.002581-2. Des. Relator Juiz Newton Janke. Data da
Decisão: 19/08/2004, de Guaramirim).

67
Com a propositura da exceção de pré-executividade,
portanto, claro está que a execução principal estará sobrestada até a
decisão da mesma.
3.7.2 Nulidade da certidão de dívida ativa
Para que o processo executivo tenha início, o juiz deve
verificar se há um título, seja ele judicial ou extrajudicial, que é a base de
toda execução, conforme o art. 583, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Caso não haja o referido título, o julgador não poderá deferir a inicial.
Sobre o cabimento da argüição de algum vício na
formação da CDA em sede de exceção de pré-executividade, oriundo no
processo administrativo, traz-se o entendimento de Machado113:
Questão relevante reside em saber se um vício formal na
formação do título, como o cerceamento de defesa do
contribuinte no processo administrativo, configura um
defeito formal do título executivo, e assim pode ser alegado
no juízo de admissibilidade. Admitamos uma situação em
que a Fazenda Pública efetua a inscrição do crédito
tributário como Dívida sem que tenha sido apreciada a
reclamação, ou o recurso, pelo órgão competente. Ou
aquela outra, em que tenha sido indeferido o pedido de
realização de diligência, ou de perícia e sejam evidentes a
oportunidade e a necessidade dessa prova para o
estabelecimento da verdade real dos fatos no processo
administrativo. Parece-nos que, em se tratando de vícios
formais evidentes, indiscutíveis, na formação do título, é
cabível a alegação no juízo de admissibilidade.
Dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
113 MACHADO, Hugo de Brito. Juízo de admissibilidade na execução fiscal, p.124-125.

68
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Por sua vez, o artigo 203 do mesmo diploma legal
dispõe que:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no
artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a
decisão de primeira instância, mediante substituição da
certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado, o prazo para defesa, que somente poderá
versar sobre a parte modificada.
Todo crédito tributário é lançado em juízo através do
processo de execução fiscal e deverá, sempre, estar de acordo com o
acima exposto, haja vista a CDA (Certidão de Dívida Ativa) ser uma
espécie de título executivo extrajudicial, gozando de presunção, de
certeza e liquidez. Não estando presentes os pressupostos processuais para
o bom e regular desenvolvimento do processo, a mesma é nula.
Além de ter que obedecer aos artigos 202 e 203 do
CTN, para que seja efetuada a regular inscrição do débito em dívida
ativa, o contribuinte deverá, ainda na fase administrativa, ser notificado

69
pela parte credora, sob pena de nulidade da execução caso a mesma
venha ser interposta.
Neste sentido, a jurisprudência Catarinense é
categórica:
EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA -
INEXISTÊNCIA - Ausência de notificação da empresa
devedora - REQUISITOS DOS ARTS. 202, V, DO CTN E 2º, § 5º,
VI, DA LEI N. 6.830/80 NÃO ATENDIDOS - EMBARGOS DO
DEVEDOR PROCEDENTES - EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO E
REMESSA NÃO PROVIDOS. (AC nº 00.022581-9, de Criciúma.
Relator Des. João Martins. Data da decisão: 30/11/2000).
Assim, é nula toda e qualquer Certidão de Dívida Ativa
que não estiver em conformidade ao que preceitua o art. 202, e incisos,
do CTN, podendo a mesma ser declarada em face da inobservância de
quaisquer um dos requisitos formais elencados no referido artigo.
3.7.3 Excesso de execução
Inicialmente, deve-se esclarecer que, o excesso de
execução é totalmente diferente de excesso de penhora.
Assim, vejamos a diferença entre excesso de execução
e excesso e penhora.
Excesso de Execução: É a execução que se faz com
afastamento dos limites prescritos na sentença exeqüenda
ou sem satisfação a requisito preliminar, legalmente
estabelecido114.
Sobre excesso de penhora, Silva aduz que:
114 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 18 ed. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2001,
p. 333.

70
Penhora excessiva é aquela que, após a avaliação, em
processo de execução, recai sobre bens de valor superior
ao crédito do exeqüente.
Ou seja, se o executado possui uma dívida
correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a penhora recai como um
bloqueio de crédito do executado, e este crédito seja de R$ 12.000,00
(doze mil reais), está caracterizado o excesso de penhora.
O excesso de execução é previsto no art. 743 do
Código de Processo Civil, verbis:
Art. 743. Há excesso de execução:
I - quando o credor pleiteia quantia superior à do título;
II - quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III - quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença;
IV - quando o credor, sem cumprir a prestação que Ihe corresponde, exige o adimplemento da do devedor (art. 582);
V - se o credor não provar que a condição se realizou.
Segundo Rocha Filho115:
Trata-se de hipótese dificilmente caracterizável, em
procedimento voltado à cobrança judicial da dívida ativa
da Fazenda Pública, até em função do sentido emprestado
ao tema, pelo art. 743, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Para Batista Júnior116, o excesso de execução deve ser
alegado através da exceção de pré-executividade:
115 ROCHA FILHO, J. Virgílio Castelo Branco. Execução fiscal: doutrina e jurisprudência, p.
222.

71
Imaginemos a hipótese que o exeqüente ajuiza execução
acompanhada de cálculos em que é manifesta a
cobrança de juros capitalizados. Se o réu alega excesso, em
razão da capitalização, e se este é verificável
independentemente da produção de qualquer prova, resta
apenas a manifestação judicial a respeito de uma questão
de direito – relativa à possibilidade ou não, no caso
concreto, da capitalização dos juros -, e a exceção de pré-
executividade, neste caso, pode e deve ser admitida.
O excesso de execução é totalmente argüível através
da exceção de pré-executividade, pois o excesso não deixa de ser uma
irregularidade processual. Ele, basicamente, decorre de uma
desconformidade com o título, nos termos do art. 743, dó CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
3.7.4 Prescrição e decadência
Sabe-se que a Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980 (A
Lei de Execuções Fiscais) dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa
da Fazenda Pública.
De regra, o julgador pode e deve reconhecer a
decadência, decretando-a de ofício. Assim, há a possibilidade de tal
matéria ser discutida em sede de exceção de pré-executividade.
Sobre decadência, dispõe o enunciado no art. 173, do
CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
116 BATISTA JÚNIOR, Geraldo da Silva. Exceção de pré-executividade: Alcanse e limites, p.
97-98.

72
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
A decadência nada mais é do que a perda do direito
da Fazenda pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Na doutrina de Rocha Filho117: “a decadência
corresponde à perda do próprio direito de constituir formalmente aquele
crédito, através do lançamento”.
Segundo Tavares118: “a decadência consubstancia-se
na perda de um direito pela falta de seu exercício num
prazo fatal pré-assinalado pela lei”.
Colhe-se ainda do mesmo autor:
[...] a decadência extingue o direito de lançar, isto é,
de constituir o crédito tributário. Extinguindo-se o direito
de lançar, por conseguinte, encontram-se as
autoridades administrativas impossibilitadas de cobrar
o tributo; de torná-lo juridicamente exigível119.
Em se tratando de prescrição, a matéria possui amparo
no art. 174 do CTN, dispõe:
117 ROCHA FILHO, J. Virgílio Castelo Branco. Execução fiscal: doutrina e jurisprudência, 144.
118 TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de Direito Tributário, p. 133.
119 TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de direito tributário, p. 133.

73
Art. 174. A opção para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;: (Redação da LC nº 118\09.02.2005)
(Redação anterior) – I – pela citação pessoal feita pelo devedor;
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Para Rocha Filho120, a prescrição consiste na perda do
direito de ação capaz (o crédito exigido não é mais exeqüível) de
assegurar a cobrança judicial do crédito tributário.
Com a prescrição, a Fazenda Pública, detentora do
crédito tributário, vem a perder a sua exigibilidade, em virtude de sua
morosidade no exercício da faculdade de agir.
Colhe-se da Jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
INÉRCIA DO ENTE FISCAL CARACTERIZADA - PRECEDENTES -
RECURSO PROVIDO. Verificada que a inércia processual
ocorreu por culpa exclusiva do credor, mostra-se
configurada a prescrição intercorrente, porquanto a
aplicação da norma do art. 40 da Lei n. 6.830/80 deve se
dar em consonância com o disposto no art. 174 do CTN, em
razão da impossibilidade do prazo prescricional se prolongar 120 ROCHA FILHO, J. Virgílio Castelo Branco. Execução fiscal: doutrina e jurisprudência, p. 144.

74
indefinidamente, o que poderia acarretar a inobservância
do princípio da "estabilidade jurídica". (AInº 2004.015902-1,
de Balneário Camboriú/SC. Des. Relator: Des. Rui Fortes.
Data da Decisão: 30/08/2005).
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO
DO PROCESSO. 1. A pretensão da Fazenda Pública em
haver o crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data em que se tornou exigível (CTN, art. 174).
2. Julgada procedente a exceção de pré-executividade e
extinta a execução, responde o excepto pelo pagamento
de honorários advocatícios, porquanto são "devidos
quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa,
providência em defesa de seus interesses" (REsp n.º
137.285/PB, Min. Barros Monteiro). (A.C nº 2005.034727-1, de
Balneário Camboriú/SC. Des. Relator: Des. Newton Trisotto.
Data da Decisão: 29/11/2005).
APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Iptu. EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. honorários. I. É cabível o
manejo da exceção de executividade para argüir a
prescrição do crédito tributário, quando desde logo se
verifique a impossibilidade de prosseguimento da
execução. II - Decorridos mais de cinco anos entre o fato
gerador e o relançamento, está consumada a decadência
do direito, com base nos arts. 173, I e 149, parágrafo único
do CTN. III – Vencida a Fazenda Pública, esta deve ser
condenada ao pagamento de honorários advocatícios,
consoante apreciação eqüitativa do juiz, sopesando as
diretrizes do §3º, do art. 20, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
com base no art. 20, §4º. Tem-se que 10% sobre o valor da
ação se mostram excessivos, porquanto o valor executado
é expressivo e o trabalho desenvolvido pelo procurador do
apelado nos autos limitou-se à uma petição. Honorários
reduzidos. Apelo parcialmente provido. Por maioria. (A.P nº
70012729018, de Porto Alegre/RS. 21ª Câmara da Corte
Cível. Des. Relator: Des. Marco Aurélio Heinz. Data da
decisão: 19/10/2005).

75
3.7.5 Compensação
A compensação corresponde a um encontro de
contas, “onde duas pessoas são, ao mesmo tempo, credor e devedor,
uma da outra121”.
O Código Tributário Nacional trata da compensação
em seu artigo 170, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito
passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por
cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
Machado122 conceitua que:
A compensação é como que um encontro de contas. Se o
obrigado ao pagamento do tributo é credor da Fazenda
Pública, poderá ocorrer uma compensação pela qual seja
extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário.
Do mesmo autor, colhe-se ainda o seguinte entendimento:
O Código Tributário Nacional não estabelece a
compensação como forma de extinção do crédito
tributário. Apenas diz que a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
121 Código Civil / 2002 – Art. 368. Se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
122 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 160.

76
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Sendo vincendo o crédito, do sujeito
passivo, a lei determinará, para efeito de compensação,
que se apure o montante do crédito, não podendo
determinar redução superior123.
Ressalta-se que a compensação é uma modalidade
de extinção do crédito tributário. O art. 156, inciso II, do CTN, preceitua
que: Extinguem o crédito tributário; II – a compensação.
A compensação tributária é instrumento de grande
importância para a liquidação e extinção de dívidas tributárias entre
autarquias Municipais, Estaduais e Federais e pessoas jurídicas (no caso de
empresas) e físicas.
Concluindo, é cada vez mais relevante e freqüente a
implantação ou contratação de assessoria profissional com grande
conhecimento da legislação atual para que possa usufruir ao máximo
todos os direitos que são garantidos pela própria legislação tributária
atual.
3.7.6 Horários sucumbenciais em Exceção
Assim como os embargos, a Exceção de Pré-
Executividade é uma forma de defesa do Executado contra uma ação
que lhe é imposta. No caso dos embargos, se acolhido e provido, resultará
na extinção do feito principal, bem como, na condenação do Exeqüente
em honorários advocatícios. Desta feita, em sede de Exceção de Pré-
Executividade não pode ser diferente, haja vista ambos remédios jurídicos
possuírem a mesma intenção: extinguir o processo execucional.
123 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, p. 160.

77
O Magistrado deve condenar a parte vencida em
custas e honorários advocatícios, conforme preceitua o Art. 20 do Código
de Processo Civil, in verbis:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Essa verba honorária será devida, também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação da Lei nº 6.355, de 8.9.1976)
§ 1o O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso,
condenará nas despesas o vencido. (Redação da Lei nº
5.925, de 1º.10.1973)
§ 2o As despesas abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária
de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o
valor da condenação, atendidos: (Redação da Lei nº 5.925,
de 1º.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa
do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior. (Redação da Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5o Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa,
o valor da condenação será a soma das prestações
vencidas com o capital necessário a produzir a renda
correspondente às prestações vincendas (art. 602),
podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma
do § 2o do referido art. 602, inclusive em consignação na
folha de pagamentos do devedor. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 6.745, de 5.12.1979)

78
No que concerne aos honorários devidos em sede de
Exceção de Pré-Executividade, a jurisprudência catarinense já decidiu
sobre o cabimento, vejamos:
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CANCELAMENTO POSTERIOR DA CDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
26 DA LEF. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO, NESTA
INSTÂNCIA, COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO EX
OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
cível n. 00.023632-2. Des. Relator: Des. Cesar Abreu. Data da
Decisão: 31/05/2001).
PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CABIMENTO - CUSTAS - ISENÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA - REFORMA DA SENTENÇA. 1. "Recebida que
seja à exceção de pré-executividade e julgada
procedente, será proferida sentença extinguindo-se a
execução e condenando-se o exeqüente nas custas e
honorários, caso não esteja sob o abrigo da assistência
judiciária gratuita" (DALL'OGLIO. Luciana Fernandes.
Exceção de Pré-Executividade. Porto Alegre: Síntese, 2000.
p. 20). 2. O Município, quando vencido, está isento do
pagamento das custas processuais. 3. Na ausência de
circunstâncias especiais, sedimentou-se a jurisprudência da
Corte no sentido de que a fixação dos honorários
advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de direito
público, deve situar-se no patamar de 10% sobre o valor da
condenação. (Apelação Cível n. 2000.011405-7. Des.
Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros. Data da Decisão:
30/09/2002).
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONSOANTE APRECIAÇÃO
EQÜITATIVA DO JUIZ - EXEGESE DOS §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. A
fixação dos honorários deve ser efetuada mediante

79
aplicação dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, para se optar por percentual razoável, que
remunere condignamente o trabalho do advogado, sem
cometer exageros em prejuízo do erário. (Apelação Cível nº
01.013589-2. Des. Relator: Des. José Volpato de Souza. Data
da Decisão: 30/04/2002).
Desta feita, assim como nos Embargos à Execução,
sendo a Exceção de Pré-Executividade recebida e julgada procedente,
deve o Magistrado condenar o Exeqüente no pagamento dos honorários
sucumbenciais.

80
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo investigar, à
luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência nacional, a possibilidade
de opor a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal.
O interesse pelo tema ora estudado deu-se em razão
de este acadêmico ter atuado como estagiário no Cartório das
Execuções Fiscais desta Cidade e comarca (por três anos e meio) onde
despertou o interesse pela área tributária, e também por sua atualidade.
Para seu desenvolvimento lógico o trabalho foi dividido
em três capítulos.
No primeiro capítulo são analisados, basicamente, os
principais princípios para que haja o bom e regular desenvolvimento
processual, garantindo às partes, a imparcialidade do juiz, a igualdade, o
contraditório e a ampla defesa, entre outros.
Em seguida, no segundo capítulo, foi abordado o tema
dos processos de conhecimento e de execução. Neste capítulo, tratou-se
de uma breve explanação acerca das diferenças entre o processo de
conhecimento e de execução. Já iniciando também a dissertação
acerca da defesa do executado, como no caso de embargos de
devedor e de terceiros.
No terceiro e último capítulo, com fundamento
doutrinário e jurisprudencial, buscou-se demonstrar que há a possibilidade
de defender-se em sede de execução fiscal, através da exceção de pré-
executividade, sem a necessidade de garantia do juízo ou constrição
judicial de bens do devedor.

81
Demonstrou-se assim, que a exceção de pré-
executividade constitui-se numa forma de defesa que o executado dispõe
para atacar os incômodos de uma má fadada execução fiscal, quando
houverem vícios, sem que haja a garantia do juízo como seria em sede de
embargos.
A exceção de pré-executividade é um tema que vem
chamando a atenção da doutrina e jurisprudência, sendo que esta unida
a princípios básicos que nosso sistema processual possui pertinente à
execução fiscal contra as pessoas que não adimpliram voluntariamente
com suas obrigações tributárias para com o exeqüente.
Com base na legislação, doutrina e jurisprudência,
verificou-se, de acordo com a Lei e, sobretudo para identificar as
hipóteses em que tem sido aceita a sua utilização.
Por fim, retoma-se as três hipóteses básicas da
pesquisa: a) conforme entendimento doutrinário é possível a utilização de
outros meios de defesa que não os embargos; b) verificando o conteúdo
do trabalho ora apresentado, não, os embargos não são o único meio de
defesa do devedor em sede de Execução fiscal?; c) conforme
entendimento jurisprudencial e doutrinário, elas devem ser argüidas em
sede de exceção de pré-executividade pois, a mesma serve para
extinguir o processo execucional fiscal com base em nulidades e vícios
que possam, existir nos autos.
Assim, logo as hipóteses “a”, “b” e “c” não foram
confirmadas.

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS
ALVIM, Arruda. Tratado de Direito Processual Civil – 2 ed., Refundida, do
Código de Processo Civil Comentado – Volume 1 (arts. 1º ao 6º). Editora
Revista dos Tribunais. São Paulo, 1990.
ARRUDA ALVIM, José Manoel. Manual de Direito Processual Civil. V. 2. 2.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.
ASSIS, Araken de. Manual do Processo De Execução - Volume 1. Porto
Alegre: Letras Jurídicas, 1987.
BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Volume 1.
6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996
BATISTA JÚNIOR, Geraldo da Silva. Exceção de Pré-Executividade:
Alcances E Limites. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Espaço Jurídico, v. 57, 2003.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil: Texto Constitucional Promulgado em 5 de Outubro de 1988. Brasília –
Senado Federal. Subsecretaria de Edições técnicas, 2002.
BRASIL. Jurisprudências.
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1995.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 20
ed., Revisada e Atualizada até a EC nº. 4/2004. Editora Malheiros. São
Paulo, 2004.

83
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 14 ed. Revista e Atualizada.
Editora Malheiros. São Paulo, 1998.
DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Exceção de Pré-executividade:
Aspectos Teóricos e Práticos. Publicado na Revista Dialética de Direito
Tributário n° 24.
DOWER, Nélson Godoy Bassil. Curso básico de direito processual civil – 2º
volume – (Processo de conhecimento). 3 ed. São Paulo, Nelpa – L. Dower
Edições Jurídicas Ltda, 1999.
FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: ed. Saraiva,
1998.
FILHO, J. Virgílio Castelo Branco Rocha. Execução Fiscal: Doutrina e
Jurisprudência. 2ª ed.(2001), 2001, 3ª tir., Curitiba, Juruá, 2004.
FILHO, Siqueira. Exceção de Pré-executividade, 2ª edição, Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 1998.
FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro: Processo De
Execução e Procedimentos Especiais - Volume 3. 17. ed. São Paulo: 2005.
GRECO, Leonardo. Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal in
Problemas de Processo Judicial Tributário. 4° vol, São Paulo: Dialética, 2000.
HAESER, Moacir Leopoldo. Do Cabimento da Exceção de Pré-
Executividade. Online. Acessado e Capturado em 19/09/2005. Disponível
em: http://www.enap.com.br/emp5136.htp.
ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributário: Atualizado com as Emendas
Constitucionais nº. 3, de 17/03/93; 10, de 04/03/96; 12, de 15/08/96; 17, de

84
22/11/97; 21, de 18/03/99; 29, de 13/09/00; 31, de 18/12/00; 32, de
19/12/02; 40, de 19/05/03; 41 e 42, de 31/12/03. 13 ed. Editora Atlas. São
Paulo, 2004.
JUNIOR, Gediel Claudiano de Araújo. Prática no Processo Civil: Cabimento,
Ações Diversas, Competência, Procedimentos, Petições, Modelos. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2004.
JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Vol. II. 13ª
Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1994.
JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2, 17ª
ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996.
JUNIOR, Humberto Theodoro. Processo Cautelar. 21 ed. rev. E atual. São
Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2004.
JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5
ed., Revista e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.
Lei 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais –LEF). Dispõe
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, e dá outras
providências.
MACHADO, Hugo de Brito. Juízo de Admissibilidade na Execução Fiscal.
Revista dialética de direito tributário, nº 22, 1997.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 14 ed. São Paulo:
Malheiros, 1998.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 18 ed. São Paulo:
Malheiros, 2000.

85
MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil – Volume
III. Editora Millenium. Campinas, 2000.
MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. Volume III (2).
9 ed. Campinas, SP: Millenium Editora, 2003.
MARTINS, Sandro Gilbert. A Defesa do Executado por Meio de Ações
Autônomas: Defesa Heterotópica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002 – (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v.50).
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14 ed.
Editora Malheiros. São Paulo, 2002.
MIRANDA, Pontes de. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro, Francisco
Alves. Vol. IV, 1975
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 18. ed., Rio
de Janeiro: Editora Forense, 1996.
MOREIRA, Lenice Silveira. A Exceção de Pré-Executividade em Matéria
Tributária. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
MOREIRA, Lenice Silveira. A exceção de pré-executividade em matéria
tributária. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1998.
MORAES BARROS, Hamilton de. Comentários ao Código de Processo Civil -
Volume 9. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Curso de Direito Tributário. Rio de Janeiro:
Forense, 1986.
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 3. RD. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997

86
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso Didático de Direito Processual Civil. Belo
Horizonte: ed. Del Rey, 1998.
NETO, Olavo de Oliveira. A Defesa do Executado e dos Terceiros aa
Execução Forçada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
NOLASCO, Rita Dias. Exceção de Pré-Executividade. São Paulo: Método,
2003.
PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: Idéias e Ferramentas
Úteis Para o Pesquisador Do Direito. OAB/SC Editora, Florianópolis, 2002.
PAULO, José Ysnaldo Alves. Pré-executividade contagiante no Processo
Civil Brasileiro. Editora Forense, São Paulo, 2000.
PISTORI, Gerson Lacerda. Os Princípios do Processo – Os Princípios
Orientadores. São Paulo. Editora LTr, 2001.
RIBEIRO, Pedro Barbosa; FERREIRA, Paula M. C. Ribeiro. Curso de Direito
Processual Civil: Processo de Conhecimento – Volume II. Editora Síntese.
Porto Alegre, 1997.
ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 4 ed. Editora
Malheiros. São Paulo, 1999.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. Editora
Revista dos Tribunais. São Paulo, 1998.
RODRIGUES, Maria Stella Villela Souto Lopes. Abc do Processo Civil:
Processo de Conhecimento e Processo de Execução. Volume 1 - 7 ed. São
Paulo: revista dos Tribunais, 1997.

87
ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de Pré-Executividade, Matérias de
Ordem Pública no Processo de Execução. Porto Alegre: SAFE ,1996
SANTOS, Ernani Fidélis. Manual de Direito Processual Civil. Vol. 1, 9 ed. São
Paulo: Saraiva, 2002.
SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria Geral do Processo: Concreta, Objetiva,
Atual. – Livro 01. Editora Visual Books. Florianópolis, 2002.
SCHLICHTING, Arno Melo. Teoria Geral do Processo: Concreta, Objetiva,
Atual. – Livro 02. Editora Visual Books. Florianópolis, 2002.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 18 ed. Editora Forense. Rio de
Janeiro, 2001.
STÜRMER, Gilberto. A exceção de pré-executividade nos processos civil e
do trabalho. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2001.
TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de Direito Tributário. Editora
Momento Atual. Florianópolis, 2003.