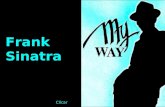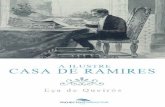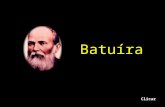A Ilustre Casa de Ramires - Trabalho Final
Click here to load reader
-
Upload
dina-de-carvalho-aparicio -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of A Ilustre Casa de Ramires - Trabalho Final

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
1
A Ilustre Casa de Ramires
- Retrato de uma «Pátria» em decadência
Em 1890, Eça de Queirós decidiu escrever um conto intitulado “A Ilustre Casa de
Ramires”, anunciado na Revista de Portugal. Contudo, no ano seguinte, a obra era já
extensa e, em 1893, contava com 180 páginas. Na época, estava em voga a publicação de
dramas patrióticos, mas o autor não pretendia, nesta sua terceira fase de produção
literária1, um romance histórico, mas um pastiche do género, por isso “decidiu inserir a
novela medieval dentro de um romance de costumes” (MÓNICA, M. F, 2001: 343). Em
1897, a obra começava a ser publicada na Revista Moderna, em folhetins, que, entretanto,
foi encerrada o que comprometeu a continuidade da publicação. O falecimento de Eça, em
1900, deixou a obra incompleta e a revisão das últimas provas foi entregue a Júlio
Brandão. O Manuscrito desapareceu, o que nos levanta dúvidas sobre a quem atribuir a
conclusão da obra (ibid., 344).
Ora, este romance – o último de Eça de Queirós – tem sido objeto de menos
atenção dos estudiosos do que as obras correspondentes à fase realista/naturalista do
autor, apesar da sua riqueza estético-literária, pela “pluralidade de leituras, desde as
simbólicas, que o próprio texto sugere, às que percorrem os caminhos da escrita da novela
histórica que o protagonista constrói, à que procura dar conta do entrelaçar do romance
com a novela […]” (DUARTE, I. M., 2004: 215). A intenção de Eça, ao escrever um
romance de natureza histórica, suscitou algumas explicações, como “mostrar como era
possível, depois do realismo, continuar a escrever romances históricos, libertos dos
estereótipos de género e da retórica romântica […]” (ibid., 220). Hernâni Cidade,
contestando uma crítica de Costa Pimpão2 a este romance, destaca a influência que a
1 Esta terceira fase realista do autor evidencia, segundo Maria Aparecida Ribeiro, não um retrocesso em termos
estilístico-literários, mas “a sua constante reflexão sobre a arte de um modo geral e sobre o fazer literário em particular” (2000: 181). 2 Escreve Costa Pimpão, em Escritos Diversos, de 1972: “Desta breve análise à essência moral do romance, parece-me
poder concluir que não há nele duas faces: uma voltada para o passado, outra voltada para o presente, mas uma face

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
2
antiga energia do passado heroico pode ter na afirmação do presente e na reconstrução do
futuro:
Nenhum romance histórico […] é, tanto como este, adequado à demonstração da eficácia do
género para a ressurreição duma alma amortecida, por insinuação das energias evocadas de
antepassados históricos. Pode, talvez, admitir-se como possível de Eça a tese da ineficiência
da novela histórica no fortalecimento das energias coletivas. Mas seria bem estranho que,
para provar tal ineficácia, se pusesse tão poderosamente evidente a transformação, por uma
novela duma vida individual (CIDADE, H., 1975: 65).
O enredo principal da obra conta-nos “a vida de Gonçalo Mendes Ramires, bacharel
de Direito por Coimbra, descendente de uma casa anterior ao reino de Portugal” (MATOS,
A. C., 1993: 508), contemporâneo do Constitucionalismo e das consequências trazidas por
uma crença social exacerbada no positivismo, perfeitamente identificável com a
desorientação e o desencanto sentidos pelos “Vencidos da Vida”, os sobreviventes da
Geração de 70 que acreditaram na renovação social a curto prazo. Gonçalo Ramires,
inflamado pelos ideais patrióticos de Castanheira, um colega de Coimbra, resolve escrever
a história dos seus heroicos avoengos – A Torre de D. Ramires -, uma “novela onde
pretende reconstruir a vida dos seus antepassados e restaurar o sentimento de amor a
Portugal, ganhando, assim, do mesmo passo notoriedade e importância” (ibid., 807). A
escrita surge na sua vida não como um talento ou um apelo naturais, mas pela sua
necessidade de dinheiro e de ascensão social, um meio através do qual poderia chegar a
deputado em Lisboa e resolver os problemas que o afligiam e, apesar da sua origem
aristocrata, o confrontavam com uma existência dual, compactuando com o jogo de
interesses e conveniência social que lhe permitiriam ascender socialmente. Baseado num
poema deixado pelo tio Duarte e pelo Fado do Videirinha3, sem outras pesquisas mais
credíveis e adicionais, vai escrevendo a história dos Ramires e contactando com os feitos
heroicos de uma família que, ao longo dos séculos, acompanhou o processo e formação e
expansão da nacionalidade, destacando-se por valores caídos em desuso – no presente
de Gonçalo – como a honra, a lealdade, a coragem, o autossacrifício. Enquanto escreve,
depara-se com aquilo que lhe falta, embora, como o leitor se vai apercebendo, algo de
bom lhe permanece nos genes. Fidalgo falido, dono de uma Torre em ruínas, revela-se
cobarde ao fugir de Casco e mandá-lo prender injustamente, depois de lhe ter prometido
que lhe arrendaria as terras e ter faltado à palavra em prol de um negócio mais proveitoso,
única: a condenação do nacionalismo literário, de expressão tradicionalista, como fator de regeneração moral e de progresso social” (apud CIDADE, H., 1975: 64). 3 Ajudante de farmácia, filho de padeiro e da costureira da Torre, é o autor dos Fados de Ramires, acaba por ser
promovido a amanuense da administração do concelho de Vila Clara, aquando da promoção de Gonçalo a deputado.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
3
aproveita esse facto para se aproximar de André Cavaleiro, seu inimigo visceral – não
obstante o esforço e os problemas de consciência que isso lhe trouxe -, pois, após a morte
de Lucena, o velho deputado que se representava Oliveira em Lisboa, seria ele “a fenda”
que lhe permitiria ter assento na Assembleia. A sua ganância pelo lugar fê-lo sacrificar a
honra da própria irmã que representava aquilo que a descendência dos Ramires tinha
como mais puro e intocável, facilitando o seu adultério com André Cavaleiro, seu antigo
namorado que, vergonhosamente, lhe faltara às promessas feitas. Pondera, ainda, casar
com D. Ana de Lucena, mulher que, de início, o repugna, mas que, depois de conhecer o
seu interesse nele – belo fidalgo português - e o valor da sua renda de duzentos contos de
réis, o tenta e cativa.
Por outro lado, temos um Gonçalo capaz de ser naturalmente generoso, como se
pode ver pela forma como empresta a sua égua a um homem ferido, como trata a família
do Casco que lhe aparecem na herdade, numa noite de chuva, a suplicar pela libertação
do homem, agasalhando a mulher com a sua própria capa e tratando do filho que estava
doente, curando-o na sua casa. Notamos a sua delicadeza de sentimentos quando o avô
de Rosa de Rio Manso lhe descreve o dia em que o observou brincar com a neta, ainda
criança, e presenteá-la com um belo ramo de rosas. Percebemos a voz da sua
consciência, a sua divisão interior, quando sabe que não age bem, e que as suas
ambições políticas, independentemente da necessidade de dinheiro e estabilidade, se
prendem também com a crença de que a verdadeira aristocracia deve fazer parte da elite
dirigente do País.
João Medina, num artigo de 1973, compara Gonçalo a Hamlet4, o príncipe da
Dinamarca que, alertado pelo fantasma do pai, se apercebe da podridão moral e social do
reino. Esta analogia remete-nos, de imediato, para a novela histórica que Gonçalo se
esforça por escrever, pois, é através da narração – alimentada pela imaginação do autor –
da história dos Ramires que lhe permite fazer o contraste entre
o Passado heroico, viril e afirmativo dum Portugal medievo, cheio de virtudes, anterior ao
absolutismo […] e o Portugal contemporâneo de Eça, o Lilliput constitucional, hamlético,
decaído, afrancesado, onde vagueia o doido da Pátria de Junqueiro, abraçado ao livro que
fundiu a epopeia e o epitáfio num mesmo canto (1973: 27).
Temos, desta forma, o antagonismo evidente entre o Portugal afonsino, forte e ativo,
das grandes conquistas e o Portugal “bragantino, constitucional, finissecular, arruinado,
4 MEDINA, João (1973) – “Gonçalo Mendes Ramires, personagem hamlético”, in Colóquio / Letras, nº 14, pp. 27-39

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
4
sem energias morais nem físicas” (ibid., 27-28). Neste contexto, a estirpe dos Ramires,
outrora ativa na construção da nacionalidade, está agora confinada ao hamlético Gonçalo,
em toda a sua humanidade e consequente pluralidade, “príncipe sem principado numa
Dinamarca que é uma prisão, num país onde uma secreta e invisível chaga gangrena a
alma dos seus filhos” (ibid., 28) – a chaga da imobilidade, do comodismo, da inatividade,
fruto da “vitória do liberalismo capitalista e da instauração dum governo baseado na ideia
da representatividade e, portanto, das maiorias” (id.). Simbólicos deste abatimento dos
Ramires são a Torre de Sta. Ireneia em ruínas, votada ao abandono, e o esboroamento do
brasão da família, lembrando-nos que “aquilo que foi glória é agora tristeza e miséria” (id.).
No entanto, não devemos convencer-nos que esta obra transmite uma visão
definitivamente pessimista da crise identitária nacional. O processo de narração das
honras e façanhas do passado exercem em Gonçalo um efeito catártico, favorecendo a
sua autognose e crescimento. No dia em que enfrenta, com um chicote dos antepassados,
o “rapaz das suíças louras” que o provocava – o Ernesto das Narcejas -, Gonçalo, que até
aí se comportava de forma apática e cobarde, metamorfoseia-se e torna-se herói
reconhecido, regenera-se como se, através desse castigo exemplar, concretizasse o
resgate nacional do traumatismo e da humilhação provocados pela agressão estrangeira
(id.).5 Ao enfrentar o rapaz que o provocava, Gonçalo, com os genes dos seus
antepassados e a memória inflamada pelo heroísmo que sempre os distinguiu, transforma-
se naquilo que em Portugal ainda “subsistia como autêntico, positivo e carregado de
esperança futurante” (ibid., 29).
Ao resgatar a honra dos Ramires, o Fidalgo assume-se como um “retrato-símbolo
do País”, resgatando a comunidade e avivando a nossa memória coletiva. “A resposta
parece ser só uma. Pelo recurso aos fundamentos mesmos da nacionalidade, ou seja,
reacordando as forças duma nação prostrada, mas ainda capaz de grandeza e de vida”
(ibid., 30). A restauração da Torre6 e de todo o seu simbolismo significa a reconstrução de
Portugal, não pelo exterior, “mas por uma conversão interna, por uma alquimia da alma
coletiva” (id.). A partir do momento da sua metamorfose interior, Gonçalo recupera a sua
“verdadeira estatura” e recusa a apatia hamlética, inibidora de uma ação positiva e
5 Note-se que o Autor insiste na descrição física de Ernesto das Narcejas – as suíças louras e a palidez da sua pele – o
que nos faz lembrar as características fisionómicas dos ingleses. Nesta altura, Inglaterra era símbolo de humilhação nacional, devido ao Ultimatum Inglês. 6 Na tradição cristã, a Torre é um “símbolo de vigilância e ascensão” – espreitar eventuais inimigos, mas também
intensificar as relações entre Terra e Céu, a harmonia e a unidade (CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A., 1994: 649).

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
5
edificante. Revê os seus valores, afasta-se da política e os jogos de interesse, procurando
na aventura e no esforço pessoal a fortuna que um fidalgo da sua estirpe merece e
consegue adquirir por meios legítimos. Parte para África7, enriquece à custa do trabalho,
regressa a Portugal e casa com Rosinha de Rio-Manso. João Medina atribui a sua
salvação ao facto de se impor pela vontade própria, pelo sentido de aventura e renovação,
que seria a fórmula para “redescobrir Portugal, reaportuguesar os Portugueses, sair do
sonho dogmático em que vivem como sonâmbulos, acordar as energias latentes que neles
dormem, reencontrar o País real” (1973: 39).
Este romance parece-nos o culminar do processo de problematização e
consciencialização da realidade portuguesa, iniciado pela Geração de 70 que, através da
Questão Coimbrã, ao mesmo tempo que anunciava o despertar de uma nova forma de
Arte, “implicou uma perspetivação global do País e a tentativa consciente de conjugação
de objetivos de ordem filosófica e literária, mas, também, de ordem social e política”, que
passava por uma atitude regeneradora e de «revisão de valores» (PIEDADE, A. N., 2008:
146). Este grupo de jovens, que se destacou na sua época, não só pelo seu «europeísmo
cultural», mas também pela busca das «raízes históricas da decadência» (id.), propunha
uma reforma do estilo de vida e da literatura, como forma de reeducar mentalidades – a
Arte ao serviço da sociedade, à luz do positivismo científico que (sobre)valorizou o coletivo
em detrimento do individual. Por conseguinte, consideramos que o conteúdo ideológico e
cultural d’ A Ilustre Casa de Ramires reflete uma postura consciente dos efeitos que o
excesso de positivismo e de «civilização» tiveram no ser humano, o que acaba por se
traduzir na modernidade e atualidade do pensamento eciano. Conhecedor do mundo e dos
homens, percebeu que as respostas não se encontram em laboratório. Enquanto jovem, foi
apologista da «civilização» cuja ponte de acesso era a Europa, mas, mais tarde, reconhece
que a esta mesma «civilização», outrora tão promissora, abafou o que o homem tem de
mais genuíno – o encontro consigo próprio e com a sua natureza -, tornando-o num ser
amorfo e melancólico:
Eu ainda me recordo de ter ouvido, na minha infância e na minha terra, a gargalhada – a
antiga gargalhada, genuína, livre, franca, ressoante, cristalina!... Vinha da alma, abalava
todas as vidraças duma casa, e só pelo seu toque puro, provava a força, a saúde, a paz, a
7 A referência a África e ao colonialismo tem gerado alguma discussão entre os estudiosos, por ser ambígua e aberta a
duas posições opostas por parte do Autor. Nesta investigação, este pormenor parece-nos pouco significativo, visto que concordamos com João Medina quando refere que África, nesta obra, simboliza a necessidade de esforço, empenho e espírito de aventura para poder haver renovação. Acrescentamos que esta obra de Eça teve uma “preferência especial” pelo regime de Salazar, precisamente pela leitura pró-colonialista.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
6
simplicidade, a liberdade! […] Eu penso que o riso acabou – porque a humanidade
entristeceu. E entristeceu – por causa da sua imensa civilização. […] Os homens de ação e de
pensamento, hoje, estão implacavelmente votados à melancolia” (QUEIRÓS, E., 2000: 214-
215).8
A ausência de autenticidade do ser humano conduziu-o à apatia e à incapacidade
para a ação que Eça critica na sua obra, em geral, e no romance em estudo, em particular.
Por outro lado, em 1893, no artigo “Positivismo e idealismo”, o Autor manifesta-se sobre a
reação contra o naturalismo e a necessidade que o indivíduo voltou a ter de algo que lhe
alimentasse a alma, a imaginação, atribuindo ao positivismo científico a causa do
descrédito em que caiu o movimento realista: “A causa é patente, está toda no modo brutal
e rigoroso com que o positivismo tratou a imaginação, que é uma tão inseparável e
legítima companheira do homem, como a razão.”9 Tal como reforça Carlos Reis, “a
evolução literária queirosiana não constituiu, na década que vai de 1880 a 1890, um
processo isolado; ela inscreve-se na crise de confiança que atinge a cosmovisão
naturalista e […] a crença na suposta coesão dos valores do Positivismo”10.
É precisamente neste ponto, neste acompanhar do fluir dos tempos, na
problematização e consciencialização da necessidade de seguir em frente, rumo à
modernidade, que Eça de Queirós retoma o seu alter ego Fradique Mendes. Relembramos
que Fradique começou por ser uma produção coletiva, criada, entre 1868-1869 por Eça,
Antero e Batalha Reis, numa tentativa de agitar a apatia de Lisboa, pela sua atitude
satânica e provocadora11 e que, ressurge uma segunda vez, em 1870, fruto de uma
parceria de Eça e Ramalho Ortigão. Em 1885, “praticamente coincidindo com o
distanciamento eciano face à ortodoxia naturalista, acontece a última e decisiva aparição
de Fradique Mendes, motivada agora por uma exclusiva iniciativa de Eça de Queirós que
[…] o configura como um mítico poeta-dândi”12, uma voz de “consciência dialogante e
problematizadora”, que permite a Eça libertar-se das ideias do passado, alargando a sua
intervenção à modernidade, aos novos tempos, adaptando-se-lhes e estabelecendo pontes
que prenunciam o aparecimento do grupo do Orpheu e a constante busca de respostas
para uma Pátria em decadência que – ainda – desconhece que a sua verdadeira
regeneração reside no indivíduo.
8 Excerto do artigo “A decadência do riso”, in História Crítica da Literatura Portuguesa [Realismo e Naturalismo], Vol. VI.
9 In, Op. Cit., p. 218
10 Excerto do artigo “Fradique Mendes – origem e modernidade de um projeto heteronímico”, in Op. Cit., p. 239
11 Atitude decadentista tipicamente Baudelairiana.
12 PIEDADE, Ana Nascimento – “MENDES, Fradique”, in Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, p.
450.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
7
Nesta perspetiva, Fradique Mendes consiste no intermediário entre o prognóstico
evidenciado pela obra A Ilustre Casa de Ramires, em que Eça defende o retorno aos
valores da elite aristocrática – por representar a genuinidade que poderá resgatar a Pátria
da decadência – e os princípios individualistas essenciais ao processo ontológico da
identidade nacional, o que nos remete para o ideário pessoano. Entre Fradique e Pessoa,
é visível uma “sintonia resultante de algumas afinidades que, não iludindo inegáveis
divergências, fundamenta, por outro lado, uma efetiva antecipação queirosiana do
modernismo pessoano”.13 Pelo seu individualismo exacerbado e pela atitude de rebeldia
contra “as normas e valores da sociedade burguesa”, o Fradiquismo “reflete com grande
antecedência, ainda que de forma ambivalente […] a decisiva mutação sociocultural que o
Modernismo protagonizou”.14
A Ilustre Casa de Ramires torna-se, assim, segundo Eduardo Lourenço, ao
relacionar o regresso de Eça a Tormes e a «simplificação bucolizante» da realidade
portuguesa como valor a cultivar e a exaltar, o “desnudar, sob o manto nem sempre
diáfano da fantasia, a verdade do mundo português” (2005: 97).
[A pátria] era realmente um ser vivo, capaz de metamorfose e redenção caseira 8e não por
abstrata África evocada), esse povo que ele descrevera, pintara como amorfo, fadista,
contente com a sua mediocridade como poucos? Teriam razão esses novos snobs – mistura
de Fradiques de entre Douro e Guadiana e de Gonçalos revividos – ao anunciar-lhe como
uma revelação a descoberta de um país único na sua rusticidade exemplar, mística sem
mística, país de cavadores líricos, de pescadores mais líricos ainda, de moinhos de farinha terrestre e celeste como António Nobre os acabava de sonhar, para cobrir com as suas asas
brancas a negrura do País perdido onde também os deuses lares o tinham feito nascer?
(ibidem, pp. 97-98)
A resposta à questão do “ser e o destino de Portugal como horizonte de aventura
literária converter-se-iam nos finais do século em autêntica obsessão” (ibid., 98) e, depois
de autores como Antero, Cesário Verde, Guerra Junqueiro terem convertido Portugal num
“conglomerado de diminutivos, aceita-se e explora-se na sua folclórica miséria” (id.). A
Pátria-Saudade de Teixeira de Pascoaes, filosoficamente, defende o retorno às qualidades
da Raça15 como redentora e dialoga com a Mensagem, de Fernando Pessoa, obra de
natureza mítico-simbólica, que anuncia um Quinto Império – não material, mas espiritual –
13
Ibidem, “Eça de Queirós”, p. 696. 14
Id. Ainda sobre Fradique e Pessoa, podem ler-se os artigos “Estratégias da Modernidade em A Correspondência de Fradique Mendes”, da autoria de Ana Nascimento Piedade, e “Fradique Mendes – origem e modernidade de um projeto heteronímico”, de Carlos Reis. 15
Palavra diversas vezes repetida por Eça de Queirós n’ A Ilustre Casa de Ramires, referindo-se ao que de genuíno nos foi transmitido pelos nossos antepassados, conceito coincidente com o utilizado por Pascoaes.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
8
que se concretizará, quando as forças psíquicas e genéticas latentes na nossa memória
coletiva acordarem para a necessidade de uma ação futurante e futurizante.
A perdição do indivíduo, vítima de uma sociedade massificada que ameaçava a
identidade nacional, assume-se como tema e ação central em Fernando Pessoa e na
Geração do Orpheu, pela urgência de afirmar o indivíduo na sua unidade e, no caso de
Pessoa, na busca do indivíduo por meio da pluralidade. Os escolhidos, os eleitos do Quinto
Império são todos os Gonçalos Ramires que sentem, dentro de si, o chamamento da
«Pátria». Uma «Pátria» que precisa de ser revigorada e resgatada pelos valores antigos
que ainda ressoam na alma dos descendentes de conquistadores e descobridores.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
9
BIBLIOGRAFIA ATIVA
QUEIRÓS, Eça de (1993) – A Ilustre Casa de Ramires, Lisboa, Círculo de Leitores.
BIBLIOGRAFIA PASSIVA
CIDADE, Hernâni (1975) – “A Ilustre Casa de Ramires e um juízo de Costa Pimpão”,
[Crítica a Escritos Diversos, de Costa Pimpão], in Colóquio / Letras, nº 23,
Janeiro, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 63-65.
DUARTE, Isabel Margarida (2004) – “A Ilustre Casa de Ramires – Maturidade do relato de
discurso em Eça de Queirós”, in Atas do Colóquio Internacional Literatura e
História, Vol. I, Porto, pp. 213-219.
LOURENÇO, António Apolinário (2009) – Fernando Pessoa, Lisboa, Edições 70.
LOURENÇO, Eduardo (2004) – O Lugar do Anjo – Ensaios Pessoanos, 1ª edição, Lisboa,
Gradiva.
LOURENÇO, Eduardo (2005) – O Labirinto da Saudade, 4ª edição, Lisboa, Gradiva.
LOURENÇO, Eduardo (2006) – As Saias de Elvira e Outros Ensaios, 1ª edição, Lisboa,
Gradiva.
MARTINS, Fernando Cabral (2008) – Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo
Português [org. e coord.], Lisboa, Caminho.
MATOS, A. Campos (1993) – Dicionário de Eça de Queirós [org. e coord.], Lisboa,
Caminho.
MEDINA, João (1973) – “Gonçalo Mendes Ramires, personagem hamlético”, in Colóquio /
Letras, nº 14, Julho, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 27-39.
MÓNICA, Maria Filomena (2001) – Eça de Queirós, Braga, Círculo de Leitores.
PEREIRA, José Carlos Seabra Pereira (2004) – História Crítica da Literatura Portuguesa
[do Fim-de século ao Modernismo], Vol. VII, 2ª edição, Lisboa, Editorial Verbo.
QUEIRÓS, Eça de (1912) – A Correspondência de Fradique Mendes (Memórias e Notas),
Porto, Lello & Irmão Editores.
REIS, Carlos (2009) – Eça de Queirós, Lisboa, Edições 70.
RIBEIRO, Maria Aparecida (2000) – História Crítica da Literatura Portuguesa [Realismo e
Naturalismo], Vol. VI, 2ª edição, Lisboa, Editorial Verbo.

Temas de Cultura Portuguesa II – Trabalho Final Professora Dra. Ana Nascimento Piedade
Mestranda: Dina Carvalho Aparício Ano Letivo: 2010/2011
10
SIMÕES, João Gaspar (1981) – Eça de Queirós – a obra e o homem, 4ª edição, Lisboa,
Arcádia.
ORTIGÃO, Ramalho (1991) – Farpas Escolhidas, [seleção e introdução por Ernesto
Rodrigues], Biblioteca Ulisseia de Autores Portugueses, s/l, Ulisseia.
PIEDADE, Ana Nascimento (2008) – Outra Margem – Estudos de Literatura e Cultura
Portuguesas, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CATROGA, Fernando e CARVALHO, Paulo A. M. Archer (1996) – Sociedade e Cultura
Portuguesas II, Lisboa, Universidade Aberta.
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1994) – Dicionário de Símbolos, Lisboa,
Teorema.
COELHO, Jacinto do Prado (1992) – Dicionário de Literatura,4ª edição, Vol. II, Porto,
Figueirinhas.
SERRÃO, Joel (s/d) – Portugueses Somos, Lisboa, Livros Horizonte.
SERRÃO, Joel (1990) – Da “Regeneração” à República, Lisboa, Livros Horizonte.
SIMÕES, João Gaspar (s/d) – A Geração de 70, Cadernos Culturais, Lisboa, Editorial
Inquérito.