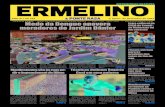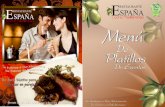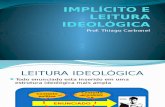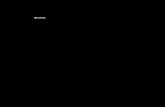A IMPORTÂNCIA DO IMPLÍCITO NA ELABORAÇÃO DOS · PDF fileMussalim e...
Transcript of A IMPORTÂNCIA DO IMPLÍCITO NA ELABORAÇÃO DOS · PDF fileMussalim e...
A IMPORTÂNCIA DO IMPLÍCITO NA ELABORAÇÃO DOS SIGNIFICADOS
Roseli Marinelli RodriguesGraduada em Letras-Português pela UFPR em 1991.
Pós-Graduada em Psicopedagogia pelo IBPEX em 2000.Professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Fundamental e Médio na Rede
Estadual do Paraná, desde 1989.email [email protected]
Professor Orientador: Arnaldo SbalqueiroProfessor do Departamento de comunicação e expressão da UTFPR
Mestre em Lingüìstica pela UFSCemail [email protected]
RESUMO Este trabalho se propõe a discutir e analisar as dificuldades que os alunos do Ensino Médio apresentam para ler, interpretar e/ou compreender textos jornalísticos orais ou escritos. É fato que estes alunos estão constantemente lendo e ouvindo notícias e reportagens veiculadas nos mais variados meios de comunicação, devido ao avanço da tecnologia. O que ocorre com muita freqüência é a não interação do leitor com a leitura, ou seja, não há produção de significados. O estudo partiu da análise do conceito de textos, gêneros textuais e também da reflexão sobre três elementos ligados a esta coerência (intencionalidade, contextualização e inferência) e de suas implicações para a concretização da leitura significativa. Entender que um texto pode apresentar implícitos, pressupostos, subentendidos é essencial para que o leitor faça suas inferências e posicione-se sobre esta leitura. A consciência destes elementos poderá levar o aluno a deixar de ser um leitor ingênuo e, conseqüentemente, subsidiar a sua argumentação, tornado-a mais consistente. Estas reflexões levaram ao desenvolvimento de algumas atividades específicas, que foram implementadas nas aulas de Língua Portuguesa, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos para estes elementos durante a leitura. Após o estudo, e analisando os resultados obtidos, observou-se que a escola deve tornar-se um espaço para isso, fazendo a intervenção necessária no processo.
Palavras-chave: Leitura, interpretação, implícito, intencionalidade, significado.ABSTRACT
This paper aims to discuss and analyze the difficulties that students in high school have to read, interpret and / or journalistic understand texts written or oral. It is a fact that these students are constantly reading and listening to stories and reports carried in a wide variety of media, due to the advancement of technology. What happens too often is not the reader's interaction with the reading, ie there is no production of meanings. The study started examining the concept of texts, textual genres and also of reflection on three elements involved in this order (intent, context and inference) and its implications for the achievement of significant reading. Understand that a text may make implicit, assumptions, is expected essential for the player to make inferences and its position on this reading. Awareness of these elements could lead the student to stop being a player naive and thus support their arguments, making it more consistent. These discussions led to the development of some specific activities, which were implemented in the Portuguese-speaking classes, aiming to draw the attention of students for these items during the reading. After studying and analyzing the results, it was observed that the school should become a place for it, making the necessary intervention in the process.
Keywords: reading, interpretation, implied, intent, meaning.
1. INTRODUÇÃO
A leitura de textos produzidos por alunos do Ensino Médio leva à reflexão
do porquê a maioria desses estudantes têm tanta dificuldade para interpretar
um texto e depois refletir, tomar posições, argumentar, escrevendo sobre o
tema sugerido.
Perceber a intencionalidade, contextualizar e fazer suas próprias
inferências ao ler ou ouvir uma notícia ou reportagem parecem ser os maiores
problemas. A maioria dos alunos está exposta a estes textos constantemente,
porém quando solicitados a interpretar e a posicionar-se tendem a incorporar
os discursos lidos, assumindo-os como verdadeiros sem questioná-los e
acabam apenas reproduzindo-os.
A escola precisa tornar-se um espaço que ajude estes alunos a
decodificarem estas leituras, levando-os à produção do discurso após a leitura
do mundo. A exposição dos jovens a muitos e variados textos, com o avanço
das tecnologias, é inerente. Cabe então à escola aproveitar esta gama de
material para levar o aluno a perceber: tanto a importância de se fazer estas
leituras, como a de refletir e posicionar-se perante seus conteúdos e seus
autores.
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância de os alunos do
Ensino Médio, com a ajuda escola, utilizarem com mais propriedade e
objetividade o grande número de textos a que todos são expostos diariamente,
através dos mais variados meios e tecnologias. A escola e os professores,
apropriando-se das produções, devem levá-las até o aluno, objetivando
interpretar, discutir e analisar profundamente alguns elementos da coerência
textual: a intencionalidade, a contextualização e a inferência. A partir desta
análise o aluno estará “pronto” para refletir e inferir sobre o tema e o texto.
Para fazer inferências a um tema ou conteúdo o leitor não pode ser
ingênuo. O que se percebe é que a leitura ingênua é realizada pela maioria dos
alunos do Ensino Médio. Apesar de se ter certeza que inúmeras são as causas
para este tipo de leitura, opta-se neste estudo, por trabalhar apenas com três
elementos da coerência textual: a intencionalidade, a contextualização e a
inferência.
Estão delimitados também neste estudo os gêneros textuais a serem
analisados por alunos e professores: a notícia e a reportagem. A experiência
de sala de aula leva a estas delimitações, pois se percebe a superficialidade da
leitura e da análise das mesmas, na grande maioria dos alunos. Ao mesmo
tempo nota-se que nas outras disciplinas, além da Língua Portuguesa, parece
não haver um direcionamento nesse sentido, pois a fragmentação é muito
presente na prática pedagógica.
Esta análise visa contribuir também para que os professores
tenham mais elementos para tornar a argumentação dos seus alunos mais
consistente. A partir do momento que estes alunos sejam “instigados” por
várias vezes a perceberem as intenções do autor e a contextualizar,
naturalmente tornar-se-ão leitores maduros, farão suas inferências e tomarão
posicionamentos, tanto nas produções orais como na escrita. Assim se
perceberão como seres históricos e co-responsáveis pelas transformações
sociais.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Primeiras Palavras A interpretação, compreensão e produção de textos dos alunos nas
aulas de Língua Portuguesa tornaram-se um grande desafio aos professores.
Este desafio “foge” do âmbito desta disciplina, pois a atividade comunicativa
abrangente, que engloba a leitura e a interpretação, visando à produção do
discurso precisa ser uma constante busca de todos os professores, em
qualquer área do conhecimento. Para se chegar a resultados satisfatórios é
necessário que haja alguma convergência das várias áreas, no sentido de
colaborar para que o aluno adquira algumas habilidades ao ler ou ouvir um
texto e esteja mais atento aos elementos que o constituem.
A leitura exige uma série de procedimentos específicos para o seu
desenvolvimento. Considerando o grande número de textos jornalísticos
(notícias e reportagens) a que os alunos estão expostos diariamente, é
necessária uma preocupação no sentido de auxiliá-los a observarem a
intencionalidade do autor, bem como aprenderem a contextualizar as
informações ali contidas.
A identificação e compreensão destes fatores ou mecanismos da
coerência textual, apesar de serem apenas três dentre vários, são essenciais
para que os alunos tornem-se leitores competentes, deixando de ser leitores
ingênuos e, conseqüentemente, extrapolem a superficialidade das leituras
realizadas.
O leitor competente faz inferências, pois: “Inferência é a operação pela qual, utilizando seu conhecimento de
mundo, o receptor (leitor, ouvinte) de um texto estabelece uma
relação não explícita entre dois elementos (normalmente frases ou
trechos) deste texto que ele busca compreender e interpretar.”
(KOCH e TRAVAGLIA, 1991:65)
É muito importante que o aluno tenha consciência desta operação no
momento que faz sua leitura para que tenha condições de compreender e
interpretar o texto. Ou, quando não inferir sobre o que está lendo , busque
elementos necessários para que isso aconteça.
A análise de textos (orais ou escritos), observando os fatores acima
mencionados, em sala de aula, é fundamental para que os alunos reconheçam-
se como parte do processo dialógico da leitura.
2.2 O conceito de texto e algumas implicaçõesA conceituação de texto, assim como a criação de qualquer outro
conceito científico, resulta de uma longa discussão entre teóricos dentro de um
processo que leva a muitas reflexões. Segundo Mussalim e Bentes (2001),
“sempre teremos à nossa disposição mais de uma definição de texto”, por isso,
neste estudo opta-se pelas definições de Koch e Marcuschi para orientar as
reflexões e também para subsidiar o trabalho e outros professores, inclusive
professores de outras disciplinas.Poder-se-ia, assim conceituar o texto, como uma manifestação
verbal constituída de elementos lingüísticos selecionados e
ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo a
permitir aos parceiros, na interação, não apenas a depreensão de
conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de processos e
estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou
atuação) de acordo com práticas socioculturais. (KOCH, apud
Mussalim e Bentes 2001:222)
Como se pode observar este é um conceito bastante amplo, mas que
serve muito bem ao objeto tratado neste estudo. Texto como manifestação
verbal, com elementos lingüísticos selecionados, permitindo a interação de
ordem cognitiva e de prática socioculturais. É esta a visão que interessa à
prática pedagógica de Língua Portuguesa. É a partir deste conhecimento que
as aulas desta disciplina deveriam ser pensadas. A interação do aluno com o
autor e com o texto precisa acontecer de fato e não apenas superficialmente,
como ocorre na maioria das vezes em sala de aula nas atividades de leitura e
compreensão, propostas por professores ou pelos livros didáticos. Proponho que se veja a Lingüística do Texto, mesmo que
provisória e genericamente, como o estudo das operações
lingüísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção,
construção, funcionamento e recepção de texto escritos ou orais. Seu
tema abrange a coesão superficial ao nível dos constituintes
lingüísticos, a coerência conceitual ao nível semântico e cognitivo e o
sistema de pressuposições e implicações a nível pragmático da
produção do sentido no plano das ações e intenções. Em suma, a
Lingüística Textual trata o texto como um ato de comunicação
unificado num complexo universo de ações humanas. Por um lado,
deve preservar a organização linear que o tratamento estritamente
lingüístico, abordado no aspecto da coesão e, por outro lado, deve
considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear: portanto
dos níveis do sentido e intenções que realizam a coerência no
aspecto semântico e funções pragmáticas. (MARCUSCHI, 1983. apud
MUSSALIM e BENTES 2001:255)
Esta proposta de Marcuschi para o tratamento da Lingüística Textual
aponta para a necessidade de tratar um texto como uma ação comunicativa e
não como algo estanque e terminado em si mesmo. Fazer análises lingüísticas
sem considerar os três aspectos aqui apresentados parece sem sentido. O que
se propõe é que, em sala de aula, se chegue ao terceiro nível desta análise: as
implicações a nível pragmático da produção do sentido no plano das ações e
intenções.
O texto não pode ser considerado como algo acabado, pois faz parte da
atividade comunicativa que é sempre dialógica.Para haver relações dialógicas é preciso que qualquer material
lingüístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha
entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado num
enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social. Só assim é
possível responder (em sentido amplo e não empírico do termo), isto
é, fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida favorável à
palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-la, buscar-lhe um sentido
profundo, ampliá-la. Em suma, estabelecer com a palavra de outrem
relações que geram significado responsivamente a partir do encontro
de posições avaliativas. (FARACO, apud. Diretrizes Curriculares do
Paraná para Língua portuguesa 2006:19)
Não basta ler e interpretar um texto, é necessário ir além muito disso. O
leitor precisa criar um significado sobre o que lê, para poder estabelecer
relações mais profundas com a palavra do outro. Estas relações podem ser de
aproximação ou de distanciamento, ao confirmar ou rejeitar esta palavra. Este
processo parece esquecido na escola, pois esta dialogia quase nunca
acontece.
“A produção textual é uma atividade verbal, verbal consciente e
interacional.” Mussalim e Bentes (2001:254). Aqui parece afirmar-se a
importância de uma das faces do objeto deste estudo, no que diz respeito aos
mecanismos de coerência textual delimitados (intencionalidade e
contextualização) e também aos gêneros textuais a serem analisados, textos
jornalísticos (notícias e reportagens). É muito relevante que o aluno/leitor
constate que o autor principalmente destes gêneros textuais sabe o que diz,
como diz e com que propósitos diz. “O autor apropria-se de um modelo de
dizer, que tem origem em determinado lugar social e que orienta a atividade
enunciativa para a qual selecionou.” Voese (2004:125)
A interação com a palavra do outro também é fundamental para que o
aluno/leitor concretize a dialogia, pois para o leitor aproximar-se do interlocutor,
e vice-versa, necessariamente se passa pela palavra. Esta face dupla da
palavra precisa se percebida pelo aluno/leitor e também pelo professor. Não
haverá dialogia se não houver interação, e se não há esta interação de nada
valeu a leitura e nem todas as atividades propostas para aquele texto. Assim
confirma-se a importância da criação de um significado, diante da leitura, por
parte do leitor.Na realidade toda palavra comporta duas faces. Ela é
determinada pelo fato que procede de alguém, como pelo fato de que
se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação
do locutor e do ouvinte. Toda a palavra serve de expressão de um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro,
isto é, em ultima análise, relação à coletividade. A palavra é uma
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia
sobre mim numa extremidade, na outra se apóia sobre meu
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do
interlocutor.” (BAKHTIN, apud. MUSSALIN 2001:255)
2.3 Os Gêneros Textuais: Uma pequena reflexãoA opção pela análise de texto jornalístico (reportagem e notícia), orais ou
escritos, fundamenta-se na prática de sala de aula e também devido ao grande
contato de alunos e professores com estes textos. Parece importante neste
momento definir gêneros textuais, inclusive para distinguir de tipos textuais,
nomenclatura utilizada muitas vezes equivocadamente. Apresentamos então
uma definição de tipo textual:Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de
construção teórica definida pela natureza lingüística de sua
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações
lógicas, etc). Em geral os tipos textuais abrangem cerca de meia
dúzia de categorias conhecidas como: argumentação, narração,
exposição, descrição e injunção. (MARCUSCHI, 2002: 22)
Observa-se pela definição de tipo textual aqui proposta que a noção de
tipo textual está intrinsicamente ligada à determinadas seqüências lingüísticas
típicas, que podem ser de: localização, analítica, explicativa, contrastiva ou
imperativa. Sendo assim, normalmente encontra-se mais de um tipo textual
dentro de um mesmo texto. Numa carta a um amigo, que faz muito tempo que
não vemos, por exemplo, temos: Gênero: carta pessoal; a tipologia depende do
que escrevemos e como escrevemos, pois, se citarmos o nascimento de um
bebê, é bem possível que o texto passe pela narração e pela descrição. O
gênero textual está ligado diretamente à praticidade da língua: a circulação
sócio-histórica, a funcionalidade, o conteúdo temático, o estilo e a
complexidade. Vejamos:Usamos a expressão gênero textual como uma noção
propositadamente vaga para referir os textos materializados que
encontramos em nossa vida e que apresentam características
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição
característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os
gêneros textuais são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais:
telefonema, sermão, carta pessoal, carta comercial, romance, bilhete,
reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, receita culinária,
bula de remédio, lista de compras, cardápio, instruções de uso,
outdoor, inquérito policial, resenha, edital, piada, conferência,
conversação espontânea, carta eletrônica, bate papo por computador,
aulas virtuais e assim por diante. (MARCUSCHI, 2002:23)
A grande variedade de gêneros textuais que circulam na nossa
sociedade se constitui num material riquíssimo para instrumentalizar as aulas.
Porém, o que se observa é que são pouco explorados pela escola. O
reconhecimento e a apropriação dos mais variados gêneros textuais dará aos
alunos mais segurança para realizar as suas operações lingüísticas, pois cada
gênero é marcado por conteúdos, funções, estilo e características específicos,
o que desperta a grande variação de uso da língua.
O domínio de um gênero textual leva a uma forma de atingir
determinados objetivos, em determinados contextos sociais e não
necessariamente a uma forma lingüística. Esta visão é fundamental que seja
repassada aos alunos.
É bastante óbvio que há muitas outras reflexões a serem feitas a
respeito de gêneros e tipos textuais, porém entende-se que estas breves
reflexões são suficientes para este objeto de estudo.
2.4 Coerência TextualA coerência textual é um dos aspectos mais importantes para que
aconteça o processo dialógico no momento da leitura. A coerência depende de
vários fatores e a interação necessária e completa entre autor/texto/leitor
somente ocorrerá se os mecanismos de coerência utilizados pelo autor forem
percebidos e aceitos pelo seu interlocutor.
A percepção destes elementos da coerência, pelos alunos, é fator
primordial para que, ao fazer a leitura de um determinado texto, oral ou escrito,
e no momento da sua produção, ele o faça com competência e segurança.
“Cabe à escola recuperar a atividade de produção de texto como um trabalho
dialógico, de forma que resgate o sujeito-autor que diz.” (Mussalim e Bentes,
2001).
Para (Charoles, apud Mussalim e Bentes, 2001)”não há textos
incoerentes em si”. O texto, também para Mussalim e Bentes (2001), pode ser
incoerente em/para determinada situação comunicativa, ou seja, o texto será
incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação, levando em conta
intenção comunicativa, objetivos, destinatários, regras socioculturais, uso de
recursos lingüísticos, etc. Ao contrário será coerente.
A coerência está ligada diretamente à adequação, pois o autor precisa
levar em consideração vários aspectos no momento de sua produção, para que
o seu texto não seja interpretado como incoerente. Contar uma piada, por
exemplo, pode ser coerente numa “roda de amigos”, porém em um ritual
religioso, este texto torna-se incoerente. Se o aluno, como leitor, percebe esta
noção de coerência, ao tomar o lugar de autor, ou seja, ao produzir um texto
terá isso claro. Por isso a importância da preocupação para que o aluno saiba
para quem irá escrever ou falar. A produção de um texto, oral ou escrito, sem
ter claro o interlocutor pode levar à produção de um texto incoerente.
Como este trabalho pretende analisar, em sala de aula, textos
jornalísticos (notícias ou reportagens), passamos a refletir sobre três elementos
da coerência textual (intencionalidade, contextualização e inferência). Partimos
então do princípio que todos os textos analisados serão coerentes, segundo a
definição de Mussalim e Bentes, descrita acima.
2.4.1 A IntencionalidadeA produção de um texto está condicionada a múltiplos fatores. Quando
se trata de um texto jornalístico a intencionalidade é um fator dos mais
relevantes. Observe-se esta definição: “A intencionalidade refere-se ao modo
como os emissores usam textos para perseguir e realizar suas intenções,
produzindo, para tanto, textos adequados à obtenção dos efeitos
desejados”Koch e Travaglia, apud. Mussalim (2001). Não parece novidade que
quando se lê um texto, estão ali presentes objetivos muito claros a serem
atingidos. A intencionalidade está muito presente nos textos jornalísticos, tanto
orais, como escritos, pois estes textos por mais neutros que pareçam ser,
estarão atendendo à determinadas ideologias, a interesses destes ou daqueles
grupos políticos ou econômicos. É preciso lembrar que a não neutralidade nas
produções também se explica pela individualidade do ser humano. Cada
pessoa tem sua visão de mundo, seu conhecimento, seu repertório social e
cultural e sofre influências pessoais únicas. Portanto, o aluno não pode ser
ingênuo e não observar todas estas interferências do momento de produção.
Muitas vezes percebemos que as notícias não trazem
informações neutras. Segundo Koch e Travaglia (1991), não existem textos
neutros, há sempre uma intenção ou objetivo por parte de quem produz um
texto. Sendo assim, o mundo é recriado, mas não copiado, através das
crenças, convicções, perspectivas e propósitos de quem o reescreve. É
também com base nestas reflexões que os textos jornalísticos precisam ser
apresentados aos alunos.
2.4.2 A ContextualizaçãoA compreensão de um texto passa pela contextualização daquela
produção. Para Koch e Travaglia (1991), existem muitos fatores de
contextualização que dão suporte a um texto em uma situação comunicativa.
Ao ler ou ouvir um texto, e para compreendê-lo, o leitor está sempre em busca
de solucionar um problema. O leitor competente vai criando hipóteses a partir
dos fatores de contextualização e estas hipóteses podem ser confirmadas ou
não, com o desenvolvimento da leitura. Apresentamos agora alguns destes
fatores de contextualização descritos em Koch e Travaglia:
• Os contextualizadores propriamente ditos: data, local, timbre,
elementos gráficos, etc.
• Os perspectivos e prospectivos: estes despertam expectativas
sobre o conteúdo e a forma do texto: título, autor, início do texto,
meio de veiculação, etc.
Muitos destes fatores podem levar o leitor a fazer previsões sobre o
texto ou sua forma e podem ainda auxiliá-lo na decisão de lê-lo ou não,
conforme os interesses daquele momento.
2.4.3 A Inferência“A inferência só é possível quando partilhamos com o produtor do texto
algum conhecimento de mundo” Mussalim e Bentes (2001). É muito comum
que ao produzir textos orais ou escritos o autor omita informações que pareçam
desnecessárias para aquela situação. Porém, muitas vezes esta omissão
somente pode ocorrer porque o interlocutor irá inferir aquela informação
omitida. Quanto mais próximos e íntimos os interlocutores, maior será a
quantidade de inferências feita pelo leitor/interlocutor, pois, provavelmente a
quantidade de informações explícitas feitas pelo autor será menor.
Como leitor é necessário que se fique atento para o que está implícito no
texto, de modo a fazer as inferências necessárias, e, conseqüentemente,
estabelecer a coerência textual, o que levará este leitor à compreensão deste
texto, pois: “O texto assemelha-se a um iceberg – o que fica à tona, isto é, o
que é explicitado no texto é apenas uma pequena parte daquilo que fica
submerso, ou seja, implicitado.” Koch e Travaglia (1991).
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDASPara o estudo e análise das questões levantadas neste trabalho foram
desenvolvidas várias atividades nas turmas de segundo e terceiros anos do
Colégio Estadual Mathias Jacomel, no município de Pinhais, no Paraná, entre
os meses de maio e setembro de 2008. Inicialmente foi aplicado o Material
Didático OAC (A importância do implícito na elaboração dos significados);
depois se analisou o posicionamento dos alunos diante de uma questão
proposta pelo professor de História e, finalmente descrevemos outra atividade
realizada na aula de Língua Portuguesa, observando-se a intencionalidade do
autor no momento de produção.
3.1. Primeira atividadeNas atividades relacionadas ao tema aqui proposto o aluno deverá
perceber a intencionalidade presente no texto que está sendo analisado,
contextualizar a informação e inferir sobre esta leitura.
O maior objetivo do trabalho é que o aluno torne-se um leitor maduro e que sua
argumentação seja consistente, tomando posicionamentos seguros a respeito
das leituras realizadas.
Selecionaram-se dois textos jornalísticos (oral ou escrito) de fontes
diferentes (jornal, revistas, TV, internet, etc.), mas que tratam do mesmo
assunto e que têm “visões” diferentes. É importante mostrar ao aluno que,
muitas vezes, quando lemos ou ouvimos um texto jornalístico podemos estar
sendo induzidos a acreditar em algo sem questionar, ou seja, manipulados.
Textos escolhidos:
Texto 1. Revista Época de 1º de outubro de 2007. nº. 489 - pág. 17.
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG79342-
6001-489,00.html.
Dois eventos fizeram a anorexia virar tema de calorosos debates na Itália. O
primeiro foi uma campanha publicitária contra a anorexia que mostra uma
modelo anoréxica completamente nua. O ensaio foi feito pelo famoso fotógrafo
Oliviero Toscani, ex-colaborador da grife Benetton. A campanha, financiada por
uma marca de roupas e apoiada pelo governo, aparece em outdoors nas ruas
de Milão e foi lançada em plena semana da moda. O segundo evento foi a
eleição de Silvia Battisti, de 18 anos, para Miss Itália. Ela tem Índice de Massa
Corporal 16, 2,5 pontos abaixo do mínimo para a pessoa ser considerada
saudável. A imprensa criticou a escolha.
Texto 2: Revista Veja de 3 de outubro de 2007. nº. 2028 – pág. 95.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/031007/gente.shtml
A foto ajuda ou atrapalha no combate à anorexia? A francesa Isabelle Caro, 27
anos, aspirante a atriz, acha que ajuda. "Embora meu corpo cause
repugnância", diz, ela aceitou se despir diante do rei da foto publicitária
escandalosa, o italiano Oliviero Toscani, para "mostrar às jovens quanto essa
doença é perigosa". Especialistas nesse distúrbio psíquico acreditam o
contrário: mulheres anoréxicas vêem um corpo devastado como o de Isabelle –
1,65 metro, 31 quilos – e acham lindo. As fotos foram tiradas para promover
uma marca de roupas. Isabelle sofre de anorexia desde os 13 anos, resultado
de "uma infância muito difícil", que contará em detalhes num livro que promete
publicar "em breve".
Dividiu-se a turma em grupos: alguns grupos tiveram acesso à reportagem de
Época e outros de Veja. Cada grupo deveria responder às questões, de acordo
com a reportagem que estava analisando:
• Levante todas as informações que o texto fornece ao leitor a
respeito do outdoor em questão.
• Se possível fazer um painel com os dados levantados ou registrá-
los no quadro de giz.
Depois se discutiu com a turma todas as diferenças encontradas:
• qual reportagem é mais completa?
• existe contradição entre elas?
• há omissão de informações em alguma delas?
• será que existe alguma intenção ao dar ou não uma informação?
É muito importante que o professor mostre aos alunos que nem sempre
teremos todas as respostas com relação à intencionalidade, porém devemos
estar sempre atentos às nossas leituras e buscando mais de uma fonte para
confrontar idéias e opiniões.
Referências:
MORETTO, Vasco P. Prova – um momento privilegiado de estudo – não um
acerto de contas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura – trad. Cláudia Sclling – 6a ed. – Porto
Alegre: Artmed, 1998.
Esta primeira atividade teve como objetivo mostrar ao aluno que,
enquanto leitor precisa estar muito atento quando faz uma leitura. Chamou-se a
atenção para os pontos discutidos ao longo deste trabalho: a intencionalidade
do momento de produção, a intertextualidade e as possíveis inferências.
Após o desenvolvimento e toda a atividade notou-se um saldo
considerado positivo: muitos alunos ficaram “intrigados” com as diferentes
abordagens de um mesmo tema ao comparar as duas veiculações. Levantaram
várias hipóteses para tentar entender o porquê de algumas informações serem
omitidas e ficarem claras e vice-versa neste ou naquele veículo.. Despertar
esta curiosidade, sem dúvida, é um dos papéis da escola na formação do leitor,
pois “para que o leitor seja efetivamente um leitor ativo que compreenda o que
lê, deve fazer algumas previsões com relação ao texto” Solé (1998).
3.2 Segunda atividadeDemonstra-se abaixo uma atividade proposta pelo professor de História,
numa turma de terceiro ano do Ensino Médio, com 35 alunos:
"Operários! O inumano explorador de crianças, o comendador Matarazzo, que
acumulou um capital considerável e adquiriu condecorações roubando
legalmente os trabalhadores, está pondo em prática as mais cruéis vinganças
contra os operários conscientes. Na semana passada despediu da sua fábrica
de tecidos, sem motivo, o camarada Conrado Bernacca e sua companheira.
Contra estas infâmias é preciso agir energicamente. Um dos meios potentes
para combater este inimigo da classe produtora é a boicotagem. Guerra aos
produtos da Matarazzo! Ninguém compre a farinha do Moinho Matarazzo!
Ninguém consuma a banha, o óleo e os fósforos da marca Sol Levante.
Nenhum operário deve comprar nada dos estabelecimentos onde estejam
expostos à venda os produtos da Matarazzo e Cia."Citado do Jornal A Terra Livre, 14 de julho de 1907.
Sobre o panfleto operário assinale a alternativa correta.
a) Relata as graves condições de vida e trabalho dos operários na Primeira
República e convoca os operários a lutar por meio dos sindicatos.
b) Revela o aspecto violento e desordeiro pelo qual os operários durante a
República Velha reagiram diante do trabalho na fábrica Matarazzo.
c) Difunde idéias anarco-sindicalistas que combatiam o capitalismo por meio da
defesa da luta armada durante a Era Vargas.
d) Propõe a passividade diante dos problemas sociais e políticos que
enfrentavam os trabalhadores de fábrica na República Velha.
O resultado da atividade proposta, demonstra-se no gráfico abaixo:
A - 37%B - 40%C - 14%D - 9%
Várias hipóteses poderiam ser levantadas para entender o porquê do
resultado acima demonstrado. Porém quando a questão é retomada em sala
de aula observa-se que, na maioria dos casos, o aluno não escolheu a
resposta que se esperava, a alternativa “a” que fala da denúncia das condições
de vida e trabalho dos operários, porque ele entende a organização dos
operários como algo ruim. Este aluno comunga da idéia criada pela mídia
(representante da elite social e econômica) que qualquer manifestação,
organizada pelas camadas mais pobres da população, são atitudes tomadas
apenas por arruaceiros, bandidos ou “vagabundos”. Esta constatação também
se dá quando se observa que as alternativas mais escolhidas foram as que
contemplavam termos como: violento, desordem, anarco-sindicalista e luta
armada.
Como explicar que estes alunos, fazendo parte da classe trabalhadora
(operária), estejam pensando como a classe dominante, não se reconhecendo?
Ao analisarmos o discurso dominante na mídia (falada e escrita), normalmente,
quando se trata de manifestações organizadas pelas classes menos
oferecidas (econômica e socialmente), não raro observamos críticas contra
estas ações e pessoas, generalizando comportamentos e atitudes. Para
exemplificar, podemos citar os discursos produzidos e reproduzidos quando
das manifestações dos sem-terra: são enfatizadas sempre as ações violentas
destes, ou ainda, discute-se, duvida-se, do caráter, da idoneidade, da
honestidade das pessoas envolvidas. É muito difícil encontrarmos uma
discussão real sobre a questão da reforma agrária, por exemplo. A quem pode
interessar este tipo de abordagem? Entendemos que esta situação cria, na
maioria das pessoas, uma aversão a esta questão, o que leva à manipulação
do leitor/ouvinte.
Mostrar ao aluno que, como nos afirma Koch e Travaglia e já citado
neste trabalho, não existem discursos neutros e que há sempre uma intenção
ou objetivo por parte de quem o produz, é fundamental. Assim ele não se
deixará manipular por qualquer discurso, ao contrário, buscará fontes diversas
para depois posicionar-se com clareza e coerência diante dos textos que lê
e/ou ouve. Evita-se assim que ele faça leituras ingênuas e inferências
superficiais.
3.3 Terceira atividadeA última atividade aqui descrita, foi aplicada nas mesmas turmas
após 4 meses de aula, com uma aula por semana, no mínimo, dedicada a
estas leituras e discussões. Foi desenvolvida com um grupo maior de alunos:
67; distribuídos em três turmas: duas de terceiro ano e uma do segundo ano do
Ensino Médio.
O objetivo neste momento é aferir se houve algum crescimento dos
alunos na percepção do implícito e da intencionalidade presentes em alguns
textos jornalísticos orais e/ou escritos. Por isso iremos analisar apenas as
respostas da última questão proposta na atividade.
Atividade proposta:Leia com atenção:
Dinheiro encontrado no lixo
“Organizados numa cooperativa em Curitiba, catadores de lixo livraram-se dos
intermediários e conseguem ganhar por mês, em média R$600,00 – salário
inicial de uma professora de escola pública em São Paulo.O negócio prosperou
porque está em Curitiba, cidade conhecida dentro e fora do país pelo sucesso
na reciclagem do lixo.” Folha de São Paulo, 22/09/2002.
Responda:
• Quando se lê a notícia, nota-se que seu título tem duplo sentido. Quais
os dois sentidos do título?
• Crie para a notícia um título que lhe seja adequado e não apresente
duplo sentido.
• Quem seriam os “intermediários” citados pelo autor?
• Qual a intenção do autor ao dar a informação sobre o salário das
professoras de São Paulo?
Observa-se que, mesmo depois de várias discussões, uma parcela
considerável dos alunos, continua com dificuldades para perceber o que está
implícito no texto e, conseqüentemente, suas inferências ficam prejudicadas.
Nesta atividade considerava-se essencial que o aluno percebesse o que
estava implícito: a crítica ao baixo salário dos professores de escola pública de
São Paulo, mesmo em início de carreira. O que ocorreu é que várias respostas
não esperadas para a questão foram colocadas pelos alunos, dentre elas:
• Qualquer profissão merece um salário digno.
• O salário dos catadores de lixo não está tão ruim, porque ganham igual
aos professores.
• Às vezes uma pessoa sem estudo também pode se dar bem.
• Os catadores de lixo têm trabalho digno e pode ser tão bem remunerado
como o trabalho de professor do ensino público.
Respostasadequadas-73%Respostasinadequadas -27%
Observou-se que 27% dos alunos responderam com esta linha de
raciocínio. É provável que, num outro foco de análise, se chegasse a outras
conclusões sobre este tipo de posicionamento como: o baixo poder
aquisitivo dos alunos, a tentativa de valorizar e dar dignidade à profissão de
catador de papel, entre outras. Porém, considerando a clareza e
objetividade da questão proposta, fica claro que a dificuldade apresentada
aqui pelos alunos está diretamente relacionada ao objeto de estudo deste
trabalho.
4.CONCLUSÃOEste estudo se propôs a colaborar com a prática pedagógica, não só em
Língua Portuguesa, como também em outras áreas do conhecimento, através
de uma reflexão sobre alguns fatores de coerência textual dentro de
determinados gêneros textuais e como os alunos entendem e utilizam-se
destes para ler e compreender estes textos. Os recortes aqui sugeridos,
tanto dos três elementos da coerência textual (intencionalidade,
contextualização e inferência), como dos gêneros textuais (notícia e
reportagem), num primeiro momento podem parecer muito restritos se
levarmos em consideração a abrangência da coerência textual, bem como a
grande variedade dos gêneros textuais que circulam na nossa sociedade.
Porém, as várias leituras realizadas e o início do aprofundamento nestes temas
nos levam à certeza que é necessário sim delimitarmos bem o nosso trabalho.
Estando bem focados os nossos objetivos serão atingidos com mais
concretude e os resultados serão mais satisfatórios e visíveis.
A dimensão dialógica da leitura presente em vários autores (Faraco
2006; Koch e Travaglia 1991; Tezza.2003; Orlandi.1993) precisa ser sempre
lembrada e trabalhada em sala de aula. Todos sabemos a quantidade de textos
a que nossos alunos estão expostos diariamente, mas se a escola não se
apropriar destas produções – orais ou escritas – e refletir sobre elas junto com
os alunos, não estará cumprindo o seu papel. “O processo de leitura deve
garantir que o leitor compreenda os diversos textos que se propõe a ler. É um
processo interno, porém deve ser ensinado.” Solé (1998:116). Neste contexto a
escola, a sala de aula, o professor podem e devem ser os mediadores que
auxiliarão o educando a perceber toda a teia que envolve determinadas
produções que circulam na nossa sociedade.
A não neutralidade da produção de textos, principalmente dos textos
jornalísticos pode ser mostrada ao aluno através da observação da
intencionalidade e da contextualização. Ao perceber que faz inferências e/ou
ser incentivado a fazê-las, este aluno irá sendo instrumentalizado para ler e
produzir textos com autonomia e competência em qualquer situação e com
argumentação consistente.
Durante o período de 5 meses, foi adotada uma metodologia na prática
pedagógica de sala de aula que priorizasse o objeto deste estudo. O que se
concluiu é que há uma carência de aprofundamento das questões aqui
discutidas. Observe-se:O trabalho com a leitura é integrado à produção de textos em dois
sentidos: de um lado ela incide sobre “o que se tem a dizer”, pela
compreensão responsiva que possibilita, na contrapalavra do leitor;
de outro lado ela incide sobre as “estratégias do dizer” de vez que,
em sendo um texto, supõe um locutor/autor e este se constitui como
tal na produção de textos. (GERALDI, 1991:156)
O trabalho com interpretação, compreensão e produção de textos é
muito importante e tem muitas possibilidades metodológicas. É fundamental
que todo professor, de qualquer área do conhecimento assuma também esta
tarefa, pois o aluno precisa criar o seu próprio discurso a partir da leitura do
mundo, para sempre ter o que dizer, sabendo como dizer.
Com o olhar para este objetivo e com a metodologia utilizada, observa-
se o crescimento de vários alunos nos aspectos analisados. Isso nos leva a
concluir que este é um caminho possível, mas deve ser percorrido
constantemente e com muita insistência, é um trabalho que deve ser
desenvolvido em toda a vida escolar e por todos os professores. Não se
esgotam aqui as possibilidades de trabalho com as discussões aqui propostas,
porém encerramos com uma citação que consideramos importante “Não vamos
esperar que os alunos aprendam o que não lhes foi ensinado, nem vamos
esperar que aprendam de uma vez só e para sempre” Solé (1998:172)
5.REFERÊNCIAS
BARZOTTO, Valdir Heitor (org). Estado de leitura. Campinas: Associação de Leitura do Brasil, 1999.
FARACO, Carlo Alberto. Linguagem e diálogo - as ideais lingüísticas do círculo de Bakhtin. Curitiba: Criar Edições, 2006.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Brasil: Paz e Terra (Coleção Leitura), 1996. Edição de bolso.
GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUEZ, Maria Helena. Escola, leitura e produção de texto. Porto Alegre: Artmed, 1995.
KATO, Mary A. No mundo da Escrita: uma perspectiva psicolingüística. 7ed. São Paulo: Ática, 2005.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
KOCH, Ingedore Villaça. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 2ed. São PAULO: Contexto, 1991.
MARCUSHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2005.
_ _______. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: Dionísio, Ângela Paiva; Machado, Anna Rachel; Bezerra, Maria Auxiliadora. (Org.). Gêneros Textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002, v. , p. 19-36.
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Crhistina (orgs.)-Introdução à Lingüística: domínios e fronteiras, vol.1. 2.ed.. São Paulo: Cortez, 2001.
___________. Introdução à Lingüística: domínios e fronteiras, vol.2. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2001.
MORETTO, Vasco P. Prova – um momento privilegiado de estudo – não um acerto de contas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo: Brasiliense, 1983.
__________. Discurso e Leitura. São Paulo: Cortez, 1993.
___________. A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 1998.
____________. Introdução à análise lingüística.6ed. Campinas: Pontes, 2005.
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica, 2006.
POSSENTI, Sírio. Por que (Não) Ensinar Gramática na Escola. São Paulo: Mercado de Letras, 1996.
ROITMAN, Ari; BERNARDO; Gustavo, ORLANDI, Eni. Leitura e Interpretação. Rio de Janeiro: Proler, 1995.
RODRIGUES, Rosângela H. Gênero do discurso e cronotopo: a dimensão social constitutiva do gênero. In: III Seminário Nacional sobre Linguagem e Ensino, 2001, Pelotas. Programas e Resumos dos Trabalhos do III Seminário Nacional sobre Linguagem e Ensino. Pelotas, 2001. p. 114-114.
____________. A relação entre gênero, enunciado e texto: uma leitura bakhtiniana. ABRALIN (Curitiba), Fortaleza, v. 26, p. 613-615, 2003.
SOLÉ. Isabel. Estratégias de leitura; trad. Cláudia Schilling – 6.ed. – Porto Alegre: ArtMed, 1998.
TEZZA, Cristóvão. Entre a prosa e a poesia: BAKHTIN e o formalismo Russo. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
VOESE, Ingo. Análise do discurso e o ensino de língua portuguesa. São Paulo: Cortez, 2004. (Coleção aprender e ensinar com textos; vol. 13)
5.1 Referências on-line
Revista Época de 1º de outubro de 2007. nº. 489 - pág. 17. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG79342-6001-489,00.html. Revista Veja de 3 de outubro de 2007. nº. 2028 – pág. 95. Disponível em: http://veja.abril.com.br/031007/gente.shtml