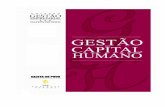A inclusão da criança com Transtorno do Espectro do ... · Apoio Financeiro: PPG FaE/UFMG ESC -...
Transcript of A inclusão da criança com Transtorno do Espectro do ... · Apoio Financeiro: PPG FaE/UFMG ESC -...
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A incluso da criana com Transtorno do Espectro do
Autismo: histria e atualidade.
A incluso escolar na educao profissional: impacto das estratgias educativas no
processo de escolarizao de alunos com transtorno do espectro autista de alto
funcionamento. Mnica Maria Farid Rahme (UFMG), Simone Pinto Vasconcellos
(UFMG)
A proposta da Educao Profissional originou-se no sculo XIX objetivando a
qualificao do trabalhador urbano associada formao moral. Em 1909, foram
criadas as escolas de aprendizes e artfices que deram origem aos Centros Federais de
Educao Profissional e Tecnolgica. A maioria dessas instituies foi transformada,
em 2008, em Institutos Federais de Educao, Cincia e Tecnologia. Atualmente, a
Rede Profissional de Educao Profissional, Cientfica e Tecnolgica possui como
misso a qualificao profissional para os setores produtivos, o desenvolvimento de
pesquisas, processos, produtos e servios. Com esse propsito, as instituies de ensino
federais oferecem, dentre outras modalidades, o ensino tcnico de forma articulada ao
mdio. Em Belo Horizonte, estas instituies registraram recentemente o ingresso de
alunos com diagnstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condio que se
refere a um continuum de transtornos do neurodesenvolvimento caracterizados por
limitaes na comunicao, na interao social, alm de comportamentos, interesses ou
atividades restritos e repetitivos. Esta pesquisa trata do estudo de caso de um aluno
autista matriculado em uma escola tcnica federal do referido municpio. O objetivo
consistiu na anlise do impacto das estratgias educativas, adotadas em 2016 e no
primeiro trimestre de 2017, no desempenho escolar do aluno com TEA. A metodologia
utilizada fundamentou-se na anlise documental relativa ao aluno participante. O
material pesquisado consistiu em laudos psicolgico, neuropsicolgico,
psicopedaggico, fonoaudiolgico e teraputico ocupacional, relatrios escolares
anteriores e posteriores ao ingresso na escola tcnica, boletim escolar com dados de
frequncia, desempenho parcial e resultados finais. No ano em que o estudante
ingressou para o curso tcnico, foram realizadas monitorias individualizadas,
acompanhamento psicossocial e comunicao frequente com a famlia. Os resultados
apontam que, em 2016, o aluno era frequente s aulas e obteve um desempenho abaixo
da mdia em quatro disciplinas do ensino mdio em alguma das etapas letivas, e
tambm nas disciplinas tcnicas. Ao final de 2016, o aluno foi aprovado nas disciplinas
relativas ao ensino mdio mas foi reprovado nas disciplinas tcnicas. Em 2017, a
instituio adotou adequaes curriculares relativas temporalidade e avaliao,
monitorias individualizadas, continuidade do acompanhamento psicossocial e da
comunicao com a famlia. No primeiro trimestre deste ano, o aluno permaneceu
frequente e alcanou desempenho mdio ou acima da mdia em todas as disciplinas. A
partir dessa anlise, conclui-se que a implementao de estratgias de apoio extraclasse
e de adequaes curriculares favoreceram a escolarizao do aluno na educao
profissional. No entanto, as dificuldades de adequaes didticas quanto a objetivos,
contedos e metodologia de ensino podem ter limitado a aprendizagem que poderia ser
potencializada com a adoo dessas medidas.
Palavras chave:Autismo alto funcionamento Educao profissional
Mestrado - M
Apoio Financeiro: PPG FaE/UFMG
ESC - Psicologia Escolar e da Educao
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A incluso da criana com Transtorno do Espectro do
Autismo: histria e atualidade.
Anlise da situao de incluso escolar de alunos com autismo a partir de registro
dirio. Adriana Arajo Pereira Borges (UFMG), Mariana Viana Gonzaga (UFMG)
O transtorno do espectro do autismo (TEA) atinge at 1% da populao e compromete,
principalmente, trs reas do desenvolvimento: comportamento, comunicao e
socializao. Antes de Kanner ter descrito a sndrome no ano de 1943, estas crianas
estavam institucionalizadas e sem acesso a escolarizao. Atualmente, os alunos com
TEA frequentam as escolas regulares. Seguindo a tendncia da educao inclusiva, tem-
se observado o aumento de matrculas dessa populao nas escolas comuns, mas ainda
so insuficientes os dados que tratam do processo de incluso desses alunos em uma
perspectiva situacional. Ou seja, que desloca o olhar do aluno e de seu atraso no
desenvolvimento, para uma anlise ampliada que leva em considerao o aluno, a
turma, a escola e o aprendizado. Acredita-se que a incluso de alunos com TEA se faz
de maneira diferenciada dos demais alunos pblico alvo da educao especial, por se
tratar de um espectro sintomatolgico. Os alunos com autismo possuem um estilo
cognitivo diferenciado e apresentam alteraes comportamentais e sensoriais. O
objetivo desta pesquisa foi avaliar a situao de incluso de 15 crianas atendidas no
ano de 2017 em escolas da rede particular da cidade de Belo Horizonte. O material
utilizado foi o Registro Escolar Dirio (RED), um protocolo desenvolvido para coletar
informaes sobre a situao de incluso escolar de alunos com autismo. O diferencial
do instrumento que ele leva em considerao o sujeito e o ambiente, junto com um
terceiro elemento: o tempo. Ou seja, atravs do instrumento foi possvel avaliar a
situao de incluso das crianas em momentos especficos na sala de aula. A
metodologia utilizada foi a anlise documental. Os protocolos das crianas foram
analisados a partir das categorias que o registro sistematiza: semelhana em relao s
atividades realizada pelos colegas; o planejamento da escola atravs da oferta de
atividades diferenciadas; o tipo de tarefa realizada, pedaggica ou social; o desempenho
da criana ao executar as tarefas propostas em relao a ajuda necessria e o nvel de
compreenso; a presena de problemas comportamentais. Como resultado, o Registro
Dirio permitiu traar os perfis dos alunos estudados, obtendo informaes, como, por
exemplo, o percentual de atividades realizadas iguais as da turma e seu respectivo
desempenho em relao ajuda e compreenso. Concluiu-se que o instrumento
utilizado contribuiu para o processo de incluso dos alunos estudados, permitindo a
construo de um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) condizente com as
caractersticas individuais de cada um dos alunos. - -
Palavras chave:Autismo Incluso escolar Registro dirio
Mestrado - M
Apoio Financeiro: PPG FaE/UFMG
ESC - Psicologia Escolar e da Educao
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A incluso da criana com Transtorno do Espectro do
Autismo: histria e atualidade.
Contra a teoria da me-geladeira: a emergncia da participao de mes na
construo do entendimento do autismo no Brasil a partir da dcada de 1980.
Bruna Alves Lopes (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
O termo autismo foi utilizado pela primeira vez por Eugene Bleuler para apresentar um
dos sintomas da esquizofrenia no adulto. Em 1943, o psiquiatra austraco Leo Kanner
apropriou-se do conceito para referir-se a um novo quadro nosolgico, por ele
denominado distrbio autstico do contato afetivo. Apesar de Kanner defender a tese
de que a sndrome por ele analisada era inata, no descartou que fatores ambientais
pudessem colaborar para a manifestao dos sintomas, embora no fossem seu agente
propiciador. Um dos elementos que contribuiu para que Kanner levantasse a hiptese
ambiental como um dos desencadeadores do autismo est relacionado com o perfil
familiar por ele observado: as crianas analisadas eram oriundas de famlias
denominadas por ele como inteligentes e obsessivas. Kanner observou que pais,
mes e demais parentes (avs, por exemplo) eram pessoas graduadas e, no seu entender,
pouco amorosas; em outras palavras o psiquiatra defendia que tais famlias eram mais
interessadas em questes que envolviam cincia, literatura, artes etc. ou seja,
questes de ordem intelectual e menos dedicadas ao convvio com as pessoas. Vrias
foram as tentativas, nos anos que seguiram, para explicar a etiologia do autismo; entre
elas, as teorias psicognicas (que predominaram ao longo das dcadas de 1940 a meados
de 1970) que, em linhas gerais, argumentavam que o autismo seria uma patologia de
carter emocional. O principal representante de tais teses foi o psicanalista Bruno
Bettelheim. Em seu livro A Fortaleza Vazia, publicado pela primeira vez em 1967 nos
Estados Unidos, defendeu a ideia de que autismo seria uma patologia psicolgica em
que, na base, estava uma famlia doente; o estado autstico seria um mecanismo
elaborado pela criana como forma de se defender de um ambiente hostil e ameaador.
Tendo em vista a repercusso das ideias de Bruno Bettelheim, que se popularizaram na
chamada teoria da me-geladeira, esta proposta de comunicao possui trs objetivos:
inicialmente, buscou-se demonstrar que desde a obra inicial de Kanner j se esboavam
indcios de culpabilizao das mes na questo do autismo; que a A Fortaleza Vazia
corresponde a um contexto de elaborao de agendas anti-femininas e anti-feministas
que visavam reduzir a feminilidade experincia da maternidade compulsria regida
pelo saber mdico; e especialmente buscou-se apontar que no Brasil a participao de
mes numa agenda pr-ativa de assistncia para seus filhos autistas, iniciada a partir da
dcada de 1980, est vinculada construo do entendimento do autismo afastado das
ideias da culpabilidade materna vaticinadas por Bettelheim. Seja de maneira individual,
utilizando a imprensa escrita como mecanismo de divulgao e conscientizao sobre o
tema, ou por meio de aes coletivas (tal qual as associaes de mes e pais de autistas),
essas mes ao exercerem sua cidadania denunciavam a invisibilidade do autismo na
esfera pblica, ao mesmo tempo em que construram para si uma nova identidade
enquanto mulheres que lutavam pelos direitos dos seus filhos.
Palavras chave:Autismo Mes-geladeira Bettelheim Ativismo materno
Doutorado - D
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES
ESC - Psicologia Escolar e da Educao
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A incluso da criana com Transtorno do Espectro do
Autismo: histria e atualidade.
O desafio da incluso escolar de autistas em Belo Horizonte. Mnica Maria Farid
Rahme (UFMG), Luiza Pinheiro Leo Vicari (Universidade Federal de Minas Gerais)
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) um transtorno do desenvolvimento que
compromete a qualidade do desenvolvimento, gerando maiores prejuzos em trs reas,
comportamento, comunicao e interao social, alm do repertrio restrito de
interesses e atividades, padres de comportamento repetitivos e estereotipados. Os
ltimos dados epidemiolgicos, em 2013 nos Estados Unidos estimam que a
prevalncia de TEA de uma a cada 68 crianas. No Brasil, h uma estimativa de que
1,9 milhes de pessoas estejam dentro do espectro. Diante deste cenrio de aumento no
nmero de diagnsticos, os desafios com o ensino e aprendizagem no cotidiano escolar,
tambm se fazem cada vez mais presentes. O objetivo desta pesquisa foi analisar o
nmero de matrculas de alunos com Autismo e Sndrome de Asperger na cidade de
Belo Horizonte, Minas Gerais. Junto a isso, foi realizada uma anlise qualitativa de
questionrios aplicados a um grupo de professores da rede pblica de Belo Horizonte,
participantes de um curso a distncia sobre o TEA. O material utilizado foram os dados
da Sinopse Estatstica da Educao Bsica, provenientes do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (INEP), nos ltimos cinco anos e os
questionrios respondidos pelos professores. A metodologia utilizada foi uma anlise
quantitativa dos dados do INEP e qualitativa dos questionrios a partir de categorias
previamente construdas. Os resultados das anlises mostram que em Belo Horizonte, o
nmero de matrculas destes alunos aumentou significativamente. Enquanto o aumento
de matrculas dos alunos com autismo foi de 176% no Brasil, em Belo Horizonte foi de
284%. Com relao aos questionrios respondidos, todos os professores apontaram
desconhecimento em relao ao transtorno e os recursos para incluso escolar.
Conclumos que apesar do acesso dos alunos com TEA ter aumentado nos ltimos anos,
os professores ainda necessitam de uma formao mais consistente e de capacitaes
continuadas, para proporcionar a estes estudantes, oportunidades de aprendizagem e
estratgias que facilitem sua participao nas atividades escolares.
Palavras chave:Autismo Incluso escolar Prticas educativas.
Mestrado - M
Apoio Financeiro: CNPq/PPG FaE/UFMG
ESC - Psicologia Escolar e da Educao
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A incluso da criana com Transtorno do Espectro do
Autismo: histria e atualidade.
O faz de conta da criana com autismo: focalizando aspectos cenogrficos. Daniele
Nunes Henrique Silva (UnB), Maria Angelica da Silva (Secretaria de Estado de
Educao do Distrito Federal)
A presente pesquisa, fundamentada nos aportes tericos da perspectiva histrico-
cultural, tendo em Vigotski seu principal representante, objetiva analisar o brincar da
criana com autismo, focalizando os recursos simblicos emergentes no faz de conta:
uso de objeto piv e configurao dos jogos de papis. Este estudo foi desenvolvido em
uma escola pblica de Educao infantil do Distrito Federal (Brasil), em uma Classe
Especial com seis alunos com transtorno do espectro autista (TEA) na faixa etria dos 4
aos 6 anos. Os dados foram construdos a partir de uma anlise microgentica; se
pautaram em observaes registradas em dirio de campo e videogravaes (uso de
filmadora), com analise e posterior transcrio das situaes de faz de conta da criana
com autismo. Destarte, problematizamos: o que caracteriza o brincar da criana com
autismo? Num desdobramento, quais so os recursos simblicos que ela utiliza para
significar as aes ldicas no uso dos brinquedos e assuno de papis? Neste sentido,
propomos uma interveno diferenciada: a criao de trs oficinas cenogrficas
(mediao instrumental e simblica) objetivando a assuno de papis pelas crianas, a
saber: a) A Cesta Mgica: esta oficina foi criada com o intuito de ampliar as situaes
simblicas, que eram muito pontuais. Deste modo decidimos levar para a sala de aula
uma cesta composta por bonecas, carrinhos, kit mdico, utenslios domsticos em
miniatura, entre outros; b) Piratas: nesta oficina, criamos um cenrio imagtico com o
tema Piratas. O objetivo era analisar se as crianas se impactavam com a cenografia,
explorando de forma mais evidente o jogo de papis. Criamos um barco de pirata
usando uma caixa grande de papelo com: bandeira, papagaio, caveira, ncora e gotas
de gua na proa. Foram distribudos entre as crianas acessrios que compunham o
figurino de um pirata: tapa-olho, gancho, bandana, chapu e outros ; e c) Oficina de
Personagens: nesta ltima oficina, foi oportunizado s crianas contato com diversas
fantasias (roupas) de personagens: Homem-Aranha; Super-Homem; Batman; Frozen;
Rapunzel e outros. Foram analisadas situaes ldicas que ocorreram durante todo o
perodo investigativo, com ateno minuciosa para os gestos, as expresses corporais,
os recursos expressivos. Os dados foram tratados e se aglutinaram em dois grandes
eixos de anlise com subeixos: a) Eixo A: Variaes na flexibilizao do brinquedo nas
situaes ldicas; e b) Eixo B: A emergncia da assuno de papis nas brincadeiras de
faz de conta. Na anlise e discusso dos dados, evidenciamos processos complexos de
simbolizao durante o faz de conta da criana com autismo, contrariando a literatura
tradicional. Conclumos que a criana com autismo, de uma maneira qualitativamente
distinta, no somente brinca, como cria, imagina e assume papis.
Palavras chave:Faz-de-conta Autismo Perspectiva histrico cultural
Mestrado - M
ESC - Psicologia Escolar e da Educao
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A maternidade em condies adversas: mes deprimidas,
acusadas de negligencia, com familiares e o prprio filho internado em UTI.
A Depresso Materna Crnica e seus efeitos na Interao Me /criana. Flavia Helena
Pereira Padovani (Faculdade de Medicina de Botucatu- Unesp), Gimol Benzaquen perosa
(Faculdade de Medicina de Botucatu- Unesp), Eloisa Pelizzon Dib (CAPS 1 de Botucatu)
Algum evidnascias na literatura mostram que depresso materna crnica tem reflexos nas
relaes da dade me-criana, que podem afetar a interao entre eles. H dados mostrando
que os comportamentos intrusivos e/ou retrados, a pouca responsividade e pobre expresso
de afeto positivo de mes deprimidas, prejudicam a qualidade de interao me/beb,
afetando negativamente o desenvolvimento infantil. Entretanto, as pesquisas ainda no so
conclusivas quanto s consequncias adversas dos sintomas de depresso na interao
me/filho. Em alguns estudos, a baixa responsividade materna no acompanhou o quadro
depressivo e pouco se conhece o papel da criana na interao. Frente ao exposto, neste
estudo, pretendeu-se identificar as caractersticas da interao de crianas com 14 meses e
suas mes, portadoras de sintomas de depresso crnica, comparando-as com as
caractersticas interativas de dades em que a me no apresentou problemas de sade
mental. A amostra foi composta por 30 dades mes/ criana, selecionadas de um estudo de
coorte prospectivo anterior, em que as mes pontuaram para depresso pelo Inventrio de
Depresso de Beck (BDI), em trs momentos: na gestao, aos 6 e 14 meses de vida do
beb. Formaram-se dois grupos: 8 mes com sintomas de depresso crnica e 22 mes sem
problemas de sade mental, nas trs avaliaes. As mes responderam a um questionrio
socioeconmico e em seguida foi gravado um episdio interativo da dade, de 7 minutos.
Avaliaram-se os comportamentos interativos da me e da criana a partir das categorias
sugeridas pelo Protocolo de Avaliao de Interao Didica .Calculou- se o ndice
concordncia de dois observadores que foi superior a 0,70 em todas as categorias. Aps
analise descritiva dos dados, procedeu-se a anlise estatstica inferencial. Pesquisou-se o
carter interativo entre os comportamentos da me e da criana e compararam-se os
comportamentos interativos dos grupos de mes com e sem depresso crnica. Observou-
se que quanto mais sensveis, estimuladoras e positivamente afetivas eram as mes, as
crianas se mostravam mais envolvidas, integradas e demonstravam mais afeto positivo. Por
outro lado, mes que demonstravam mais afeto negativo tinham crianas que se envolviam
menos e apresentavam, tambm, mais afeto negativo. Na comparao dos dois grupos, as
mes com sintomas de depresso crnica foram significativamente menos sensveis,
demonstraram menos afeto positivo tinham menor engajamento na interao, quando
comparadas com as mes do grupo controle. Os filhos de mes deprimidas crnicas se
envolveram, significativamente, menos na interao que crianas do grupo controle. Desta
forma, pode-se considerar a depresso materna crnica como um fator de risco para
interao com o filho, que compromete a disponibilidade emocional da me e a persistncia
necessria para estabelecer uma interao responsiva com a criana. Como os sintomas
eram crnicos e j estavam presentes durante a gestao, os profissionais de sade
precisariam estar alerta para diagnosticar, orientar e encaminhar essas mulheres a servios
especializados, desde as consultas de pr-natal. Parece que o desenvolvimento de programas
de preveno e tratamento da depresso materna na ateno primria, poderia minimizar os
riscos e as consequncias da depresso materna para a interao me/bebe, desde os
primeiros tempos de vida.
Palavras chave:Depresso materna crnica; Interao; observao
Mestrado - M
SADE - Psicologia da Sade
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A maternidade em condies adversas: mes deprimidas,
acusadas de negligencia, com familiares e o prprio filho internado em UTI.
Experincias de mes e outros familiares quando da visita de crianas e adolescentes
Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Maria Emilia Pereira Nunes (Hospital
Universitrio da Universidade Federal de Santa Cata), Leticia Macedo Gabarra (Hospital
Universitrio UFSC)
As Unidades de Terapia Intensiva Adulto, geralmente, possuem normativas que vetam a
entrada de crianas e adolescentes, mas, por ser um campo de mitos e controvrsias, essas
visitas desencadeiam diferentes opinies entre familiares e membros da equipe de sade.
Por um lado, h evidencias que a criana tem o desejo de visitar seus entes hospitalizados,
e, por outro, como o contexto da UTI est relacionado com o medo da morte, gera
sofrimento nos familiares que, com o intuito de proteger a criana, costumam preserva-la
dessa vivncia. Entretanto, h indcios que mostram que, se bem conduzidas por
profissionais da equipe de sade e familiares, as visitas podem proporcionar crescimento e
desenvolvimento emocional s crianas. Quanto aos pacientes internados, h relatos que
referem que a visita dificulta o descanso mas , tambm, traz alegria e esperana
,representando um elo com o mundo externo. Frente a um assunto ainda controverso, esta
pesquisa objetivou identificar a vivncia de familiares em relao comunicao, tomada
de deciso e manejo da entrada de crianas e adolescentes para visitar os pacientes
internados em UTI adulto. A abordagem deste estudo foi qualitativa. Foram realizadas
entrevistas com dez familiares, em sua maioria mes,que tinham um membro da famlia
muito ligado criana, internados em UTI. Os dados foram analisados a partir da anlise
de contedo de Bardin, emergindo quatro categorias: 1) Comunicao com a criana e
adolescente; 2) tomada de deciso sobre a visita; 3) manejo e 4) repercusses da visita. A
comunicao com os menores foi aberta, expressando de forma clara e honesta a condio
de sade do familiar. Os participantes identificaram a capacidade que as crianas e
adolescentes tinham em perceber as mudanas que ocorriam na famlia com a
hospitalizao, e a curiosidade por mais informaes. Observou-se o cuidado e as
dificuldades dos familiares ao repassar as informaes, para transmitirem esperana e
segurana na comunicao, com o intuito de minimizar os danos emocionais. A tomada de
deciso para a visita das crianas ponderou a inter-relao entre o desejo de visitar, o estado
clnico do paciente, o imaginrio de que a visita de crianas no permitida; e o
posicionamento da equipe. Percebeu-se, que os familiares sofriam o impacto emocional
negativo associado visita em UTI, e acreditavam que os menores no teriam condio de
lidar com a situao. Em relao ao manejo, todos os responsveis destacaram o benefcio
da preparao psicolgica pr-visita, assim como o acompanhamento durante e aps. Os
participantes expressaram a satisfao da criana ao visitar, sentindo-se pertencente aos
eventos familiares. Ressalta-se a necessidade dos profissionais terem ferramentas para a
avaliao e flexibilizao da visita de crianas e adolescentes aos seus familiares internados
em UTI. Estudos relativos psicologia do desenvolvimento podem contribuir com a
compreenso dos recursos que as crianas e adolescentes tem para lidar com esse tipo de
situao, e auxiliar na comunicao entre os envolvidos. Nesse sentido, destaca-se que a
capacitao dos profissionais acerca da visita de crianas poderiam contribuir para a prtica
em sade e o desenvolvimento emocional dos familiares atendidos.
Palavras chave:Criana; morte;Visitar pacientes; UTI-adulto
Mestrado - M
SADE - Psicologia da Sade
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A maternidade em condies adversas: mes deprimidas,
acusadas de negligencia, com familiares e o prprio filho internado em UTI.
Mes acusadas por negligncia: concepes sobre maternidade, famlia e prticas
parentais.Regina Pagotto Bossolan (Tribunal de Justia do Estado do Estado de So
Paulo), Gimol Benzaquen Perosa (FMB-UNESP)
O tipo de violncia com maiores ndices de incidncia na infncia a negligencia,
quando pais deixam de suprir necessidades bsicas e vitais da criana, tanto fsicas
quanto emocionais, podendo ocasionar efeitos profundamente negativos ao
desenvolvimento e comportamento da criana, na rea da cognio, linguagem e
afetivo/social. A literatura destaca como possveis fatores de risco para negligncia
materna, sua sade mental, em especial uso abusivo de lcool e outras drogas, ter
sofrido violncia na infncia, falta de autocontrole e variveis do contexto mais amplo,
como condio socioeconmica, no contar com suporte social para se manter e para
cuidar do filho. Estudos mais recentes tm mostrado que valores e crenas parentais,
tambm, esto diretamente associados responsabilidade como se assume o papel
parental e aos diferentes estilos de cuidado. Este trabalho, de abordagem qualitativa,
teve por objetivo conhecer as concepes de mes de crianas de 0 a 5 anos, requeridas
no Judicirio em processos por negligncia, sobre o papel materno e sua relao com
cuidados e prticas parentais. Para tanto, 20 mes responderam a uma entrevista
semiestruturada e a uma escala para avaliar crenas e prticas de cuidado na primeira
infncia (ECPPC). Os resultados mostraram que as mes tinham pouca escolaridade,
80% no havia concludo o ensino fundamental, a grande maioria no possua qualquer
atividade remunerada ou exercia ocupao no qualificada e sua renda era baixa.
Mostraram uma concepo idealizada sobre famlia, maternidade e cuidados que no
correspondia sua prtica, quando reconheciam a omisso e dificuldades frente ao
atendimento das necessidades dos filhos. Atribuam seu comportamento ao efeito das
drogas e lcool, sua inexperincia, falta de companheiro e de auto-controle . Tinham
conscincia de que a negligncia e violncia eram prejudiciais ao desenvolvimento das
crianas. A inconsistncia entre suas crenas e suas aes gerava conflitos sofrimento e
culpa, especialmente porque atribuam a si total responsabilidade pelas suas aes,
levando pouco em conta outros determinantes do contexto ambiental, como o
comportamento da criana e a falta de apoio social e institucional. A inconsistncia
pode ser atribuda ao vis que a avaliao por escalas pode ocasionar devido ao carter
estruturado do instrumento em sua abordagem direta do tema maternidade, ocasionando
a emisso de respostas culturalmente esperadas ao invs do real julgamento materno.
Mas pareceu, tambm, no haver uma relao direta entre crenas e comportamentos.
Diferentemente das crenas, as aes maternas sofriam a influncia de outros fatores,
como contexto ambiental ,a dinmica das relaes e o comportamento da criana Assim,
os dados reforam a ideia de que para compreender a negligncia materna preciso
abandonar uma viso linear e perceber que caractersticas pessoais esto entrelaadas a
aspectos soscioeconomicos, culturais, ideolgicos, que resultam na forma como
assumem suas funes parentais, sendo fundamental o desenvolvimento de polticas
pblicas baseadas neste pressuposto.
Palavras chave:negligncia intrafamiliar, praticas parentais, maternidade
Doutorado - D
FAMI - Psicologia da Famlia e da Comunidade
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A maternidade em condies adversas: mes deprimidas,
acusadas de negligencia, com familiares e o prprio filho internado em UTI.
Vivencias e relaes de mes com bebs prematuros em incubadora. Gimol
Benzaquen Perosa (Faculdade de Medicina de Botutu- Universidade Estadual Pau), Ana
Dourado (UNESP-Botucatu)
H evidncias na literatura de que a permanncia dos prematuros em incubadora, com o
propsito de garantir sua sobrevida, pode gerar um impacto negativo para o vnculo
me/filho. Na maioria das vezes a criana est sedada e as mes impossibilitadas do
contato ttil e de oferecer cuidados. H vrios estudos de como as mes vivenciam
essa situao, mas poucos centram-se no papel da voz materna que, nessas condies,
uma via disponvel para o estabelecimento do vnculo com o beb , fundamental para
sua constituio subjetiva. Este estudo teve por objetivo compreender a percepo das
mes sobre seu papel quando da permanncia do filho na incubadora e a interao com
o mesmo. Foram realizadas entrevistas abertas com sete mes de prematuros que
permaneciam na incubadora. As entrevistas foram realizadas em at sete dias aps a
internao da criana na UTIN. Observou-se, tambm, o que as mes diziam aos bebs
e os comportamentos destes quando as mes se aproximavam da incubadora e falavam
com eles. Os dados foram analisados qualitativamente, luz da teoria psicanaltica. A
caracterstica mais presente nos relatos foi a necessidade de reconstruir a histria do
nascimento prematuro, de forma minuciosa. Frente perplexidade da situao,
encadeavam os acontecimentos, referindo datas e recordando detalhes, organizando sua
histria e tentando preencher com palavras e nmeros o vazio e a angstia do no-
saber. Ao falar a criana foi frequente recorrer a termos tcnicos e ao uso de
significantes que evidenciavam sua condio de fragilidade, marcando a distncia com a
criana idealizada. As caractersticas fsicas se sobrepunham a outras peculiaridades
subjetivas denotando dificuldade de simbolizao diante do real do corpo da criana.
Todas as mes relataram falar com a criana desde a gestao. Apesar do contato ser
mediado por aparelhos e do toque estar praticamente excludo, as mes permaneciam
prximas incubadora, apostavam na importncia de sua presena, falando em manhs
com seus filhos, falas carregadas de afeto. Para elas, os comportamentos das crianas,
assim como as mudanas cardacas e respiratrias observadas nos aparelhos de
monitorao, tinham um propsito e eram interpretados como reao sua presena e
sua voz. As respostas as alimentavam narcisicamente, retroalimentando um dilogo e
devolvendo o lugar roubado pelo nascimento prematuro. Os dados apontam para a
importncia que as mes do sua voz no estabelecimento e manuteno do vnculo da
dade, durante um perodo fundamental da constituio do sujeito. Ainda que o
ambiente da UTIN no tenha sido projetado para favorecer a maternagem, e isso tenha
consequncias, observou-se um esforo das mes de pressupor ali um sujeito, para alm
da prematuridade, e manter o vnculo com os filhos prematuros, quando ainda
permanecem na incubadora.
Palavras chave:voz materna; vnculo, prematururidade; psicanlise
Mestrado - M
SADE - Psicologia da Sade
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
A psicanlise, seus leitores e sua histria: notas sobre a chegada das ideias
freudianas em Minas Gerais.Rodrigo Afonso Nogueira Santos** (Universidade de
So Paulo, So Paulo, SP), Rodrigo Afonso Nogueira Santos (Universidade de So
Paulo)
Com o presente trabalho, apresento uma pesquisa que se situa, em termos gerais, no
campo da histria dos saberes psicolgicos no Brasil, e, especificamente, no debate em
torno da chegada das ideias freudianas em Minas Gerais. Partindo de uma metodologia
historiogrfica, tal pesquisa teve como fonte de informaes o conjunto de documentos
e enunciados produzidos poca da chegada das ideias psicanalticas em Minas Gerais,
a saber, os anos 1920. O trabalho de anlise e interpretao das fontes foi conduzido na
direo de uma articulao entre os enunciados e as condies histricas nas quais eles
se tornaram possveis. Dessa forma, torna-se fundamental apresentar o debate a partir do
qual a psicanlise se inseriu na intelectualidade mineira. Aqui, nos referimos ao amplo
debate organizado, sobretudo, na dcada de 1920, e relacionado ao levantamento de
diagnsticos sociais referentes identidade do brasileiro. Foi no interior dessa discusso
que as ideias freudianas encontraram solo frtil para florescer no Brasil e em Minas
Gerais, sendo que isso ocorreu por duas vias distintas: a medicina e o modernismo. Por
um lado, a medicina, marcada por teses higienistas e, por vezes, eugenistas, buscava em
Freud um conjunto de referncias tcnicas que servissem de fundamento para suas
prticas de sade mental, sobretudo no tocante ao tratamento dos desvios sexuais. Nessa
vertente, textos usualmente considerados como sendo mais orientados para a clnica,
tais como os Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade, ou A interpretao dos sonhos,
se tornaram a tnica. Por outro lado, os modernistas buscaram em Freud os
fundamentos da construo de uma referncia que se sustentasse na afirmao da
brasilidade - e mesmo de uma mineiridade - como uma marca identitria prpria do
pas, sem que a miscigenao fosse um problema. Aqui, textos como Totem e tabu e
Moral sexual civilizada e doena nervosa moderna se constituram como referncias
fundamentais. Assinalamos que, diferente do que ocorreu em outros estados - a exemplo
de So Paulo e do Rio de Janeiro -, em Minas Gerais, tais vias no entraram em rota de
coliso, tendo mesmo habitado os mesmos espaos. Vale destacar que, se tanto os
mdicos quanto os modernistas buscavam na psicanlise um campo que teorizava a
sexualidade - mesmo que sob perspectivas distintas -, essa marca tambm rendeu a
Freud um grupo de ferrenhos opositores: os intelectuais catlicos. Intensamente
criticado por autores de grande circulao no meio catlico, a psicanlise passou a ser
alvo de uma srie de desqualificaes, por tocar em assuntos considerados proibidos,
chegando a ser definida como uma teoria repugnante e pueril. A tenso entre leitores
interessados em Freud para um projeto prprio, e entre intelectuais que visavam
desqualific-lo, serviu ainda de base para a construo de um conjunto de enunciados de
particular interesse para a histria da psicanlise em Minas Gerais, a saber, aqueles nos
quais narrativas bblicas passaram a conviver em harmonia com os conceitos
psicanalticos.
Palavras chave:Saberes psicolgicos Psicanlise Sigmund Freud
Doutorado - D
Apoio Financeiro: CAPES
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
A rainha cega e o imperador: dinmica psquica entre vontade e intelecto na
psicologia conimbricense. Sandro Rodrigues Gontijo (UNOESTE)
No sculo XVI os Jesutas de Coimbra elaboram um conjunto de manuais escolares com
o objetivo de comentar a obra de Aristteles. O conjunto de alguns dos tomos que
compe a produo dos inacianos prope descries e anlises da alma, aqui
considerada em seu aspecto psicolgico, gerando assim uma psicologia com bases
filosficas e empricas, segundo o conhecimento da poca. Ao realizar a discrio das
instncias da alma e suas faculdades os Conimbricenses apresentam duas destas
faculdades como fundamentos do psiquismo propriamente humano, a saber, vontade e
intelecto. Pretendeu-se descrever as relaes destas duas potncias da alma com as
demais faculdades e entre si, indicando como, na altura, se entendiam os processos
decisrios e os fundamentos do modo de operar da mente. Para tal, foi analisado o
comentrio conimbricense sobre os trs livros do tratado De Anima (Sobre a Alma)
aristotlico em sua verso em portugus. Foi consultada a literatura especializada a
respeito da produo conimbricense em seus aspectos histricos e tericos. Tambm
foram utilizadas como fontes secundrias as obras de Aristteles, traduzida para o
portugus, De Anima e Parva Naturalia (Pequenos tratados sobre a natureza). Observou-
se que nas descries das faculdades da alma, conforme a conceituao da poca, a
vontade uma substncia imaterial que assenta na substncia da alma, a qual
considerada menos nobre do que o intelecto, levando-se em conta seus hbitos, atos e
objeto. Diferindo-se realmente dele; mesmo porque o intelecto se orienta em funo da
busca da Verdade, j a vontade tem como finalidade a deliberao sobre o Bem. Alm
disso, pode-se dizer que a vontade move o intelecto, enquanto o intelecto dirige a
vontade. No mais, a vontade pode mover e fundar atos do intelecto. Ela move o
intelecto no que diz respeito ao exerccio do ato de inteligir, embora o intelecto mova a
vontade no que concerne espcie propondo o objeto vontade, j que o objeto deve j
ser conhecido (ter sido apropriado pelo intelecto) antes da vontade atuar frente ao
objeto. Conforme o Comentrio, as aes do intelecto so mais sublimes, porque,
embora a vontade mova outras potncias, como a imaginao e a memria, e a prpria
potncia intelectiva quanto ao exerccio do ato, move ordenando, regendo, mandando,
como a vontade numa rainha, embora cega, por carecer da luz intelectual, mas o
prprio intelecto o imperador que fixa e anula as leis vontade. Acrescente-se que a
vontade no pode ser levada para coisa nenhuma, a no ser que seja movida pelo
intelecto, porque nada pode ser querido se no for conhecido, embora o intelecto, para o
seu primeiro ato, no exija previamente o movimento da vontade. Assim, neste modelo
a vontade apresentada como um processo que o fundamento da deliberao,
mobilizando outros processos psicolgicos, no entanto, idealmente, podendo ser
dirigido pelos atos intelectivos.
Palavras chave:saberes psicolgicos filosofia Conimbricense
Doutorado - D
Apoio Financeiro: Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo - FAPESP
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
As relaes entre a psicologia da Gestalt e a arte abstrata: o caso de Mario Pedrosa
na Argentina.Mara Cecilia Grassi** (Universidad Nacional de La Plata, Buenos
Aires/AR)
O objetivo principal deste trabalho demonstrar, a partir de uma perspectiva histrica,
as relaes entre dois campos diferentes: psicologia e arte. A relao entre esses campos
constitui um tpico ainda pouco investigado pelos historiadores argentinos, razo pela
qual consideramos relevante construir pontes existentes entre ambos. Concretamente,
nos centraremos nas operaes de recepo e de traduo no acadmicas que se
estabeleceram entre a psicologia da Gestalt e a arte abstrata argentina durante as
dcadas de 1940 e 1950. Nessa perspectiva, abordaremos os vnculos dos artistas
concretos argentinos, durante os anos de 1950, com Mario Pedrosa, intelectual
brasileiro que defendeu sua tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte no
concurso da ctedra de Histria da Arte e Esttica na Faculdade Nacional de Arquitetura
do Rio de Janeiro. A tese articulava as leis da percepo com a experincia esttica
atravs do estudo da forma e foi uma contribuio fundamental para artistas brasileiros
inclinados para a abstrao. Em 1951, Toms Maldonado e Lidy Prati, ambos artistas
abstratos argentinos, viajaram ao Brasil e estiveram em contato com Pedrosa e com
artistas cariocas como Geraldo de Barros e Waldemar Cordeiro. Nesse encontro e em
sucessivos intercmbios, que incluram cartas e publicaes cruzadas, que situamos a
contribuio de Pedrosa, sobre a teoria da forma, para artistas como Lidy Prati, Alfredo
Hlito e Raul Lozza. O material analisado, a partir do referencial histrico-crtico,
consiste em escritos de Pedrosa sobre o tema aqui abordado, obras dos artistas
mencionados e publicaes posteriores aos encontros entre eles tais como artigos de
Maldonado, Hlito e Lozza. A anlise desses documentos evidenciou a maneira pela qual
foram utilizadas as leis da percepo como um dos fundamentos epistmicos de
programas artsticos e como fonte de experimentao plstica. Como resultado das
tradues por parte dos artistas a respeito das ideias da Gestalt, identificamos dois
modos de apropriaco criativa dessa teoria no campo da arte argentina e brasileira. O
primeiro, um uso terico, se reflete nos manifestos e reflexes publicadas em diversos
meios como livros, revistas de arte e folhetos; e outro, ligado ao uso plstico que inclui
tanto a representao em linguagem visual da linguagem cientfica, isto , a aplicao
das leis da Gestalt para a composio de obras, como propostas de recreao por meio
dos desdobramentos da teoria. Conclumos que os intercmbios entre Argentina e Brasil
foram significativos e demonstram confluncia de interesses. Entretanto, consideramos
que as contribuies advindas da teoria da Gestalt diferem nos casos abordados.
Enquanto na Argentina os usos terico e plstico permaneceram em uma dimenso
latente ou escassamente enunciada, no Brasil os usos, a referncia e a investigao
sistemtica sobre a Gestalt podem ser claramente identificados.
Palavras chave:Psicologia Gestalt-arte Mario Pedrosa
Doutorado - D
Apoio Financeiro: Secretara de Ciencia y Tcnica UNLP
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
Psicologia da educao em instituies salesianas: a circulao de um projeto de
educao da juventude entre Turim e So Joo del Rei.Rodolfo Lus Leite Batista**
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG), Rodolfo Lus Leite
Batista (Universidade Presidente Antnio Carlos)
Nesta comunicao, apresenta-se recorte de pesquisa em andamento cujo objetivo
descrever o processo de circulao de um projeto de psicologia da educao da
juventude entre o Instituto de Psicologia Experimental do Pontifcio Ateneu Salesiano,
em Turim, Itlia, e o Centro de Estudos Pedaggicos, da Faculdade Dom Bosco de
Filosofia, Cincias e Letras, em So Joo del-Rei, Minas Gerais, durante as dcadas de
1930 e 1950. Essas instituies foram fundadas pela Congregao Salesiana, uma
sociedade religiosa catlica ligada formao de jovens e fundada por dom Bosco
(1815-1888). Na cidade mineira, a ao de padres salesianos iniciou-se em 1939, com a
criao de um colgio para formao de novios e realizao de oratrios festivos. Ao
final da dcada de 1940, viu-se a necessidade de fundao de um Instituto de Filosofia e
Pedagogia, onde fossem ensinadas disciplinas universitrias para seminaristas. Esse
instituto foi transformado por decreto presidencial na Faculdade Dom Bosco de
Filosofia, Cincias e Letras em 1953, ano em que iniciaram tratativas para a aquisio
de um laboratrio de psicologia nos moldes do existente no Instituto de Psicologia
Experimental do Pontifcio Ateneu Salesiano. Esse laboratrio compreendido como
uma zona de contato entre um projeto de psicologia construdo em instituies catlicas
europeias especialmente, italianas e o contexto local. Pressupe-se que, a partir
desse laboratrio e do centro pedaggico ao qual ele deu origem, tenham ocorrido
repercusses da filosofia neotomista como fundamentao epistemolgica para as
cincias praticadas em instituies catlicas e apropriaes em funo de demandas
locais ligadas educao. Ressalta-se que a reviso de literatura mostra que o perodo
em que se deu a circulao desse projeto de psicologia persistia a oposio de grupos
catlicos, nascida no sculo XIX, em relao constituio de uma psicologia
experimental em detrimento da psicologia filosfica. Tal oposio se fundava no
argumento de que seriam deixados de lado o estudo de caractersticas da alma, caso
fosse adotado o modelo experimental fisiolgico. Dessa forma, havia um esforo dos
salesianos em atender determinaes pontifcias para que fossem ensinadas disciplinas
cientficas orientadas pelo neotomismo em suas instituies. Esta comunicao orienta-
se pelo debate historiogrfico acerca das apropriaes de conhecimentos e prticas
psicolgicos em contextos diferentes daqueles que foram produzidos. As fontes
documentais investigadas esto disponveis no Centro Salesiano de Documentao e
Pesquisa, no Centro de Documentao e Pesquisa em Histria da Psicologia, da
Universidade Federal de So Joo del-Rei, e em bases digitais. Espera-se, a partir da
construo dessa rede de circulao do conhecimento psicolgico, contribuir para a
historiografia da psicologia em suas relaes com a educao e com o pensamento
catlico.
Palavras chave:Psicologia educao filosofia neotomista salesianos
Doutorado - D
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
Psicologia fenomenolgica e inconsciente na obra de Machado de Assis.Savio
Passafaro Peres (USP)
O objetivo deste trabalho mostrar que Machado de Assis, antes de Freud, defendia
uma elaborada concepo de inconsciente, a qual pode ser validada
fenomenologicamente pela relao entre os conceitos fenomenolgicos de conscincia
pr-reflexiva, conscincia intencional e reflexo. Para isso, analisamos o romance
Helena, escrito por Machado de Assis em 1876. Nesta obra, Machado de Assis explora
como a personagem central do romance, Estcio, vai se apaixonando por sua suposta
irm bastarda, Helena, sem que se d conta disso. O seu amor, embora no nomeado,
no notado e no refletido, manifesta-se de modo a influenciar o seu comportamento e
sua interpretao de mundo. Assim, Machado de Assis deixa transparecer, em suas
descries da subjetividade, uma sofisticada noo de inconsciente, a qual pode ser
interpretada fenomenologicamente. Para a fenomenologia husserliana, a alma sempre
dotada de autoconscincia tcita pr-reflexiva, a qual, apenas por meio da reflexo,
pode se manifestar em nvel verbal. Essa passagem da vivncia pr-reflexiva para a sua
expresso verbal pode ser motivada no apenas por elementos intrnsecos prpria
subjetividade, mas tambm por fatores extrnsecos. No romance Helena, o padre da
famlia, Melchior, que percebe o amor inconsciente de Estcio e o revela ao rapaz no
momento de clmax da trama, quando afirma a este ltimo que o corao um grande
inconsciente. Ao informar o rapaz de seu amor, que at ento permanecia no nvel pr-
reflexivo, o amor passa ao nvel reflexivo, exigindo que o rapaz rearticule e
ressignifique o campo hermenutico de suas experincias. Essa relao entre o nvel
pr-reflexivo e reflexivo da conscincia foi amplamente explorada tradio
fenomenolgica. Husserl entendia que, quando estamos em viglia, estamos pr-
reflexivamente conscientes de todas as nossas vivncias. Mas essa autoconscincia pr-
reflexiva, entendida como elemento intrnseco de todas as vivncias, no coincide com
sua elucidao conceitual. Tal elucidao exige no s a tematizao reflexiva das
vivncias, mas tambm um exame lingustico-conceitual das mesmas, articulando-as
com outras vivncias pertencentes ao fluxo de conscincia. Para Husserl, a reflexo
pode ser definida como uma vivncia de percepo dirigida imanncia, a qual ocorre
apenas ocasionalmente, e que possibilita a tematizao das vivncias. A reflexo, neste
sentido, uma atitude espiritual particular, que s ocorre em virtude de uma motivao
que leve ao ato reflexivo. Toda forma de autoconhecimento exige atos reflexivos, que
explicitam a vida pr-reflexiva da conscincia. Neste sentido, podemos dizer que a
personagem Estcio, do romance Helena, toma conscincia da vivncia pr-reflexiva de
amor por Helena no momento em que estimulado, pelo padre da famlia, a perceber
internamente o amor que j estava presente, mas permanecia no notado e, neste
sentido, era inconsciente.
Palavras chave:Fenomenologia inconsciente Machado de Assis
Ps-Doutorado - PD
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A psicologia em suas diversas expresses culturais: um tema
fecundo para pesquisas histricas.
Psicologia pedaggica e a recomendao de livros para pais e professores: a
educao entre a filosofia e a cincia.Raquel Martins de Assis (Universidade Federal
de Minas Gerais)
O resumo apresenta uma pesquisa ainda em andamento que analisa a obra Psychologie
Pedagogique (1916/1938) no mbito da divulgao da psicologia educacional por meio
da recomendao de leituras para professores e pais na primeira metade do sculo XX.
Desde o sculo XIX, com a liberao das tipografias e imprensas no Brasil, se acentua a
produo, comercializao e circulao de livros no pas. Ao mesmo tempo, a
psicologia vai se tornando um saber cada vez mais presente no campo da educao,
oferecendo, principalmente, subsdios para o estudo das crianas e dos escolares. Na
dcada de 1920, as reformas educacionais, realizadas em diversas regies brasileiras,
recomendam a organizao de bibliotecas escolares especficas para a formao de
professores e a leitura de diversas obras capazes de fomentar a renovao do trabalho
pedaggico. Em Minas Gerais, o livro Psychologie Pedagogique. Lenfant
ladolescent le jeune homme de J. de La Vaissire - jesuta francs e professor de
psicologia na Inglaterra - foi recomendado como um manual catlico que poderia
compor a formao dos professores, sendo tambm indicado aos leigos e aos pais. La
Vaissire afirmava que as questes educacionais e as aptides dos alunos, em diferentes
idades, vinham sendo submetidas ao controle cientfico. Por um lado, conclua o autor,
as pesquisas cientficas davam importantes subsdios para a compreenso do
desenvolvimento da criana, trazendo inmeras contribuies aos educadores. Por outro
lado, o jesuta considerava absurdo que o edifcio pedaggico fosse sustentando
apenas pela experincia cientfica. Desse modo, no se atendo apenas aos resultados das
cincias e, mais especificamente, da psicologia experimental, a obra aqui analisada
propunha uma psicologia pedaggica e um conjunto de saberes sobre a criana, o
adolescente e o jovem fundamentados em referncias oriundas tambm da filosofia, da
psicologia filosfica e da tradio catlica e jesutica em geral. Essa sntese, entre
psicologia experimental e saberes advindos de outros campos pode ser observada em
uma bibliografia final que acompanhava o livro. A bibliografia era composta por uma
lista de obras que permitiriam, ao leitor, consultar os documentos e reconhecer a
variedade de posies tericas sobre psicologia e a diversidade de interpretaes sobre
educao das crianas. Havia, entretanto, a ressalva de que os livros arrolados
continham doutrinas que no coincidiam, necessariamente, com a posio adotada pelo
autor. Apesar disso, a lista de obras recomendadas era dividida em sees que permitem
observar os fundamentos a partir dos quais seria possvel construir uma psicologia
pedaggica que no se restringisse aos limites do controle cientfico, embora no
descurasse dos modelos experimentais. Consideramos que Jules de La Vaissire, a partir
da estratgia de oferecer uma bibliografia ao final de seu livro, convoca o leitor a
conhecer e analisar pessoalmente a literatura psicolgica e pedaggica disponvel em
sua poca.
Palavras chave:Psicologia filosfica psicologia experimental educao
Pesquisador - P
HIST - Histria em Psicologia
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A utilizao do Desenho-Estria (D-E) e derivados na
contemporaneidade: contribuies para a pesquisa e para avaliao psicolgica em
diferentes contextos.
Filho nico na famlia contempornea: o uso do Desenho-Estria com Tema com
uma anlise sistmica. Monique Marques da Costa Godoy** (Universidade de
Taubat/ Taubat,SP), Adriana Leonidas de Oliveira (Universidade de Taubat)
O Desenho-Estria com Tema uma derivao do procedimento de investigao
psicolgica chamado Desenho-Estria, criado por Walter Trinca, que se utiliza de
apercepo temtica a partir do desenho criado pelo participante sobre um tema
determinado pelo aplicador. Apesar de suas origens psicanalticas, o procedimento de
Desenho-Estria com Tema passvel de ser analisado por outras abordagens como, por
exemplo, da Anlise do Comportamento e da Psicologia Analtica. Este trabalho tem
como objetivo apresentar uma proposta de um referencial de Anlise Sistmica do
Desenho-Estria quando os temas esto ligados s temticas da famlia. Baseando-se
nos referenciais clssicos para anlise do Desenho-Estria e nos referenciais tericos
sobre estrutura e dinmica familiar, o presente referencial de anlise sistmica do
Desenho-Estria com tema apresenta oito categorias: Atitudes Bsicas, Figuras
Significativas, Sentimentos Expressos, Necessidades e Desejos, Contexto Familiar,
Estrutura Familiar, Dinmica Familiar e Valores Familiares. Outra base terica utilizada
nesse trabalho foi a doCiclo Vital da Famlia, no qual se divide em Fase de Aquisio,
Fase Adolescente, Fase Madura e Fase ltima. Com o objetivo de analisar a
representao simblica do filho nico ao longo do Ciclo Vital Familiar, o
procedimento do Desenho-Estria com Tema foi aplicado em oito participantes, sendo
um representante masculino e um feminino de cada Fase do Ciclo Vital Familiar com a
instruo desenhe um filho nico em seu contexto familiar. Nas fases de Aquisio,
Adolescente e Madura os pais aparecem como figuras mais significativas, seguidas dos
pares como cnjuges e amigos; na Fase ltima os amigos aparecem em maior
evidncia, formando uma famlia credenciada e com valor afetivo maior que a famlia
de origem. Tambm se encontram Atitudes Bsicas positivas em todas as fases, alm da
prevalncia de Necessidades e Desejos de aquisio, construo e realizao e
Sentimentos de amor e proteo. Prevalece tambm nos participantes um sentimento de
medo pela perda dos pais e culpa por no serem os filhos idealizados pelos pais, seja
pelo gnero ou por causa de suas decises e conquistas. Quanto estrutura, dinmica e
aos valores familiares, os participantes desenharam famlias de origem compostas por
pai, me e filho; famlias credenciadas formadas por amigos; e famlias nucleares
compostas por cnjuges e seu filho tambm nico. Em especial na unidade elaborada
pelo representante da Fase de Aquisio, h o destaque para as mudanas nos membros
da famlia, que demarcam o processo dinmico da evoluo da famlia. Os valores de
unio, amor e cuidado, alm dos rituais importantes para unidade familiar, como
almoos de domingo e passeios ao shopping, foram abordados pelos participantes.
Conclui-se que para os participantes a unidade familiar algo de sua responsabilidade,
assim como satisfazer os desejos dos pais. Para eles o mais importante em uma famlia
seria a unio, o amor e o apoio familiar, enquanto que cnjuges e amigos so
fundamentais para enfrentar dificuldades familiares, como a perda dos pais.
Palavras chave:Avaliao Psicolgica. Psicologia Familiar. Desenho.
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A utilizao do Desenho-Estria (D-E) e derivados na
contemporaneidade: contribuies para a pesquisa e para avaliao psicolgica em
diferentes contextos.
O procedimento de Desenhos-Estrias na vivncia de tornar-se irmo de um beb
prematuro.Jssika Rodrigues Alves** (Universidade Federal do Triangulo
Mineiro),Conceio Aparecida Serralha (Universidade Federal do Triangulo
Mineiro),Isabela Silva Rocha (Universidade Federal do Tringulo Mineiro)
O relacionamento fraterno possivelmente o mais longo na vida de um indivduo e os
irmos causam grande impacto uns nos outros. Nesse contexto, uma nova organizao
da estrutura familiar desencadeada com o nascimento de um novo filho, que provoca
mudanas familiares nos papis e tarefas de cada membro. Porm quando esse filho
nasce prematuramente, ou seja, com idade gestacional inferior a 37 semanas, e, por
ainda no encontrar-se apto para a vida extrauterina, necessita ficar na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) para desenvolver-se de forma saudvel, a dinmica
familiar inesperadamente alterada. A famlia necessita, ento, elaborar o
acontecimento, lidar com a hospitalizao do beb, alm de mudar a rotina diria para
acompanhar a internao. Com todas essas alteraesas consequncias dessa inesperada
situao podem ser traumticas inclusive para o irmo do prematuro, que passa a
conviver com pais carentes em termos emocionais, aflitos e preocupados. O objetivo
desse trabalho, que parte de uma pesquisa mais ampla, foi o de investigar os
sentimentos e as relaes que as crianas vivenciaram e estabeleceram com os pais e
com o recm-nascido, na situao de prematuridade. Foram utilizados para a coleta de
dados a hora ldica diagnstica e o procedimento de Desenhos-Estrias com a criana,
alm de uma entrevista semiestruturada com a me. Os dados foram analisados por
meio da tcnica de Anlise de Contedo, nas vertentes temtica e da enunciao, a partir
da teoria do amadurecimento de Winnicott e do referencial sobre desenhos-estrias de
Walter Trinca. A criana, desse estudo de caso, tem nove anos de idade, a terceira
filha do primeiro casamento da me; sendo que a me teve um quarto filho fruto de
seu relacionamento com o segundo marido que nasceu prematuramente e estava
internado na UTIN no momento da coleta. Os desenhos e estrias da criana
evidenciaram o quanto o nascimento do irmo foi um momento significativo na sua
vida, alm de sentimentos de solido e medo com todas as mudanas ocorridas na rotina
familiar, visto que a me, antes presente fisicamente em casa, agora passava o dia todo
afastada cuidando do irmo prematuro. Constatou-se um processo depressivo na
participante, expresso por meio de defesa manaca, permitindo inferir que, a aparente
tranquilidade manifesta pela criana ao longo da coleta de dados refletia o oposto de sua
realidade interna. Ademais, foi observado comportamentos de cuidado da criana para
com o irmo prematuro, sugerindo reparao dos sentimentos agressivos em relao a
ele, interpretados em seus desenhos. O procedimento de Desenhos-Estrias mostrou-se
sensvel e permitiu identificar sentimentos e emoes ligados a nova dinmica familiar e
ao momento da chegada prematura de um novo irmo; dessa forma o estudo remete
importncia de um olhar mais aprofundado das famlias e profissionais para as reaes
das crianas ao nascimento de irmos prematuros, visando ajud-las e acolhe-las na
vivncia desse momento.
Palavras chave:Avaliao psicolgica. Relaes familiares. Desenho-Estria.
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A utilizao do Desenho-Estria (D-E) e derivados na
contemporaneidade: contribuies para a pesquisa e para avaliao psicolgica em
diferentes contextos.
Procedimento de Desenhos-Estrias na anorexia: um estudo de caso. Cristina
Mensato Rebello da Silva* (Instituto de Psicologia da Universidade de So Paulo),
Helena Rinaldi Rosa (USP)
A incidncia dos transtornos alimentares cada vez maiorna populao e, em especial,
junto aos jovens, o que torna a anorexia e a bulimia nervosas um problema de sade
pblica na atualidade, justificando a presente pesquisa.O objetivo deste trabalho, parte
de pesquisa mais ampla, foi avaliaruma paciente com anorexia nervosa, empregando o
procedimento de Desenhos-Estria (D-E). A paciente, de 18 anos,vinda de Cabo Frio,
usuria do Ambulatrio de Transtornos Alimentares da Faculdade de Medicina da
Universidade de So Paulo, onde estava internada na ocasio da avaliao. Concluiu o
Ensino Mdio e pretendia fazer nutrio. A doena teve incio em sua cidade, com a
alterao nos exames de rotina, o que a levou a comer cada ver menos, chegando a ser
internada em Cabo Frio e a se alimentar por sonda. Foi em seguida transferida para o
Ambulatrio onde a pesquisa foi realizada, e sua me a visitava em So Paulo toda
semana.O Procedimento foi aplicado no hospital, porm sem prejuzo das atividades
realizadas no mesmo, em horrio agendado pela paciente. Foram utilizados papel, lpis
preto n2 e lpis colorido. O projeto teve aprovao do Comit de tica em Pesquisa
com Seres Humanos do IPUSP. Com dificuldade de falar de si mesma no contato com a
pesquisadora, revelou no gostar de frequentar as atividades do ambulatrio, pois
considera seus participantes como viciados, no param de falar em emagrecer, em
comida, etc. Seus desenhos e estrias evidenciaram, alm de sentimentos de abandono e
de depresso, seus desejos de progredir, de curar-se, pois sente-se deslocada, sem
pertencimento. O uso de cores mostra sua esperana de melhorar, porm ilustra
tambm, em desenhos no coloridos, seus pensamentos que a impedem de progredir,
dizem: Pare! Prendendo-a do lado da doena, sem poder estudar e trabalhar. Mais do
que isso, sente-se refm de algo que no consegue controlar, o que pode estar
relacionado com uma agressividade autodirigida e impulsos sdicos que, muitas vezes,
volta para si mesma, levando-a doena. O desenho de um corao partido em diversas
peas e com apenas algumas coloridas, revela como a paciente se sente cindida,
esperanosa e impotente.O procedimento de D-E mostrou-se assim sensvel e permitiu
aprofundar sua psicodinmica de funcionamento, podendo identificar suas dificuldades
emocionais; a partir disso, possvel sugerir os pontos nodais a serem trabalhados com
ela. Estudos com mais casos, mais amplos e que permitam maior generalizao podem
contribuir na reflexo acerca de maneiras de interveno de psiclogos no tratamento de
pessoas que tm transtornos alimentares a fim de que sejam mais efetivos e eficazes no
tratamento dos doentes.
Palavras chave:Avaliao psicolgica. Anorexia. Procedimento Desenhos-Estrias
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: A utilizao do Desenho-Estria (D-E) e derivados na
contemporaneidade: contribuies para a pesquisa e para avaliao psicolgica em
diferentes contextos.
Repercusses do abuso sexual intrafamiliar na adolescncia observados atravs do
Desenho-Estria com Tema. Roberta Rodrigues de Almeida, Martha Franco Diniz Hueb
(Universidade Federal do Triangulo Mineiro)
O abuso sexual contra adolescentes tem sido considerado um relevante problema de sade
pblica, sendo que na maioria dos casos, tal prtica ocorre no contexto familiar com pessoas
com quem a vtima tem uma relao de carinho, confiana e amor. Trata-se de situao na
qual uma criana ou adolescente usado para gratificao de um adulto ou mesmo de um
adolescente mais velho, baseado em uma relao de poder, incluindo desde manipulao da
genitlia, mama ou nus, explorao sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, at o
ato sexual com ou sem penetrao, com ou sem violncia fsica. Observa-se uma sub
notificao dos casos, provavelmente em funo de sentimentos de culpa, vergonha, medo
e tolerncia da vtima e das pessoas conhecedoras do abuso, fato que aponta a necessidade
de divulgao de pesquisas para o grande publico. Objetivou-se com esse estudo, investigar
as manifestaes do sentimento de culpa em adolescentes vtimas de abuso sexual
intrafamiliar, bem como verificar as demais consequncias decorrentes desse sentimento.
Participaram da pesquisa qualitativa, cinco adolescentes do sexo feminino de 12 a 15 anos,
vtimas de abuso sexual intrafamiliar que procuraram o Conselho Tutelar para realizar a
denuncia. Utilizou-se de entrevista individual semiestruturada e do Procedimento
Desenho-Estria Temtico (DE-T) com a consigna: Desenhe como imagina uma
adolescente vtima de abuso sexual. As entrevistas e as histrias do DE-T foram
audiogravadas e transcritas na ntegra, sendo que as primeiras foram compreendidas pela
analise de contedo e o DE-T pela livre inspeo do material, sustentados no referencial da
psicanlise. Os dados foram agrupados em cinco categorias: (1)Manifestao de culpa; (2)
Omisso do abuso,(3) Impulsos Destrutivos, (4)Mecanismos de Defesa do Ego e (5)
Interferncia no Desempenho Escolar. Identificou-se que o sentimento de culpa estava
vinculado manipulao dessa pelos agressores e em especial ao receio de que as pessoas
as julgassem como se tivessem consentido com o abuso; a omisso do abuso manifestou-se
intimamente relacionada ao receio de que o agressor ferisse membros da famlia; os
impulsos destrutivos, foram observados pela inteno suicida, automutilao e
comportamento agressivo com as pessoas prximas. A projeo e represso, foram os
mecanismos de defesa mais observados; e a queda no rendimento escolar, associado
dificuldade de concentrao, foi outro ponto bastante identificado nas participantes.
Conclui-se que o DE-T mostrou-se sensvel para avaliar as manifestaes da culpa e as
conseqncias do abuso sexual em vtimas adolescentes, favorecendo a expresso dos
sentimentos com maior facilidade. Destaca-se que a escola um lugar possvel para a
identificao e interveno de casos de abuso sexual intrafamiliar, o que denota a
necessidade de capacitao de seus membros para que ao identificar e denunciar tal pratica
abusiva possa garantir a qualidade de vida e os direitos da criana e do adolescente.
Ressalta-se, entretanto, que h necessidade de novas pesquisas e estudos para que sejam
produzidos novos conhecimentos e para que mais pessoas tenham acesso informao, a
fim de que crianas e adolescentes tenham direito a uma vida protegida de qualquer
violncia.
Palavras chave:Abuso Sexual. Abuso Intrafamiliar. Psicanlise
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: Amplitude e pluralidade de temticas, instrumentos e contextos
da Avaliao Psicolgica.
A influncia das variveis sexo, idade e escolaridade no Teste Hooper de
organizao visual. Roseli Almeida da Costa Ameni (Instituto de Psicologia da
Universidade de So Paulo - SP), Ira Cristina Boccato Alves (Universidade de So
Paulo)
O Teste Hooper de Organizao Visual (Visual Organization Test - VOT) foi publicado
em 1958 e revisado em 1983. um teste para avaliar a capacidade de organizao
visual dos estmulos, sendo sensvel aos danos neurolgicos. O teste composto por 30
figuras de objetos comuns, fragmentadas em duas a quatro partes, como quebra-cabeas,
impressas em cartes com fundo branco. Os itens so apresentados um a um para que o
examinando diga o nome da figura que seria formada, se as partes do desenho fossem
juntadas corretamente. O objetivo desta pesquisa foi investigar a existncia de
diferenas em relao s variveis idade, sexo e escolaridade. A amostra foi composta
por 969 adultos de ambos os sexos, com idades entre 18 e 82 anos, sendo 53,5%
mulheres, subdivididos em seis faixas etrias, e a escolaridade variou de ensino
fundamental a superior. Em relao distribuio da faixa etria, a maior concentrao
de participantes ficou na faixa de 21 a 30 anos (26,4%). Essa caracterstica tambm foi
observada na amostra total, bem como em cada grupo de gnero. Alm disso, a
distribuio das idades ficou bastante balanceada em cada faixa quando considerada a
amostra total. A aplicao dos testes foi individual de acordo com as instrues do
manual original, mas sem interrupo em funo do nmero de erros consecutivos. Para
a pesquisa foi acrescentado um item como exemplo, que no consta do teste original. As
respostas so pontuadas em 1, 0,5 ou 0 pontos para cada item. Para verificar a influncia
das variveis estudadas foi realizada uma anlise de varincia, que indicou diferenas
entre as mdias em relao ao sexo, idade, escolaridade e tambm entre todas as
interaes entre as trs variveis. Os testes Post Hoc de Tukey mostraram diferenas
entre os trs nveis de escolaridade e um agrupamento das faixas etrias em quatro
conjuntos. Foram encontradas diferenas entre os sexos apenas para a faixa de 61 anos
ou mais, com escolaridade superior, com pontuaes mais altas para o sexo masculino.
Em relao escolaridade os dados indicaram um aumento das mdias com o aumento
da escolaridade. Este resultado provavelmente se deve ao fato de que provvel que
tenha havido influncia da varivel escolaridade, porque na poca em que essas pessoas
eram mais jovens provavelmente os homens tinham mais oportunidades para continuar
os seus estudos do que as mulheres, o que no acontece nas outras faixas etrias, porque
atualmente o acesso das mulheres ao ensino superior aumentou muito. Em relao
idade ocorre o inverso, h uma tendncia de aumento das mdias conforme diminui a
idade, mostrando maiores pontuaes para os mais jovens. Em funo desses resultados
foram estabelecidas normas em percentis, considerando essas divises.
Palavras chave:Organizao visual. Teste Hooper. Avaliao.
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: Amplitude e pluralidade de temticas, instrumentos e contextos
da Avaliao Psicolgica.
Avaliao da criatividade em indivduos com habilidades artsticas: comparao
entre artes plsticas, dana e msica. Amanda da Costa Monte Nero (Universidade de
Taubat - SP), Paulo Francisco de Castro (Universidade de Taubat e Universidade
Cruzeiro do Sul)
O presente trabalho possui como objetivo apresentar dados sobre a avaliao da
criatividade em um grupo de indivduos com habilidades artsticas, comparando os
resultados a partir de trs modalidades de arte: plsticas, dana e msica. A criatividade
pode ser considerada um dos traos caractersticos do homem e um dos aspectos que o
diferencia dos demais seres vivos. Porm, seu estudo e definio tm se mostrado
complexos em razo da diversidade de suas caractersticas e da variedade de expresses
e formas nas quais a criatividade pode se manifestar. Participaram do estudo 30
indivduos adultos (mdia em 34,2 anos), divididos igualmente quanto ao sexo e quanto
modalidade artstica. Todos foram submetidos ao Teste de Torrance - verso
brasileira: Pensando criativamente com figuras. O referido instrumento composto por
trs atividades para expresso criativa por meio da elaborao de desenhos e
proporciona a avaliao de 13 fatores que compem a capacidade criativa que se
articulam em dois ndices criativos. Aps a correo dos testes, os resultados foram
comparados aos dados normativos brasileiros e aplicados testes estatsticos para
descrio e comparao das variveis, obtendo-se, em sntese, o que segue: A maior
parte dos fatores avaliados indicaram predomnio de valores considerados mdios para a
populao brasileira, exceto dois fatores com classificaes acima da mdia, a saber:
Perspectiva Incomum (50%) que revela capacidade para analisar situaes sob novos
pontos de vista, com postura inovadora e crtica que subsidiam novas alternativas e
possibilidades, alm de Combinao (100%) que indica praticidade e capacidade de
planejamento para associar ideias aparentemente fragmentadas, por meio de uma sntese
criativa. Quando os resultados so comparados em relao modalidade artstica, tem-
se dois fatores com indicao de diferenas estatisticamente significantes: Flexibilidade
com resultados elevados para msica (p=0.018), significando maior habilidade nos
msicos para solucionar problemas, analisando-os sob diversos pontos de vista, alm
disso so capazes de se adaptar com facilidade e valorizam aspectos positivos dos
acontecimentos e dos relacionamentos, at mesmo nas adversidades; Fantasia com
escores elevados para artes plsticas (p=0.031), que pode ser interpretado que os artistas
apresentaram grande abertura e receptividade para os prprios contedos imaginrios e
inconscientes, utilizando-os na construo de obras, alm de possurem bom
discernimento de suas metas e atuam com o objetivo de alcanar seus sonhos. No estudo
de correlao entre as variveis do teste, observou-se 20 associaes positivas,
indicando relaes significativas entre essas variveis do instrumento, tambm se
observou correlao positiva entre os fatores avaliados e os ndices criativos, o que
confirma a validade do instrumento. O estudo demonstra a importncia da investigao
sobre o tema da criatividade para o campo da Psicologia e demais reas do
conhecimento, e confere a essa expresso humana posio de valor na constituio e no
desenvolvimento dos indivduos.
Palavras chave:Avaliao Psicolgica. Criatividade. Habilidades Artsticas.
Pesquisador - P
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: Amplitude e pluralidade de temticas, instrumentos e contextos
da Avaliao Psicolgica.
Desafios na avaliao de traos socialmente indesejveis da personalidade. Nelson
Hauck Filho, Ariela Raissa Lima Costa,Natlia Costa Simes (Universidade So Francisco -
Campinas / SP)
O presente trabalho possui como objetivo avaliar caractersticas de traos socialmente
indesejveis da personalidade em universitrios e apresentar possveis solues para
diminuio do vis da Desejabilidade Social. Entendem-se os traos socialmente
indesejveis como aqueles vistos de forma negativa pela sociedade. Exemplos dessas
caractersticas so a psicopatia, que pode ser caracterizada por comportamentos antissociais,
impulsividade e mentira patolgica; o narcisismo, relacionado a caractersticas como a
grandiosidade e superioridade e o maquiavelismo, o qual envolve comportamentos
estratgicos e a manipulao. Tais traos podem ser entendidos como uma variao extrema
de dimenses gerais da personalidade. Na presente investigao a amostra foi composta por
449 alunos de universidades pblicas e privadas de trs estados brasileiros: So Paulo,
Santa Catarina e Minas Gerais. Todos os universitrios responderam a um questionrio
sociodemogrfico e aos instrumentos Big Five Inventory (BFI), instrumento de autorrelato
com 44 itens que avalia a personalidade, Short Dark Triad (SDT), instrumento de
autorrelato com 27 itens que avalia a Trade Sombria (psicopatia, narcisismo e
maquiavelismo) e Dirty Dozen (DD), instrumento de autorrelato com 12 itens que tambm
avalia a Trade. Alm disso, como tentativas de diminuir o vis da desejabilidade social foi
construdo um ndice de psicopatia, um perfil prototpico, que consiste em uma medida de
similaridade (correlao intraclasse) entre os escores de um determinado indivduo e um
perfil de respostas prototpicas de psicopatia elaboradas por especialistas para o instrumento
BFI. Os resultados obtidos nos instrumentos foram comparados ao ndice de Psicopatia e
foi realizado o controle de aquiescncia nos instrumentos, tambm como tentativas de
diminuir o vis da desejabilidade social. Em sntese, tem-se os seguintes resultados: foram
observadas correlaes positivas, moderadas e significativas entre o ndice e os escores nos
dois instrumentos SDT e DD; notavelmente, essas correlaes foram mais altas para os
fatores de psicopatia de cada instrumento, e tambm mais expressivas ao controlar o efeito
da aquiescncia. Ainda em relao ao SDT e DD, as mdias dos universitrios foram abaixo
da mdia, sugerindo que os mesmos tem pouca presena dos traos da Trade Sombria. Em
relao ao ndice e outras variveis externas, como as relativas ao uso de substncias,
embora todas as correlaes tenham sido positivas, elas foram de reduzida magnitude.
Foram apresentadas comparao de mdias entre o ndice e a varivel sexo, os resultados
demonstram que mulheres, em mdia, esto mais distantes do perfil prototpico da
psicopatia do que os homens (a correlao para mulheres mais negativa do que para
homens). No foram identificadas diferenas significativas entre os estados nesse estudo,
contudo o estado de Minas Gerais foi o que ficou mais distante do perfil prototpico da
psicopatia e o estado de Santa Catarina o mais prximo do perfil. Conclui-se que o ndice
possibilita uma avaliao encoberta da psicopatia, sendo sugeridos novos estudos para
explorar as potencialidades do mesmo e ainda nota-se que estudo ilustra a necessidade de
atentar para vieses de resposta ao utilizar inventrios de autorrelato, principalmente na
avaliao de traos socialmente indesejveis da personalidade.
Palavras chave:Avaliao Psicolgica. Psicometria. Trade Sombria.
Doutorado - D
Apoio Financeiro: CAPES.
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: Amplitude e pluralidade de temticas, instrumentos e contextos
da Avaliao Psicolgica.
O Teste de Torrance do pensamento criativo na avaliao do impacto na
criatividade de estudantes do ensino fundamental a partir da aplicao de
abordagem tinkering. Cassia de Oliveira Fernandez (Universidade de So Paulo - SP),
Roseli de Deus Lopes (Universidade de So Paulo - SP),Helena Rinaldi Rosa (USP)
A abordagem tinkering, ou exploratria, corresponde a uma abordagem pedaggica que
incentiva modos exploratrios de interao com o mundo, na qual as atividades podem
ser enfrentadas e conduzidas por caminhos diversos e complexificadas em nveis que
dependem de objetivos e interesses pessoais, sem a busca por um fim previamente
definido. Dadas suas caractersticas ldicas e exploratrias, a adoo da abordagem
tinkering pode contribuir para a diminuio das barreiras para participao em
atividades de programao e programao fsica, e para o desenvolvimento da
criatividade. Este trabalho investigou se a aplicao dessa abordagem em aulas de
programao e programao fsica para alunos de stimo ano do Ensino Fundamental
proporcionou maior desenvolvimento de seu potencial criativo. O currculo de
programao fsica proposto teve durao de 12 semanas, com aulas semanais de 1h30.
Para avaliao da criatividade, utilizou-se o Teste de Torrance do Pensamento Criativo,
considerando-se o total do ndice Criativo Figural 1 - composto pela somatria dos
escores das categorias de fluncia, flexibilidade, originalidade e elaborao. O teste foi
aplicado coletivamente, na sala de aula, antes do incio da realizao das atividades e
aps o seu trmino (intervalo de X semanas), utilizando-se tambm um grupo controle,
com caractersticas similares ao grupo experimental, mas que assistiu a aulas regulares
durante o perodo das atividades. A amostra foi composta por 51 estudantes do 7 ano
do Ensino Fundamental, sendo 17 do grupo controle (7 meninas e 10 meninos) e 34 do
grupo experimental (10 meninas e 18 meninos). A mdia de idade dos participantes foi
de 12,2 anos. Os resultados do Teste T que comparou os totais do ndice Criativo
Figural 1 no pr e ps teste para os grupos controle e experimental, indicam que no
houve diferenas estatisticamente significantes entre os grupos controle e experimental
no pr-teste (T= -0,570; p = 0,572). Isso indica que os grupos eram equivalentes quanto
ao aspecto criatividade antes do incio da interveno. Aps a interveno realizada
durante as doze semanas, foram observadas diferenas significantes entre os grupos no
ps-teste (T =-2,684; p = 0,010). Enquanto o grupo controle manteve-se estvel (T =
0,203; p = 0,840), foi observada uma evoluo positiva no ndice Criativo Figural 1
grupo experimental (T = -2,045 ; p = 0,046). Tais resultados indicam que o teste
utilizado se mostrou sensvel para identificar o impacto da interveno na criatividade
dos estudantes, e mostrou-se estvel para o grupo controle. Alm disso, no foram
observadas diferenas significativas entre os ndices Criativos de meninos e meninas
tanto para o pr-teste quanto no ps-teste.
Palavras chave:Criatividade. Teste de Torrance. Avaliao.
Mestrado - M
Apoio Financeiro: Bolsa de Mestrado concedida pela CAPES
AVAL - Avaliao Psicolgica
-
Este resumo parte integrante das Comunicaes Cientficas apresentadas na 47 Reunio Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia So Paulo, 2017 ISSN 2176-5243
Sesso Coordenada: Amplitude e pluralidade de temticas, instrumentos e contextos
da Avaliao Psicolgica.
Repensando os momentos iniciais da entrevista psicolgica: consideraes acerca
da importncia dos primeiros minutos para o diagnstico clnico. Fbio Donini
Conti (Universidade Cruzeiro do Sul)
O presente trabalho teve como objetivo demonstrar quo significativos so, para a
construo do diagnstico, os momentos iniciais de uma entrevista psicolgica. A
premissa foi a de que os primeiros minutos do encontro revelam, por si s, a(s) rea(s)
da vida em que os conflitos se encontram alocados. Esta ideia se fundamentou na
concepo de que os motivos inconscientes no so informados, inicialmente, na
ocasio em que o paciente convocado a falar de si. Estes, por sua vez, acabam sendo
protelados, na ordem do discurso, por conta das prprias leis que regem o
funcionamento psquico dos seres humanos. Para verificar tal hiptese foram estudados
24 casos oriundos de uma clnica da grande So Paulo, no sendo controladas as
variveis: sexo, idade, etnia, nvel socioeconmico, escolaridade e religio em funo
de se considerar o fenmeno como sendo de ordem filogentica e, portanto, universal.
Os instrumentos utilizados foram a entrevista clnica, o Teste HTP e o TAT. Os critrios
utilizados para indicar quais reas seriam aquelas em que o conflito nuclear estaria
alocado foram os seguintes. Na entrevista, utilizou-se como pauta os setores j
caracterizados na construo da EDAO (Afetivo-relacional, Sociocultural,
Produtividade e Orgnico). Aqueles no apresentados inicialmente pelo paciente foram
considerados como conflitivos. Para avaliar o HTP e o TAT, considerou-se as reas em
que o conflito era mais evidente, visto ser possvel observar, nos testes, informaes
acerca das quatro reas. Cada rea recebeu uma varivel categrica. Caso o conflito
fosse observado na rea Afetivo-relacional, o valor atribudo seria 1, enquanto que, na
rea da Produtividade, 2. Nas reas Sociocultural e Orgnico, as atr