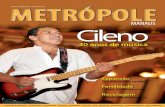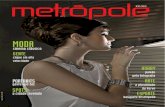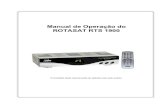A INVENÇÃO DO COTIDIANO NA METRÓPOLE Sociabilidade e Lazer em São Paulo, 1900-1950
-
Upload
camila-bueno -
Category
Documents
-
view
33 -
download
1
Transcript of A INVENÇÃO DO COTIDIANO NA METRÓPOLE Sociabilidade e Lazer em São Paulo, 1900-1950

A INVENÇÃO DO COTIDIANO NA METRÓPOLE: Sociabilidade e Lazer em São
Paulo, 1900-1950
Margareth Rago - UNICAMP
Dizem-na tristonha, escura... Mas no momento em que escrevo, Novembro anda lá fora, desvairado em odores e colorações. Eu sei de parques esquecidos em que a rabeca dos ventos executa a sarabanda por que pesadamente bailam os rosais... Eu sei de coisas lindas, singulares, que Paulicéa mostra só a mim, que dela sou o amoroso incorrigível e lhe admiro o temperamento hermafrodita... Procurarei desvendar-lhe aspectos, gestos, para que a observem e entendam. Talvez não consiga. Ponho-me a pensar que minha terra é como as estrelas de Olavo... difícil de entender...
Mário de Andrade, 1920
- balizas
Difícil de entender como os astros celestes com que conversava o poeta Olavo
Bilac, em seu famoso poema Ouvir Estrelas, São Paulo aparece, nas crônicas de Mário de
Andrade, escritas nos anos vinte, como opaca e misteriosa, exigindo um tradutor
apaixonado, capaz de enxergar suas riquezas, revelar suas profundezas e explicar suas
ambigüidades.1 O discurso amoroso que recria poeticamente a cidade não ignora a
multiplicidade de experiências sociais, nem os conflitos agudos que marcam a vida
turbulenta da cidade do trabalho, da seriedade e do progresso, em processo de acelerada
industrialização e modernização, nas primeiras décadas do século 20. Afinal, para além das
dimensões físicas e materiais do intenso desenvolvimento sócio-econômico que vive São
Paulo, nesse período, assiste-se a um profundo processo de reordenação da sociedade e de
ocupação do espaço urbano, caracterizado tanto pela incorporação, quanto pela destruição
das inúmeras tradições culturais populares.
É possível dizer que mais do que incentivar a expressão das diferenças culturais que
os muitos grupos sociais e étnicos trouxeram para compor a complexidade da tessitura
urbana, constituindo o que Guilherme de Almeida chamou de “Cosmópolis”, em sua
1 Mário de Andrade escreve suas crônicas "De São Paulo", em Ilustração Brasileira, entre 1920 e 1921, no Rio de Janeiro.
1

reportagem sobre os diferentes bairros da cidade de São Paulo2, a modernização
conservadora que afetou o país, desde então, impôs progressivamente a homogeneização
de um modo de viver em nome do progresso, da técnica e da razão. No entanto, também
não se pode negar que são constitutivas da experiência da modernidade as múltiplas formas
de interferência na realidade e de alteração do curso dos acontecimentos pelos “heróis da
vida moderna”, como dizia Baudelaire, ao se deparar com a acelerada modernização de
Paris, no século 19.3
Em São Paulo, a criatividade dos diferentes grupos sociais, políticos e culturais,
entre imigrantes anarquistas, operários socialistas e comunistas, mulheres feministas das
camadas médias e altas, intelectuais e artistas modernistas, grupos negros, trabalhadores e
desempregados nacionais, que se opuseram à normatização social e à codificação burguesa
das condutas, reinventando suas vidas e renovando suas esperanças, desde as primeiras
décadas do desenvolvimento urbano-industrial, no século 20, deixou marcas inesquecíveis
na memória histórica, com suas transgressões, afrontas, lutas, inovações e estratégias de
sobrevivência criadas no tumultuado cotidiano da vida social.
As dimensões aqui brevemente apontadas servem de balizas para um contato com a
experiência histórica da modernidade paulistana, privilegiando-se as formas de
sociabilidade e a diversificação do lazer, construídas na primeira metade do século vinte.
Vale lembrar que o momento é marcado por importantes mudanças na paisagem da cidade,
que rapidamente perdia sua imagem tradicional de “cidade da garoa”, a que aludiam os
poetas Álvares de Azevedo e Castro Alves, ou ainda, o cronista Afonso Schmidt, em seu
famoso livro São Paulo de Meus Amores, quando se referia ao chuvisqueiro manhoso que
torna escorregadias como sabão as ladeiras e os viadutos de São Paulo.4
- memórias do progresso
A abertura das avenidas nos Campos Elíseos, Higienópolis e Paulista, os
loteamentos da Companhia City, no Jardim América, o ajardinamento de praças, como a da
República, as transformações no Triângulo central, desde as gestões dos prefeitos Antonio
da Silva Prado (1899-1910) e Raimundo Duprat (1911-1914) atestam a ampla remodelação
do espaço urbano em curso e, para além das interferências urbanísticas, constituem o
2 Almeida, 10/3/19293 Baudelaire, Charles – “De l´héroïsme de la vie moderne”, 19764 Schmidt, Afonso – São Paulo de meus amores. S.Paulo: Ed. Brasiliense,s/d, p.14
2

cenário de uma importante mutação nos modos de sociabilidade, pautados pelas referências
do mundo europeu.5
Desde cedo, a metropolização da cidade de São Paulo envolveu muito mais do que
a ordenação e o embelezamento do espaço físico, com a construção dos majestosos
palacetes, jardins e parques, como o Anhangabaú, o parque Dom Pedro, ou a Praça Buenos
Aires, pelo arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard. Constituiu-se um novo regime de
verdade a partir do qual foram definidas e ditadas as regras do modo correto de viver,
sentir, pensar e agir. Os padrões considerados civilizados de comportamento e de convívio
social, progressivamente adotados no universo patriarcal da elite cafeicultora e dos
industriais emergentes foram exportados para toda a cidade, produzindo tensões, conflitos,
tumultos e resistências. 6
Assim sendo, embora a cidade tenha-se formado a partir do encontro de várias
nacionalidades, entre os milhares de imigrantes europeus e migrantes rurais que aqui
aportaram e os negros ex-escravos e livres que aqui viviam, as elites dominantes
procuraram impor autoritariamente seu novo modo de vida, percebido como moderno,
tentando eliminar as diferentes culturas existentes, erradicar os hábitos populares vistos
como atrasados ou perigosos, seja expulsando os negros e outros “indesejáveis”, seja
protegendo seus bairros com muralhas invisíveis. Além disso, procuraram interferir
decididamente na composição étnica da população, em busca do “branqueamento da
raça”.7
As reformas urbanas para a construção da “metrópole do café” foram
acompanhadas por discursos literários, jornalísticos ou memorialísticos enaltecedores do
progresso e do poder libertador da técnica, preocupados, num primeiro momento, em
demarcar as linhas divisórias entre o tempo presente, tumultuado pelas marcas do
progresso e o passado, descrito como monótono e atrasado. Em 1900, ao retornar a São
Paulo depois de 30 anos de ausência, o jornalista carioca Alfredo Moreira Pinto descrevia
esse crescente dinamismo, observando as praças, ruas, fábricas, bancos, casas de negócios,
secretarias e outras instituições, num misto de embevecimento e de nostalgia:
“São Paulo, quem te viu e quem te vê! (...)Está V.Ex. completamente transformada, com proporções agigantadas,
possuindo opulentos e lindíssimos prédios, praças vastas e arborizadas, ruas todas caladas, percorridas por centenares de pessoas (...); belas avenidas, como a denominada
5 Campos, 2002, 77 e segtes.6 Rolnik,1999, 67 e segtes.7 Skidmore, 1989.
3

Paulista, encantadores arrabaldes como os Campos Elíseos, a Luz, Santa Cecília, Santa Ifigênia, Higienópolis e Consolação, com uma população alegre e animada, comércio ativissímo; luxuosos estabelecimentos bancários, centenares de casas de negócio e as locomotivas soltando seus sibilos progressistas, diminuindo as distâncias e estreitando em fraternal amplexo as povoações do interior. 8
Como outros memorialistas, Moreira Pinto destacava os sinais do progresso e da
civilização nas transformações urbanas e construía uma representação harmoniosa do
sentido dessas inovações, inscrevendo a cidade e seus habitantes numa nova
temporalidade. Apagando de suas descrições os traços de conflito e repressão, apegava-se a
uma percepção unilateral da cidade, construída como cartão postal, diferindo radicalmente
dos registros dos jornais operários ou dos relatórios policiais, em que se alardeavam os
altos custos do progresso. Seu olhar voltava-se para os bairros ricos, onde via a construção
dos palacetes majestosos, as largas e extensas avenidas e alamedas, os bonitos boulevards,
como o Burchard9, praças e largos vastos e arborizados como a da República, com a
Escola Normal, o de Paisandu, o dos Guaianazes e o do Arouche, e ruas caprichosamente
calçadas, como a Barão de Itapetininga, Conselheiro Nébias, Aurora, São João, entre
outras.
Também são constitutivas dessas representações do crescimento urbano de São
Paulo as imagens sedutoras que aparecem em vários romances publicados sobre este
período, como o de Edmundo Amaral, A Grande Cidade.10 Acompanhar alguns momentos
desse livro pode ser sugestivo para se adentrar na atmosfera cultural da cidade paulistana
dos inícios do século 20. Vivendo numa pequena cidade no interior, o personagem central
passava horas sonhando com a capital que encontrara nas páginas dos romances franceses
e das revistas que costumava folhear no Clube do Rio Verde:
Imaginava um S. Paulo grandioso cheio de uma vida violenta e brilhante.(...) Supunha a capital enorme, cortada de ruas sonoras pelo estridor dos carros, toda iluminada a luz elétrica, com cartazes multicores piscando luzes na noite. Mas o que mais o seduzia era a vida noturna com cafés sonoros de orquestras e rumores de cristais,
8 Pinto, 1979,109 O bulevar Burchard, criado por Martinho Burchard, empresário teuto-paulista, no bairro da Consolação, oferecia “encantadores panoramas.” Idem, 250 10 Amaral, 1950. Edmundo Amaral - nasceu em Santos, em 1897, formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo. Foi redator dos jornais Tribuna e Diário de Santos, e da revista Vida Moderna; um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Autor de: Rótulas e Mantilhas (contos históricos), Colar Africano (crônicas) e A grande cidade (1950), entre outros. IN: Melo, Luís Correa de - Dicionário de Autores Paulistas. Comemoração do IV Centenário da Cidade de S.Paulo, 1954.
4

cabarés iluminados onde mulheres de formas harmoniosas e magníficas dançavam com jovens vestidos de “smokings”, colando os seus corpos perfumados e macios nos músculos dos homens. Lia então tudo que chegava de S. Paulo: anúncios de cinema do “Estado de S. Paulo”, os casos policiais da “Platéia”, a “correspondência das leitoras” da “Cigarra”...11
O jovem interiorano ainda estava muito longe de perceber que se construía uma
esfera pública excludente e privatizada, em que prevaleciam os interesses particulares das
elites econômicas e dos grupos financeiros estrangeiros, brancos e masculinos, em
detrimento do bem público. Desde os inícios da urbanização e do processo de
modernização, em que as relações sociais, oriundas do mundo patriarcal passavam a
conviver com o universo das relações contratuais, fundadas na racionalidade burguesa,
vários grupos sociais, em especial os negros pobres eram violentamente marginalizados e
excluídos. Vale lembrar que o principal ponto de encontro da comunidade negra, próximo
à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Rosário, no centro da
cidade, onde se realizavam congadas, batuques, sambas, moçambiques e caiapós foi
destruído, em 1904, com a demolição e transferência da Igreja para o Largo do Paissandu,
para a construção da europeizada Praça Antonio Prado, apesar da resistência da Irmandade
(negra) do Rosário contra a municipalidade.12
As manifestações culturais negras e suas formas de sociabilidade foram duramente
reprimidas, em várias ocasiões, consideradas atrasadas e ameaçadoras.13 Já no final do
século 19, registrara-se um confronto entre os negros e os policiais nesse mesmo local.
Para forçar os moradores a terem água em suas casas, a Companhia Cantareira mandara
demolir o chafariz do Largo do Rosário, ao que se opuseram vivamente os moradores e
outros populares, pois os chafarizes eram importantes espaços de sociabilidade, “lugar de
mexericos, de brigas, de discussões”.14
Os deslocamentos urbanísticos afetaram, ainda, outros grupos sociais. Zélia Gattai
recorda-se que, nesse mesmo período, o processo de embelezamento da Avenida Paulista
exigira a expulsão dos entregadores de leite e pão, das carroças de burros, assim como dos
enterros puxados por cavalos, que se dirigiam ao Cemitério do Araçá, para a Alameda
Santos, onde ela vivia com sua família.15 Aliás, nem mesmo entre as elites dominantes, os
11 Idem,p.13.12 Santos, 1998,119-124 13 Moura, 1980,78; Freitas,1985,150; Koguruma, 2002,17114 Bruno, 1949,n. 8.15 Gattai, 1979,40
5

“quatrocentões”16 do café e os industriais italianos, como Matarazzo, Crespi e Gamba, as
portas estiveram totalmente abertas. Até 1918, certos imigrantes ricos não tinham acesso
aos clubes sociais de maior prestígio, como o Jóckey, o Automóvel Club e o Clube São
Paulo.17 Os fazendeiros do café aceitavam apenas parcialmente as alianças, inclusive as
matrimoniais, que estabeleciam com as famílias dos empresários imigrantes, mesmo
daqueles que ganhavam maior espaço na concorrência econômica.
Trazendo, portanto, um repertório edulcorado de imagens e intenções, logo após
visitar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde desejava estudar, o jovem
Alfredo parte para a descoberta dos cafés-concertos da moda, freqüentados pelos filhos das
camadas abastadas. No elegante salão do Bar Progredior, à rua 15 de Novembro, repleto de
gente, extasiava-se com o movimento e com a decoração interna, enquanto observava os
novos costumes e as modas, que procurava decodificar e assimilar:
Nas mesinhas redondas tomavam-se chopp, si-si e corvetes. Garçons atarefados, de jaqueta branca, com as mãos molhadas de cerveja, transportavam bandejas onde tremelicavam copos e pratos de sanduíches. Ao fundo, num tablado mais alto, uma orquestra de seis figuras afinava os instrumentos. Havia uma mesa vazia no fundo ao pé da orquestra. Pediram a um garçom de cara pasmada e gorda, chopp e sanduíches. (...)
Alfredo olhava em silêncio os grandes espelhos, os painéis das paredes, os tetos decorados onde bacantes nuas e cor de rosa davam uma nota de sensualismo e d´arte. Os espelhos largos das paredes refletiam os chapéus emplumados das mulheres e os chapéus de coco dos homens. (...) Imaginou num momento Paris. Mas um Paris muito dele, feito de reminiscências de romances franceses e revistas galantes. 18
- o lazer das elites
Muitos buscavam, na Belle Epoque paulistana, novas formas de convívio e
diversão. Inspirando-se em hábitos europeus, principalmente importados da Paris
haussmaniana19, os paulistanos passavam a freqüentar espaços que espelhavam o requinte
da sociabilidade européia, como teatros, cinemas, restaurantes e cafés. Participavam de
saraus literários e de audições musicais, no ambiente das elites, ou nos centros de cultura
social dos meios operários. Competições esportivas de natação, remo e ciclismo,
16 Vejam-se a respeito Morse, 1970, 163; Dean, 1971, cap.II.17 Dean , 1971,8518 Amaral, 1950, 2319 Barão de Haussman, Georges Eugène, (1809-1891) principal responsável pela monumental transformação e modernização de Paris durante o Segundo Império (1852-1870). Veja-se a respeito Seigel, 1992,230-232.
6

promovidas pelos clubes recreativos privados passavam a ser valorizadas, como formas de
libertação do corpo e como meios através dos quais a sociedade podia identificar-se como
moderna. A vida social fechada nas fazendas e restrita às missas era substituída pela busca
cada vez mais constante das ruas e praças, dos passeios e encontros na esfera pública, da
vida em sociedade que se constituía referenciada pelos padrões do mundo dito civilizado.20
Assim, o próprio prefeito Antonio Prado, após reformar o Jardim da Luz, passava a
prestigiar o local, comparecendo com sua família para ouvir as apresentações da Banda de
Música da Força Pública, em concertos de músicas de Wagner, Beethoven, Bach e
Schubert.21
Desde o começo do século, homens abastados, como o prefeito ou Edu Chaves22
desfilavam com os primeiros automóveis que a cidade recebia; em 1906, surgiam alguns
pontos de taxi, próximos aos pontos de encontro da elite: no Largo do Comércio (depois
Largo do Café) e no centro, ao lado do Teatro Municipal. O automóvel adquiria cada vez
mais importância, participando até das festas de casamento, em que se usavam carros
inteiramente brancos, com estofamento da mesma cor, ornamentados com flores de
laranjeira e dirigidos por choferes uniformizados e “arrogantes”, como diz Jacob
Penteado.23 Aliás, também provocava muito entusiasmo entre os rapazes ricos, como os
que se reuniam na Rotisserie Sportsman. Aí passavam horas conversando sobre “os
conhecidos carros Benz”, com os quais faziam o passeio da moda, ir à Freguesia do Ó,
com muitos solavancos e espessas nuvens de poeira, até que Washington Luís pôs em
execução seu programa rodoviário: “governar é abrir estradas”(...).24
A elite ampliava seus espaços de lazer, freqüentando o Jockey-Club, à rua 15 de
Novembro, que tinha anexo a ele um club de diversões, com bilhares, jogos lícitos e salas
de leitura e palestra25, o Hipódromo, na Moóca, e o Velódromo, à rua da Consolação,
localizado em meio a um vasto jardim, onde se realizavam as corridas de “bicycletes”. “Na
20 Bruno,1954,121621 Segawa,1996, 13622 Edu Chaves nasceu em São Paulo, em 1887, filho do ex-presidente de província Elias Pacheco Chaves e de Anésia da Silva Prado, tradicional família de fazendeiros do café. Obtendo o “brevet” na França, em 1911, onde ficou famoso com seus recordes aeronáuticos e travessias áreas noturnas, tornou-se um pioneiro da aviação no Brasil. Faleceu em 1975. In: J. Muniz Jr.,1982
23 Penteado, 1962, 302; Sevcenko, 1992, 73 e segtes.24 Marques, 1942,133; Gattai, 1979, 2225 Pinto, 1979, 175
7

frente da arquibancada fica um vasto passeio para duas mil pessoas, com corrimãos de
ferro sustentados por colunas”. 26
As mulheres, que passavam a compor de maneira mais incisiva o novo cenário
urbano, eram presenças constantes nesses espaços, prestigiando, torcendo e aplaudindo os
esportistas. A revista “S. Paulo Ilustrado”, de humorismo, crítica e arte, ao comentar a
rápida difusão dos esportes na cidade e o entusiasmo que provocava na juventude, não
deixava escapar o comportamento emocionado das torcedoras seduzidas:
É uma delícia ver-se, no pitoresco parque da Antártica ou nas vastas bancadas do antigo Velódromo, uma fileira inteira de senhoras, em finas e apuradas toilettes de verão, agitar-se na emoção frenética do jogo, bater palmas sonoras para aplaudir um goal, olhar com franca simpatia para os foot-balllers, ou acompanhar com olhos ávidos, quase febris à força de intensidade emocional, a esfera de couro que subiu ao ar sob o impulso de um shoot...
Nesse momento de intenso desenvolvimento industrial e comercial, o consumo
expandia-se e passava a constituir uma importante forma de lazer, em especial para o
crescente público feminino. Sobretudo desde o surgimento das fábricas, em São Paulo,
aumentava a circulação feminina pelas ruas da cidade: as operárias dirigiam-se às fábricas
de tecidos, fósforos, velas, onde trabalhavam, ao lado de crianças, entre doze e treze horas
por dia, ou participavam com seus companheiros das agitações sociais e políticas; outras
distribuíam-se em trabalhos informais, como empregadas domésticas, lavadeiras, doceiras,
floristas, vendedoras de charutos, artistas ou meretrizes.27 Contudo, para as mulheres das
camadas médias e altas, sobre quem pesava um controle social e moral mais rígido, passear
pelas ruas comerciais, observar calmamente as vitrines das lojas, fazer pequenas compras
na Rua Direita, na 15 de Novembro, ou no “Mappin Stores” e, em seguida, conversar nas
confeitarias elegantes eram práticas recentes que começavam a ser incorporadas na rotina
cotidiana. Assim, podiam ser vistas à tarde, na famosa Confeitaria Castelões, no Largo do
Rosário, atual Praça Antonio Prado, ou no Café Guarani, ponto de encontro preferido por
Monteiro Lobato28:
Nessa hora havia muitas mulheres. A confeitaria elegante era o escoadouro do mundo galante de São Paulo. (...) corretores, jornalistas d´olho esperto farejando novidades, advogados com pastas de baixo do braço, reporters de chapéu a ré, todos
26 Idem, 17627 Dias, 1984; Santos, 1998, 83, 9528 Penteado, 1963, 77
8

vinham tomar o seu ginfice ou vermouth com sifão e comer empadas. Mulheres elegantes num ruge de seda vinham tomar sorvetes...29
Na Confetaria Fasoli, à rua Direita, que será freqüentada por Serafim Ponte Grande,
personagem de Oswald de Andrade, O vasto salão, sempre cheio de homens e mulheres,
delira entusiasticamente, animado pela música que toca sempre uns “pot-pourri” nervoso
e fox-trots saltitantes à jazz-band. 30 No Largo do Rosário, onde também ficava o café O
Ponto, formavam-se rodas de amigos que discutiam política, atacavam ou defendiam o
governo, ou tratavam da péssima situação financeira do pais, da baixa do café e do
cambio, da débacle da lavoura e dos meios de melhorar tão aflitiva situação (....). 31
Os principais teatros da cidade, como o Santana, o Colombo, no Largo da
Concórdia, muito prestigiado pela comunidade italiana, o São José e o majestoso
Municipal, inaugurado em 1911, onde se davam as temporadas líricas de Verdi, Rossini e
Donizzetti lotavam suas salas.32 Embora construído para o circo, o velho barracão de Frank
Brown transformou-se num dos teatros mais famosos da cidade, o Politheama, situado na
Ladeira de São João, por onde passaram importantes companhias dramáticas. Logo
transformava-se num café-concerto:
De um lado um bar com mezinhas de ferro, fornecidas pela Antártica, com um balcão e uma prateleira cheia de garrafas; de outro lado um “tiro ao alvo”, onde se viam alvos de cartão, figuras que se moviam e um pequeno repuxo d´água sustentando um ovo vazio. Os habitués passavam em geral os intervalos, alvejando com espingardas Flaubert, os alvos, as figuras e o ovo, a duzentos réis o tiro. 33
Enquanto Edmundo Amaral e Cícero Marques visitavam os teatros, o inquieto
Oswald de Andrade abria, em seu jornal humorístico O Pirralho, uma seção
exclusivamente destinada a conhecer as salas de cinema. Não se tratava de comentar os
filmes exibidos, mas de descrever aspectos da nova sociabilidade que se desenvolvia
nesses espaços lúdicos e culturais da cidade. Em 30/1/1912, informava:
No High Life. Inaugurou-se na sexta-feira passada o seu novo e luxuoso salão de espera, o apreciado cinema do largo do Arouche, incontestavelmente o ponto predileto da élite paulistana. E faz bem a nossa élite preferindo o High-Life pois lá, não só está livre de ver fitas imorais, como freqüentemente sucede no Bijou e outros cinemas, como também é
29 Amaral, 1950, 71-72 30 Floreal, 1925,10931 Pinto, 1979, 32 Americano, 1962, vol.1, 246; vol.2, 10733 Amaral, 1950, 42; veja-se ainda Magaldi, 2000, 36.
9

ele a todos os títulos o mais confortável e que melhor conjunto de qualidades apresenta.(...)
O cinema, que se tornava um dos principais pontos de encontro da nata da
sociedade paulistana, ganhava, a partir dos anos vinte, salas amplas e luxuosas, cenários
refinados para os espetáculos elegantes que então se desenrolariam. O público aprendia a
disciplina do silêncio e podia escutar o som das orquestras, antes que o ambiente
escurecesse e as cortinas se abrissem.34 Gloria Swanson, famosa “vamp” do cinema
hollywoodiano seria a personagem central do filme mudo, com o qual se inaugurava o
moderníssimo Cine-Teatro República, como noticiava “A Cigarra”, em 15/12/1921:
O maior acontecimento mundano destes últimos meses, esperado com grande ansiedade por um desses dias festivos que aí vêm, vai ser, sem dúvida, a inauguração do Cine-Theatro Republica, instalado no antigo edifício do Skating Palace pela Sociedade Cinematográfica Paulista Limitada. (...). Será inaugurado com o film da Paramount “Macho e Fêmea”, extraído do romance inglês o “Admirável Crichton”,
que o famoso ator Leopoldo Fróes já havia dado a conhecer no teatro.35
Se era grande o fascínio que provocava ver a rápida seqüência das imagens em
movimento nas telas, projetando corpos sedutores, cenas de beijo, casos de violência ou
paisagens desconhecidas, vários discursos revelavam a reação ambígua, mista de
deslumbramento e temor que o novo equipamento tecnológico de lazer produzia. Causava
medo e apreensão a falta de controle sobre os possíveis efeitos que sua crescente
interferência poderia causar na vida dos jovens e das mulheres, disseminando, nesse
mundo em gestação, condutas desviantes, fantasias lúbricas e desejos irrealizáveis. Assim,
alertava o dr. Cláudio de Souza, em março de 1918, num artigo em que assinava com o
pseudônimo de Ana Rita Malheiros, na Revista Feminina:
“O cinema constitui, hoje em dia, uma distração imprescindível e que todos reclamam porque entrou fundamente em nossos hábitos, e é o que mais influência tem, para o bem ou para o mal, sobre todas as classes sociais.”
No mês seguinte, completava seus argumentos:
Invadiu assim o cinema, pequenas e grandes cidades; e em cada uma delas, como flagelo que se não contenta, alastrou-se pelos bairros, e em cada bairro pelas ruas...Pôs-se assim ao alcance e ao contato de todas as camadas sociais. (...) Nem só o beijo, o
34 Galvão, 1975, 3835 Trata-se do “Admirável Craigton”, representado por Leopoldo Fróes e Lucília Peres, no Teatro Fênix. Cafezeiro. Magaldi, 2000, 64
10

abraço, o gesto lascivo são oferecidos para sobremesa no prato dourado de paisagens maravilhosas a donzelas que ali vão e que aquilo deviam ignorar. Ele vai mais longe: apresenta o vício em todo seu inverídico esplendor, desde os vestíbulos suntuosos de palácios encantados, até a intimidade dos toucadores e das alcovas e das banheiras, onde se cuidam de menores cuidados, a concupiscência, a lascívia, a indolência e todos demais pecado morais da carne, que parecem triunfar no seu septenário de putrefação.
Embora a atração exercida pelo cinema crescesse rapidamente, o teatro ainda
ganhava o primeiro lugar nas reportagens jornalísticas, como no balanço da vida social da
elite que a Revista Feminina, de janeiro de 1917, apresentava:
São Paulo teve cinco teatros abertos em pleno verão. Duas companhias italianas de opereta, - a Caramba Sconamiglio e a Vitale-, a tournée francesa de Lugne Poë e Suzanne Desprès, na faustosa opulência de nosso Municipal, uma companhia portuguesa de revistas, a de Carlos Leal e uma companhia nacional de comédias, a do dr. Leopoldo Fróes, o primeiro galã cômico que pisa hoje palcos onde se fale a língua portuguesa.
Trinta e tantos cinematógrafos funcionavam ao mesmo tempo.Junte-se ao que aí acima fica os chás-tango do elegantíssimo Trianon, os repetidos
bailes do Club Harmonia, a Hora Literária, dos sábados, no Conservatório Dramático, onde nossos primeiros poetas e prosadores dizem lindos versos e admiráveis trechos de prosa, as festas da cultíssima Sociedade de Cultura Artística, em uma das quais se fez lindamente ouvir Oliveira Lima, o banquete de cem talheres ao ministro Xavier de Toledo, o banquete a Oliveira Lima, as festas e o grande baile do Congresso Médico, a festa dos voluntários de manobras no Municipal, a inauguração do novo teatro do “Estado de São Paulo”, os corsos de automóveis na avenida, três ou quatro festivais de caridade, e digam-me depois se podem ter razão de queixa os nossos elegantes!
- vida boêmia
As famílias mais abastadas dos bairros “chics” quase não freqüentavam os cafés,
bares e restaurantes, buscando formas de recreação mais privadas, seja na vida familiar,
seja nos clubes recém-criados, como o Tênis, o Paulistano e o Harmonia. Não perdiam, no
entanto, as apresentações das companhias líricas no Teatro Municipal, ou as festas,
banquetes e cerimônias realizadas no Salão do Trianon. Já os rapazes, boêmios, artistas,
intelectuais e políticos garantiam sua presença nos bares, restaurantes e sobretudo nos
cafés-concertos, construídos à imagem dos parisienses, como o “Chat Noir”, famoso
cabaré construído em Montmartre. Outro deles havia sido o “Cabaret do Sapo Morto”,
fundado por um grupo de artistas e literatos, que teve “uma existência efêmera, uma vida
cinematográfica”, segundo o jornal Folha do Braz, de 18/6/1899. Comparando as
diversões noturnas nos bairros da elite e nos meios operários, o jornalista completava
acidamente, marcando as diferenças sociais:
11

No Brás, porém, a nesga populosa mais importante da capital, não há os botequins de literatura nem “cabarets”; há, entretanto, e em quantidade a corda epidêmica dos cafés cantantes, freqüentados na sua totalidade pela boêmia...desocupada e perigosa. 36
A vida boêmia passava a exercer enorme fascínio como lugar da evasão, do
diletantismo, dos prazeres, da possibilidade de escapar à normatividade da vida cotidiana
que progressivamente se instaurava. Vida boêmia, espaço da imaginação e da criatividade,
pensavam os intelectuais; espaço da promiscuidade e do desregramento, denunciavam os
médicos.
O público masculino era o maior beneficiado com as transformações na geografia
do prazer, nessa época em que os médicos ensinavam que o prazer sexual da mulher estava
concentrado na realização de sua “missão natural”, a maternidade. Eram os homens quem
se reunia nos cafés do Triângulo, dos mais simples aos mais luxuosos, rodeados por
espelhos e com dezenas de mesinhas de mármore. Eram eles que aplaudiam as danças
orientais apresentadas no Moulin-Rouge, café-concerto que, por volta de 1907, anunciava a
presença de La Bela Abd-El-Kader, com sua dança do ventre egípcia; ou ainda, no Eden-
Theatre, que revelava outra dançarina oriental, Sar Phará, exibindo-se à moda hindu, isto é
“deixando a descoberto o colo, os braços e o ventre”. Como narra Cícero Marques,
profundo conhecedor das noites paulistanas, na primeira apresentação do “nu artístico”, no
Cassino Paulista, a nudez era completa e a comoção enorme:
Era um deslavado nu avivado pelo auxílio de fortíssimos refletores elétricos, que mais e mais realçavam as formas abrigadas até à entrada da ribalta, por um manto de veludo negro que à boca da cena lhe caía, imitando Frinéia, quando, certa vez, se apresentou nua, no esplendor de sua beleza, aos juízes do Areópago.37
Desenvolvia-se uma intensa rede de sociabilidade entre advogados, jornalistas,
escritores, políticos, estudantes, boêmios de vários tipos e velhos “coronéis”, nos inúmeros
bordéis que surgiam na cidade, com nomes parisienses, como o “Palais Elegant”, o “Palais
de Cristal”, de Madame Sanchez, em quem se inspirara Hilário Tácito para escrever seu
romance Madame Pomméry, de 1919; o “Maxim’s”, pensão de Salvadora Guerrero.
36 Reis,Vilela - “Faíscas”, Folha do Braz, ano II, 18/6/189937 Marques, 1944,36. Cícero Marques, Arsênio de Souza.(1884-1948) Paulista, estuda na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós, mas abandona. Boêmio do grupo de Monteiro Lobato e Ricardo Gonçalves. Membro da Sociedade Paulista de Escritores, do IHG de SP. Escreve: Tempos Passados, (crônicas) 1942; De Pastora a Rainha, 1937, entre outros.
12

Também se tornavam conhecidos os cabarets de luxo, localizados na periferia da
cidade, como o “Salomé”, no bairro de Santana. Mistura de bar, bordel e restaurante, todo
atapetado e ornamentado, no cabaret dançava-se; havia shows com músicos profissionais
das orquestras, que complementavam seus orçamentos; jogavam-se cartas. Um mundo
masculino e branco, por excelência, do qual participavam apenas as mulheres situadas no
outro lado da margem e alguns negros, como empregados braçais, ambos definidos como
“degenerados natos” pelas teorias lombrosianas da recente Antropologia Criminal.
De todos os bares da cidade, o luxuoso “Bar do Municipal”, dirigido pelo ítalo-
argentino Vicente Rossatti era um dos mais concorridos da sociedade paulistana e um dos
mais visados pela polícia.38 Ao terminar as representações das companhias líricas ou das
comédias francesas, no Teatro, as mulheres das famílias paulistanas mais tradicionais e
das colônias estrangeiras, sobretudo da italiana, em “grande toilette” e os homens “em
impecáveis casacas” dirigiam-se ao Bar. As damas elegantíssimas olhavam com
curiosidade as prostitutas de luxo, como Lulu, a “Loulouzinha do Palais”; não tardavam a
chegar os “habitués” do local, boêmios como Moacyr Piza e Raul de Freitas. Logo mais, as
famílias se retiravam em suas luxuosas “limousines”, enquanto as prostitutas se soltavam.
“Mme Pomméry – sorrindo, vem falar com Plinio Ramos, que está em companhia de Diogo Pacheco, muito empertigado no colarinho alto que lhe endurece o pescoço(...); Ada Matteucci, elegantíssima romana e aplaudida artista dramática, passa, fazendo-se admirar por sua beleza e estatura de “policeman” inglês”, ao lado das irmãs “Boccarys” com quem morava na mesma pensão. O salão do “Bar” recende a um “panaché” de todos os perfumes e todos eles suaves, aromatizando as notas dolentes de uma triste milonga, que ainda tangam pelo ar...”39
O elogio do progresso contido nos discursos que valorizavam as transformações
urbanas era, porém, contrastado com o dos que denunciavam seus altos custos. Embora
muitos se felicitassem pela importação dos costumes europeus, outros lamentavam a perda
da simplicidade da vida provinciana, atentando para os males introduzidos pela
modernidade, entre os quais, as drogas. O jornal A Capital, em 1/9/1916, publicava com o
título “A escandalosa venda de cocaína em S.Paulo”:
Importamos tudo do estrangeiro, até seus vícios, seus maus costumes. É a nevrose latente do francesismo. Dir-se-ia que somos apenas uma sombra de povo, uma nacionalidade morta. Para completar esse quadro só nos falta deparar com as casas de ópio, à maneira chinesa.(...)
38 Amaral, 1950, 47; Marques, 1944, 13539 Marques, 1942,149
13

Na década de dez, a imprensa havia iniciado uma campanha de denúncia contra os
vícios que afetavam a “jeunesse dorée” e os bares luxuosos, como o do Municipal e o
Trianon. Ao lado dos “almofadinhas” e das “melindrosas”, Madame Sanchez e Vicente
Rossatti eram denunciados numa dessas reportagens da revista “O Parafuso”, de
14/4/1917, ele acusado ainda de ter deflorado uma menor “no “rendez-vous” chic da élite
paulistana”, isto é, no Trianon. Em seguida, o jornalista explicava:
Não nos surpreendemos por dois motivos:
1o) Porque o felizardo protegido do ilustre Prefeito, não podia fugir à tara deixando de fazer do Trianon o que faz às escancaras do Bar Municipal.
2o) Porque o Trianon foi construído especialmente para beneficiar uma dúzia de cavalheiros que desejavam um ponto refinado da cidade onde fosse permitido o deboche elegante.
Se o Trianon ainda não é uma sucursal da Sanchez, não tardará entretanto.(...) Tivéssemos entre nós uma imprensa carioca e o vilão que não teve cerimônia em
confessar que de fato transformou o Trianon em bordel, teria sido punido com a execração pública e a esta hora estaria sem a concessão do arrendamento.(...)
Três anos depois, o mesmo jornal destacava outro escândalo nesse bar:
Um menino bonito, filho de uma “senhora” tida e havida como linda e leve, ao dançar requebrava-se em meneios tão deslavadamente lúbricos, apertava os pares com um carinho tão descomedido, que as poucas famílias de verdade que se achavam no Trianon não consentiram que as filhas se prestassem a isso. (...) ( 14/4/1920)
Em “O que é o Trianon?”, publicava-se uma carta enviada ao Redator da revista,
datada de 31/6/1920:
“Sr. Redator: (...) Como V.S. deve saber, aos domingos reúne-se no “Trianon”, uma sociedade –
eu emprego este termo, por se tratar de um ajuntamento de pessoas – de almofadinhas e melindrosas, cada qual mais esquisito no trajar e que ao som de uma barulhenta orquestra de “cabaret”, dançam as modernas danças que tem o nome de tango, rag-time, il faut qu´on trote et caterva...(sic)
O espetáculo é estupendo e às vezes causa repulsa ao observador atento, a sala completamente fechada, onde se respira uma atmosfera viciadissima (...). Às 21horas precisas começa a folia – melhor diria a esfregação-. Meninas, senhoritas e senhoras, unidas aos almofadinhas, revoluteiam pela sala, semblantes pálidos, e cheios de excitação se entregam ao sport da ....dança. (...)
Essa espécie de gente, almofadinhas e melindrosas, que certamente se me ouvissem, melindrados ficariam, precisam de alguém que lhes corrija os defeitos, pois eles no fundo nada mais são do que vítimas da época atual, precisam de alguém que lhes corrija a estrutura e corrigindo-os entregá-los ao bom caminho (...).” (sic, grifos meus)
Um ano depois, os problemas permaneciam. O Jornal do Comércio reforçava a
campanha em favor da repressão das drogas. Em 4/10/1921, o artigo “A Toxicomania”
14

expunha os resultados a que havia chegado o jornalista em seu percurso pelos bares,
confeitarias e restaurantes da cidade, em busca dos adeptos do “haschich” e do
“absyntho”:
Encontramos com facilidade o que nos levava a essa “tournée”. Sentados pelas casas “chics”, ouvindo as moderníssimas orquestras dos “Jazz Band”, encontramos inúmeros “almofadinhas” que se intoxicavam com o repugnante absinto, disfarçadamente fornecido ao público com os rótulos de “Oxigenée”, “Perneau” e “Consignée”(...)Encontramos absynthômanos em quase todas as confeitarias da cidade! (...)
Além do perigo das drogas para a juventude, o medo da “anarquia sexual”40, isto é,
da inversão dos papéis sexuais tornava os “almofadinhas”, os “meninos bonitos” e as
“melindrosas” alvos privilegiados de críticas mordazes. Alguns investimentos, como o
incentivo ao esporte para a juventude e a introdução da educação física nas escolas
visaram, nessa direção, evitar o amolecimento e a desvirilização da raça, como defendiam
os homens cultos do período, a exemplo de Rui Barbosa:
“a ginástica, além de ser o regimen fundamental para a reconstituição de um povo cuja virilidade se depaupera e desaparece dia dia em dia a olhos vistos, é ao mesmo tempo, um exercício eminentemente, insuperavelmente moralizador, um germem de ordem e um vigoroso alimento da liberdade.”41
- esportes e virilização da raça
Nesse contexto, os esportes recebiam muitos incentivos e elogios. Futebol,
natação, remo, tênis, ciclismo eram promovidos nos clubes privados que cresciam na
cidade, como o Clube Atlético Paulistano, à rua Colômbia, fundado em 1900; a Associação
Atlética de São Paulo, à avenida Tiradentes, onde se praticavam natação, remo e polo
aquático; o Espéria; o Palestra Itália, futura Sociedade Esportiva Palmeiras.
No entanto, mesmo nas práticas esportivas revelava-se uma forte segregação das
classes sociais, para além de suas dimensões sexistas e racistas. Alguns esportes, como o
tênis e a equitação, eram praticados majoritariamente pelos homens brancos da elite, em
seus clubes privados, o Tenis Club e o Hipódromo. A importação dos sports e da idéia de
clubs privados da Inglaterra foi acompanhada dos valores aristocráticos da origem,
40 A expressão é retirada de Elaine Showalter, 1993.
41 Barbosa, 1946,98 citado por Soares, 2001,91
15

resultando, no Brasil, na violenta exclusão de trabalhadores braçais, dos negros, dos
homossexuais e dos pobres dos códigos definidores dos que podiam competir. Assim, da
regulamentação do remo, por exemplo, constavam artigos que impediam a participação de
“criados de servir” de hotéis, cafés, bares, confeitarias e bilhares, de condutores de
veículos; “os de profissão manual que não exija esforço mental”, e os operários, entre
outros.42 Para Nicolini, só nos anos vinte é que se muda o perfil dos jogadores que
participam no Campeonato Paulista não mais segundo os “grã-finos da sociedade”: “os
verdadeiros craques começaram a ser oriundos da várzea...”
Outras modalidades, como a natação e o futebol, ao contrário, ganhavam
rapidamente adeptos por toda a cidade, tanto praticado nos inúmeros clubes que surgiam
por toda a parte, quanto nos campos, várzeas e rios, tomados pela população, incluindo-se
a negra. Competindo no Rio Tietê, nadadores e nadadoras absorveram muitas atenções e
receberam aplausos entusiasmados, especialmente nas disputas da “Travessia de São Paulo
a Nado”, realizadas entre 1924 e 1944.43 Percorrendo as sinuosidades do rio numa distância
de 5.500 metros, entre a Ponte da Vila Maria e a Ponte Grande, nessa competição
considerada a “São Silvestre da Água”, equipes masculinas e femininas, em trajes
especiais, atraíam uma quantidade enorme de fervorosos torcedores, que se ajuntavam às
margens do rio. Dentre os nomes femininos que brilharam na natação paulista, o de Maria
Lenk se destaca como a primeira recordista mundial brasileira. Filha de um ginasta
alemão, começara a nadar no final dos anos vinte, no Clube Estrela, passando depois para a
Associação Atletica São Paulo e, em 1934, para o Clube de Regatas Tietê, onde seu pai
fora admitido como professor de natação. Brilha na Olimpíada de Berlim, em 1936, mas é
em 1940, que bate seu primeiro recorde mundial na piscina do Botafogo, no Rio de
Janeiro.44
Já o futebol, esporte que nunca deixou de ser masculino por excelência, não
custou muito para conquistar a população, de alto a baixo. Nas várzeas, nos terrenos
baldios próximos às fábricas, nos páteos dos colégios, nos clubes, ou nas arquibancadas do
Parque Antártica, os homens se envolviam intensamente com as partidas disputadas por
vários times, dentre os quais se destacavam o “Palestra Itália”, o “Santos F.C.” e o
“Corinthians Paulista”, aplaudidos por entusiastas torcedoras. Nos bairros, os garotos não
42 Nicolini, 2001, 20843 Idem, 10144 Idem, 114/116; Sevcenko,1992, 71
16

perdiam a ocasião de jogar bola na rua, apesar das admoestações policiais. Segundo
Armandinho do Bixiga:
Dava para jogar tranqüilamente na rua.(...) Só que tinha a radiopatrulha, um carro preto com o guarda–civil. Se a gente estava jogando bola e aparecia uma radiopatrulha, os guardas desciam, pegavam a bola e rasgavam com o canivete. E quem eles pegassem davam umas bofetadas porque não podia jogar bola na rua. Mas nós jogávamos. 45
Apesar da participação das mulheres em algumas modalidades, os esportes eram
atividades masculinas. O medo da masculinização da mulher decorria de que se
considerava ser inevitável o abandono de suas supostas funções naturais, como a
maternidade e os cuidados da família e da casa. Nem mesmo as feministas eram favoráveis
a muita agitação física para o sexo frágil, investindo claramente contra certos práticas
esportivas embrutecedoras, como o futebol e o remo. Segundo a Revista Feminina, de
julho de 1925, a prática de exercícios físicos era importante desde que ligada a preceitos
higiênicos, isto é, lembrando-se que se os homens necessitavam muito mais de seu
organismo, de seu físico, de seu cérebro, como bases de um perfeito sentimento, de uma sã
moral, de uma disciplina apreciável, a mulher deveria buscar todos os meios e modos
admissíveis, para tornar-se a mais perfeita companheira daquele a quem se unisse.
Concluía concordando com a importância do esporte, mas recomendando que a mulher
escolhesse a sua atividade de acordo com as sua índole, de acordo com o seu trabalho,
como educanda e como educadora.
- ameaças do feminismo
A ameaça de destruição dos valores morais tradicionais trazida pelo feminismo,
com sua reinvindicação de direitos para as mulheres, de um lado e, de outro, os perigos
imaginários decorrentes do incremento da sociabilidade mista nos espaços públicos e do
rápido crescimento das modernas formas dos amores ilícitos levava a que se radicalizasse o
cerco a todos os movimentos das mulheres no cotidiano da vida social. Suas conversas,
gestos, roupas e maquillagens passavam a ser constantemente analisados, adjetivados e
orientados, embora ao mesmo tempo se sofisticassem com a grande ampliação do mercado
de cosméticos e a introdução dos novos hábitos refinados do mundo civilizado. Como
nunca, os gestos e movimentos das trabalhadoras nas fábricas, das burguesas nos espaços
45 Armando Pugliesi, fundador do Museu do Bixiga. In: Moreno, 1996, 65.
17

privados e nas sessões culturais, ou ainda, nos restaurantes, praças e lojas foi
insistentemente perscrutado e codificado.
A rua Direita recebia especial atenção do cronista Floreal, como lugar do footing de
homens e mulheres, aos sábados:
Passam elegâncias improvisadas, atitudes berrantes, postiças, gestos imitados e decalcados, maneiras forçadas, exótica, e mesuras, tiques, sestros e cacoetes plagiados de afogadilho, à ultima hora, de outras civilizações e diferentes povos.46
Observava as toilettes, os decotes exagerados, os olhares que se cruzavam no
encontro dos sexos. Especialmente nos pontos de bonde, onde escutava as conversas e
examinava o comportamento jeitoso dos almofadinhas. Já Cícero Marques focalizava o Bar
do Municipal:
O Bar do Municipal é também uma feira de amostras, com maiores vantagens que a do Castelões, pois a elegância feminina é exatamente à noite que se presta para o realce dos vestidos de “soirée” ou de grande “toilette”.(...) Continua o desfile das “preciosas”...47
A aparência feminina vistosa, exuberante e colorida, isto é, sexualizada
escandalizava a sociedade, que exigia das “mulheres honestas” sobriedade e discrição.
Vários artigos das revistas feministas, nascidas em São Paulo, como A Mensageira (1897-
1900) e a Revista Feminina (1914-1936) procuravam orientá-las não apenas em termos da
luta por um lugar social e pela emancipação política, mas também tendo em vista a
conformação de uma subjetividade moderna, entendida como discreta e regrada. Em outras
palavras, procurava-se definir um modelo de feminilidade para a “nova mulher”, entendida
como a mãe cívica, bem comportada e assexuada, ativa cumpridora dos seus deveres
familiares. Em “Deveres de uma Senhora”, a Revista Feminina, de março de 1917,
aconselhava:
Uma senhora, quando tenha de ir a um jantar ou soirée decotada, não levará o decote ao exagero; apresentar-se-á dentro do limite do honesto, simples, ainda que elegante, sem grande profusão de jóias.
Em fevereiro de 1920, o tom moralista da Revista se acentuara. Questionando a
moda que desnudava cada vez mais a mulher, o Dr. Cláudio de Souza criticava aquelas
que se vestiam e comportavam como “marafonas”.
Portanto, a disciplina do corpo era reforçada para os jovens da elite. Para freqüentar
as festas elegantes, rapazes e moças deviam participar das aulas de dança e de etiqueta de
46 Floreal, 1925, 11447 Marques, 1942, 146
18

Mme. Poças Leitão, oferecidas no salão de baile do Trianon, na Avenida Paulista, em
sessões que excitavam a curiosidade da menina Zélia Gattai:
Os jovens alinhavam-se de um lado, as mocinhas em frente, separados por alguns passos de distância: “Un, deux, trois! Um, dois, três!” Madame marcando com energia o compasso. “Os jovens en avant!” Obedientes, os rapazes avançavam em direção às meninas, paravam, mão esquerda às costas, dorso curvado, mão direita estendida convidando o par. A dama, por sua vez, oferecia ao cavalheiro as pontas dos dedos e lá se iam os pares em fila dando voltas pelo salão, sob o olhar exigente da professora, antes de começar a dança propriamente dita.48
Neste momento em que surgia a Sociedade Harmonia, seu curso se tornava ainda
mais importante, pois além da dança, educava os gestos com o ensino de “etiqueta,
elegância do porte, tirava os vícios de atitude, combatia o acanhamento.”49
Anos depois, era a vez da jovem Miriam Moreira Leite comparecer às famosas aulas.
Fui matriculada também na Mme. Poças Leitão que nos ensinava a dançar – marcha, samba, fox-trot, tango e rumba e fazia os sábados de orquestra no Trianon – onde hoje é o MASP”. 50
A preocupação com a aparência feminina aparecia, ainda, nos inúmeros artigos que
descreviam as novas formas de sociabilidade, como casamentos, batismos, aniversários e
outras festas familiares. A Cigarra, de 15/12/1921, ao noticiar o enlace do comendador
Egídio Pinotti Gamba com a Srta. Queirolo, descrevia não apenas a cerimônia e as roupas
usadas pelos presentes, como também publicava fotos registrando a cerimônia. Em outras
páginas, as propagandas informavam sobre as novas lojas de roupas que se abriam na
cidade, a exemplo da Casa Excelsior, considerada a primeira casa da América a produzir
roupas compatíveis com as da Europa.
A preocupação com a modernização das condutas era enunciada nos artigos que
focalizavam tanto os aspectos morais da vida cotidiana, como os padrões de
relacionamento entre os gêneros.51 No artigo “As Mulheres”, o articulista focalizava o
desencontro dos casais na vida social carioca, onde homens e mulheres permaneciam
sempre separados nos bailes, saraus, nas praças, nas recepções e nos teatros. Nos bailes,
dizia João do Norte, os homens só se aproximavam das mulheres para dançar. O resto do
48 Gattai, 1979, 16649 Americano, 1962, 110 50 Historiadora e escritora, Miriam Moreira Leite nasceu em 1926, em uma família judia, em São Paulo, onde vive. Depoimento concedido à autora em janeiro de 2003.51 Mott e Maluf, 1998.
19

tempo passam fumando, nos corredores, ou, encostados às ombreiras das portas, em
grupos, olhando os pares que tangam ou valsam. Nas reuniões familiares, as senhoras
ficavam conversando entre si sobre modas ou questões cotidianas, enquanto os homens
discutiam guerra ou política, no seu canto.Se uma dama intervém na sua palestra, eles
recebem a sua opinião com um desprezo de raça superior. Do mesmo modo, quando
algum homem dava sua opinão sobre os assuntos da moda, as jovens respondiam “com
risinhos de mofa”. Nos footings, eles se alinhavam rente aos canteiros dos passeios,
enquanto elas caminhavam aos pares ou sozinhas. Já no Teatro Municipal, quando um
casal visitava outro no camarote, a senhora conversava sempre com a outra mulher e o
marido com o outro homem. 52
Em 15/5/1922, A Cigarra promovia o concurso de beleza - Qual a moça mais
bela de S. Paulo?, restrito às solteiras, cujos nomes eram apresentados na revista e acatava
a votação dos leitores, sem se preocupar em definir critérios especiais para o concurso,
além da beleza. Ao mesmo tempo, para contrabalançar, perguntava Qual a moça mais
culta de S. Paulo, comentando que à beleza física deveria ser acrescentada a beleza
espiritual da mulher, entendendo-se por aí as graças do espírito, a vivacidade, a
inteligência clara, as prendas de salão, o saber e a arte. No entanto, logo constatava que
havia um número muito maior de concorrentes para o primeiro concurso do que para este.
A vida em sociedade na metrópole impunha o aprendizado de novos códigos sociais
e de novas formas de interação. Exigia gestos rápidos e simultâneos na relação com as
máquinas, na luta contra o trânsito, no trabalho, nos jogos e na relação com o próximo. A
preocupação em decifrar o outro, decodificar seus signos, captar seus sinais resultava do
próprio crescimento demográfico e da perda das antigas referências de sociabilidade. Na
cidade grande, em meio à multidão anônima, como reconhecer quem se aproximava?
Como distinguir entre o amigo e o agressor, entre o trabalhador honesto e o vagabundo,
entre a “mulher casta” e a “meretriz”, entre os normais e os delinqüentes? A expansão e a
sofisticação dos métodos policiais de vigilância e controle nos espaços públicos ou
privados acompanhava a própria sofisticação das formas de percepção do outro, pelas
quais aprendia-se a reagir às novas situações vivenciadas no espaço urbano. As marcas de
roupa, o tipo de pintura, os perfumes, as iniciais inscritas nas vestes, nos cintos, golas e
punhos, as cores, o modo de andar ou parar, tudo diz o indivíduo.53
52 João do Norte, “As mulheres”, Revista Feminina, junho de 192053 Alain Corbin desdobra essa discussão em seu belo artigo “O segredo do Indivíduo”.In: Perrot, 1991; para o Brasil, veja-se o instigante artigo de Nelson Schapochnik. In: Sevcenko, 1998, 423 e segtes.
20

Ao mesmo tempo, diante de um processo avassalador de homogeneização social
trazido pela paulatina emergência da sociedade de massas, o próprio indivíduo passava a
preocupar-se com sua aparência, assinalando os traços característicos capazes de distingui-
lo na multidão. Ser moderno era poder modelar o próprio corpo, transfigurando a própria
natureza. Nas novas formas de sociabilidade urbana, as referências da identidade pessoal
contavam muito. Roupas bordadas com as iniciais, jóias personalizadas, guardanapos e
louças com inscrição dos nomes, diários íntimos, álbuns de fotografia compõem um vasto
campo de sinais e emblemas que dão destaque à individualidade pessoal, assim como ao
nome da família. Se a vontade de se distinguir do outro, de marcar sua diferença
contrariava o esquadrinhamento homogeneizante do poder, ao mesmo tempo tornava-se
parte de uma nova sensibilidade urbana, onde os cuidados de si exigiam novos modos de
elaboração da própria subjetividade. O dandy tornava-se uma referência fascinante também
em São Paulo.54
- Salões
Nesta direção, um dos principais espaços onde se desenvolveram novas
experiências de sociabilização e, ao mesmo tempo, de subjetivação estetizante foram os
salões literários e artísticos, restritos aos setores mais inquietos da elite paulistana. O de
Veridiana Prado e, posteriormente, o de Olívia Guedes Penteado, a casa de Paulo Prado e
o salão da pintora Tarsila do Amaral funcionaram como importantes centros culturais de
formação e de experimentação cultural da própria elite. Nesses espaços luxuosos,
promoviam-se encontros sociais, recitais de poesia, audições musicais, partidas de jogo e
“bailes modernistas”, aglutinando artistas, poetas, intelectuais e políticos. Para Mário de
Andrade, aí sim acontecia alguma coisa de novo na cidade; aí nasceu o modernismo.55
Assíduo freqüentador dessas rodas, este autor descreve o salão de Paulo Prado,
localizado à avenida Higienópolis, como o mais selecionado e o que teve uma duração
mais longa. O pretexto para as reuniões era um almoço dominical e a conversa
inicialmente era estritamente intelectual. Depois foi invadido por um público da alta que
não podia compartilhar do rojão dos nossos assuntos. E a conversa se manchava de
54 Edgardo Chibán analisa essa figura no artigo “Entre Dandys”, publicado em Thomas, 1992.55 In Berriel, 1990,41.
21

pôquer, casos de sociedade, corridas de cavalo, dinheiro.Os intelectuais, vencidos, foram
se arretirando. 56
Quanto ao salão da rua Duque de Caxias, o de Olívia Guedes Penteado, mais
numeroso e variado, é definido como o mais verdadeiramente salão. À semelhança das
“preciosas” francesas, a anfitriã não poupava esforços para receber sofisticadamente os
convidados, nas famosas reuniões semanais nas tardes das terças-feiras. Em ocasiões
especiais, os modernistas se reuniam no Salão Moderno, planejado pelo arquiteto Gregori
Warchavchik57 e decorado por Lasar Segall58. Também aí o culto da tradição era firme,
dentro do maior modernismo. A cozinha, de cunho afro-brasileiro, aparecia em almoços e
jantares perfeitíssimos de composição.
O último salão aristocrático, o de Tarsila, localizado à rua Barão de Piracicaba, era,
a seu ver, o mais gostoso, sem dias fixos, com festas quase semanais, que, no entanto,
nunca tiveram o encanto dos encontros que a artista promovia em seu antigo atelier,
reunindo quatro ou cinco amigos. Mas dos três salões aristocráticos, Tarsila conseguiu
dar ao dela uma significação de maior independência, de comodidade. Nos outros dias,
por maior que fosse o liberalismo dos que os dirigiam, havia tal imponência de riqueza e
tradição no ambiente, que não era possível nunca evitar um tal ou qual constrangimento.59
Nos saraus literários, banquetes e ciclos de palestras promovidos na Villa Kyrial,
salão que o senador-mecenas José de Freitas Valle organizara em sua luxuosa residência,
na Vila Mariana, participavam as mais variadas personagens, “uma mistura que definia
bem a época”, ironizava Oswald de Andrade: desde intelectuais e artistas, como ele
mesmo, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Guilherme de
Almeida, a políticos, como o Conselheiro Antonio Prado, Altino Arantes e Washington
Luiz.60 Desde o fútil autômato da diplomacia do século XIX, Souza Dantas, até uma
promissória de gênio, o pianista Souza Lima. 61
56 Idem, 2357 Gregori, Warchavchik, arquiteto nascido no Brasil, formado no Instituto de Belas Artes de Roma; dentre suas obras, destaca-se a famosa Casa Modernista (1930), situada à rua Itápolis, SP.58 Lasar Segall, 1891-1957, pintor expressionista russo, formado em Dresden e Berlim, fixa-se no Brasil em 1923 e tem importante atuação junto aos modernistas.59 In Berriel, 1990.60 Limena, 1996, 64; Brito Broca,1960, 3061 Apud por Limena, 1996,65
22

Reunindo figuras da oligarquia paulista, os salões permitiam experiências
diferenciadas de uma sociabilidade elegante e culta, em que se buscava o aprimoramento
dos sentidos e a sofisticação dos costumes, nesse momento em que a cidade ainda não
contava com instituições culturais, ao contrário do Rio de Janeiro. Como dizia Mário de
Andrade, em 1921, contrapondo o fausto da vida na Vila Kyrial à indigência cultural da
cidade:
É o único salão organizado, único oásis a que a gente se recolha semanalmente, livrando-se das falcatruas da vida chã. Pode muito bem ser que a ele afluam, junto conosco, pessoas cujos ideais artísticos discordem dos nossos – e mesmo na Villa Kyrial há de todas as raças de arte; ultraístas extremados, com dois pés no futuro, e passadistas múmias – mas é um salão, um oásis.62
A metáfora do oásis é bastante pertinente para pensar esses espaços diferenciados,
pois mais do que ressaltar sua função de suplemento das carências espirituais, provocadas
pelo vazio cultural da cidade sugere a dimensão das fantasias delirantes aí vividas por uma
pequena elite hedonista que, transportando-se pela imaginação para muito longe do seu
universo concreto, sonhava em pertencer ao mundo aristocrático francês dos séculos
anteriores.
Do cultivo do espírito à educação dos sentidos, buscava-se, nesse mundo
simultaneamente real e irreal, nesses intervalos retirados do tempo rotineiro da vida
cotidiana, o aprimoramento do gosto estético e literário, ouvindo-se, por exemplo, a uma
palestra de Blaise Cendrars63 sobre os poetas modernistas franceses, como a que proferiu
em fevereiro de 1924. Para apurar a sensibilidade gastronômica, desfrutava-se do requinte
culinário da cozinha, cuidada pelo “maître” Jean Jean, que era o próprio Valle, e da
degustação de vinhos perfumados como o Clos Vougeot e Corton Clos du Roy64.
Observava-se todo um código aristocrático de etiqueta que regulava os comportamentos e
definia os lugares sociais à imagem da “sociedade de corte” do Antigo Regime francês.65
Assim, os convites para os banquetes da Vila Kyrial eram personalizados e enviados com
antecedência, indicando-se o traje adequado para a ocasião. Monograma azul designava
smoking para os cavalheiros e a louça seria azul e dourada. O verde requeria casaca, e
então a porcelana seguia idêntico tom cromático, com frisos em ouro, enquanto os
62 Apud Camargos, 2001, 4463 Blaise Cendrars - poeta suiço, chega ao Brasil em 1924. 64 Camargos, 2001, 4165 Ver a propósito Elias, 1987.
23

convidados eram triunfalmente recepcionados pelo proprietário e seu séquito, ao som do
clarim de duas colunas de músicos postadas à porta de entrada. 66
Portanto, se podiam funcionar como fontes de “poder informal”, onde se
constituíam “sistemas de dominação simbólica” da elite oligárquica67, esses espaços de
ócio e entretenimento emergiam como linhas de fuga lúdicas por onde se liberava a
imaginação e onde esses grupos podiam realizar alguns de seus devaneios de criação de um
outro mundo. Por essa via, abriam espaço para sua própria subjetivação referenciada por
antigos modelos franceses, bem ao gosto de suas fantasias de nobreza, como revelam as
compras de títulos de “barão”, ou de “conde” dos fazendeiros do café que habitavam os
palacetes da Avenida Paulista. Acima de tudo, aí podiam se sentir modernos.
- “o gosto à folia”
Em se tratando da concretização de fantasias, nada melhor do que as festas de
carnaval para que a população pudesse divertir-se, brincar e liberar seus desejos.
Mascarados ou travestidos, pierrots, com largas vestes esvoaçantes, colombinas de veludo
e seda, arlequins de roupa colante, com losangos azuis e vermelhos, bruxas, ciganas,
palhaços e outros foliões dançavam, cantavam, atiravam coloridos confetes e serpentinas e
espargiam lança-perfumes, numa explosão frenética das pulsões dionisíacas. A festa
popular propiciava, para além de momentos de êxtase e vibração dos sentidos, uma
abertura para o outro e a recomposição das forças vitais, ao erotizar as relações sociais.
Assim como outras manifestações lúdicas e ritos religiosos, pode ser vista como um
importante elemento de aglutinação e coesão, através do qual a sociedade reencanta o
mundo e esconjura a morte.68
Muitos, no entanto, olhavam com desconfiança para o estreito contato dos corpos
enfeitados e pintados, nessas animadas manifestações lúdicas. Afonso de Freitas, por
exemplo, escrevendo em 1922, lamentava a modernização do carnaval paulistano:
... com o tempo, o carnaval foi tomando gosto à folia, e, num dado momento, saltou do regaço das sociedades familiares que primeiro lhe deram o tom na Paulicéia, para a volúpia dos chamados “clubs”: seus préstitos tomaram-se então da morbidez das exibições plásticas, inauguraram-se os célebres bailes “masqués” do Hotel das Quatro
66 Camargos, 2001,4167 Idem, 16.68 Maffesoli, Michel – A sombra de Dionísio. Rio de Janeiro: Graal,1985, p.126
24

Nações, do Tivoli Paulistano e do Teatro S. José, então acabado de construir, e as “Cavernas” erigidas a Momo, abriram-se em formidáveis bacanais(...).69
Se alguns desaprovavam os bailes de máscara realizados nos clubes privados, em
que se imitavam as festas de Veneza, importando-se inclusive máscaras de cera e fantasias,
a efervescência lúdica dos populares nas ruas da cidade despertava sentimentos ainda mais
repulsivos. A redação da revista A Cigarra, por exemplo, marcava claramente a oposição
entre o desfile comportado dos carros da elite na Avenida Paulista, carnaval que
considerava “civilizado” e a festa que se realizava nas ruas do Rio de Janeiro, num artigo
de 15/02/1922:
O Carnaval civilizado é o corso, o corso em autos abertos enfeitados de flores naturais e em caminhões com decorações graciosas onde grupos de moças uniformizadas atiram serpentinas ao público. E nisto é que consiste, felizmente para os nossos foros de população civilizada, a festa carnavalesca de São Paulo, e em disputas de confetti, em torneios de éter perfumado e em bailes. O mais é barbaresco, é primitivo, é baixo. Caro está que aqui também há clubs, pelos quais, a rigor, só se interessam os bons boêmios que os compõem e dos quais a gente sensata se desinteressa de todo. (...)
Emtanto (sic), nem sempre foi assim. Há vinte e cinco anos, quando a nossa capital tinha ainda um cunho de pacato burgo provinciano, era ardentíssima a folia carnavalesca e havia também clubs poderosos e partidos extremados. Clubs houve que deixaram tradição como o Club Tenentes de Plutão70, cuja “caverna” funcionava num velho prédio da rua Quinze que foi demolido para a construção da Galeria de Cristal (...) Mas a cidade transformou-se, progrediu, civilizou-se, e esse Carnaval pueril, se não desapareceu de todo, poucos adeptos conta, mesmo entre os boêmios. Não vá isto à conta de frieza de nossa população. Não é de frieza que se trata e sim de bom gosto.(...)”
As famílias abastadas participavam animadamente do famoso corso na Avenida
Paulista, elogiado e fotografado pela imprensa do período, apesar da poeira que, aos
poucos, o calçamento a asfalto eliminaria. As memórias de Danda Prado sobre as festas de
carnaval recobrem essas experiências lúdicas71:
As festas de carnaval... tinha a hora infantil, depois a hora dos adolescentes, antes no Clube Paulistano, depois quando surgiu o Harmonia, assistíamos ao corso da Paulista. Minha mãe tinha um carro conversível, abria atrás, acho que era vermelho, atrás
69 Freitas, 1985, 144.; veja comentário deBrito,54.70 Castellani refere-se ao clube carnavalesco “Tenentes do Diabo”, situado na Travessa do Comércio, n.44, fundado em 1916, que, tendo como objetivo “festejar, condignamente, o carnaval”, promovia grandes desfiles de carros alegóricos na “Terça-feira gorda”, cap.III.
71 Danda Prado, ou Yolanda Cerquinho da Silva Prado, nasce em 1929, à rua Itacolomi, no bairro de Higienópolis, filha do conhecido historiador Caio Prado Junior. Depoimento à autora, concedido em janeiro de 2003.
25

levantava uma coisa onde as crianças iam soltando serpentina e quando estávamos na fazenda fazíamos a festa lá. Peguei o corso da Paulista e depois da São João... eu adora os corsos, paravam um pouco para as pessoas descerem dos carros, iam e vinham na Paulista ou na S. João, paravam, todo mundo descia e dançava, voltava para o carro...devia ser banda tocando...não me lembro dos cordões...lembro do corso, da família que levava...meu pai nem gostava dessas coisas...
Criada no seio de uma “família carnavalesca”, a socióloga Maria Isaura de Queiroz
lembra-se de alguns episódios saborosos, como aquele ocorrido nos inícios do século, em
que um de seus parentes, um fazendeiro e grande comerciante, que alugara um caminhão
para que os rapazes e moças da família, “devidamente fantasiados”, desfilassem pelas ruas
da cidade, recebe a notícia da morte de uma tia materna. Tinha-se organizado a festa com
muita antecedência, como então se costumava fazer, “escolhidas e confeccionadas as
vestimentas, adquiridos os enormes sacos de confete e serpentina, numa atmosfera de
deliciosa expectativa.”72 Ao final, acabam decidindo ir à festa apesar da trágica notícia,
concluindo, após um malabarismo de raciocínios e argumentos que deveriam festejar a
entrada da falecida no céu. Nos quatro dias de carnaval, a agenda de sua família ficava
totalmente lotada com atividades lúdicas e festivas:
Levados primeiramente a um baile infantil por volta das duas da tarde, às cinco horas seguíamos de automóvel para o corso, que durava até nove horas da noite. Era impensável jantar: as empregadas estavam de folga para poderem se divertir (...) Ao anoitecer fazia-se um piquenique no automóvel, com coxinhas de galinha, empadinhas, sanduíches, que eram oferecidos e trocados com guloseimas de outros carros nas longas pausas em que permaneciam parados devido ao engarrafamento nas avenidas: novo prazer desfrutado, novos conhecimentos entabulados.73
À noite, seus pais partiam para o baile dos adultos. Já na adolescência, este era
ainda o único carnaval que sua família permitia que freqüentasse, longe das serpentinas e
das batalhas de confetes dos imigrantes italianos e espanhóis, que se reuniam no Brás 74, e
como é de se supor, bem mais longe ainda dos negros, expulsos para fora do centro urbano.
ImpedidAos pela repressão policial de se manifestar na cidade, a população negra
buscava as ruas do município de Pirapora do Bom Jesus, onde, até o final dos anos vinte,
reunia-se um enorme contingente de pessoas, procedentes de várias cidades e estados, entre
as quais os mais importantes sambistas de São Paulo, Dionísio Barbosa, fundador do
72 Queiroz, 1999,1573 Idem,1774 Idem, 18
26

primeiro cordão carnavalesco de São Paulo e Madrinha Eunice, fundadora da “Escola de
Samba do Lavapés”, em 1937. Filho de outro sambista, Dionísio recorda:
Meu pai tocava no Pirapora. Tocava barimbau(sic), tocava nos dentes, só quem tinha dente podia tocar ...Era fantástico...A gente tocava...era o samba antigo, de bumbo, não é o de hoje.75
Mal vistos pelas elites e reprimidos pela polícia, fora do período de Carnaval, os
sambistas organizavam “rodas de samba” em suas próprias casas. Nos terreiros existentes
nos cortiços, muitas vezes transformados em espaços de cultos religiosos, de umbanda, em
meio aos familiares, vizinhos e amigos, os negros dançavam o jongo ou o samba de roda.
Nas casas das “tias”, como a da “Tia Olympia”, na rua Anhangüera, no terreiro do “Zé
Soldado”, no Jabaquara, ou na casa de Madrinha Eunice, no bairro do Lavapés, já nos anos
trinta, desenvolviam-se formas espontâneas de associação e solidarização, de onde esses
grupos profundamente estigmatizados e oprimidos podiam extrair ludicamente a energia
necessária para enfrentar as vicissitudes da vida cotidiana, em um mundo tão adverso,
constituído, na grande maioria, pelos brancos e por seus preconceitos. 76
Desses grupos formaram-se blocos e cordões, como o Grupo Carnavalesco Barra
Funda, criado por Dionísio Barbosa, em 1914, mais tarde intitulado “Camisa Verde e
Branco”, e o “Campos Elíseos”, NOdo ano seguinte. Desfilando pelas ruas da cidade, entre
o Bexiga, a Barra Funda e a Baixada do Glicério, ao som do bumbo e das marchas
sambadas, os grupos de samba ampliaram-se e conquistaram o espaço público, apesar das
insistentes advertências policiais. Nos anos vinte, apareceram outros grupos de samba,
como o “Flor da Mocidade”, na Barra Funda e o “Vai–Vai”, no Bexiga, bairro que se
formara com grande contingente de imigrantes italianos, vindos da Calábria e com ex-
escravos negros, fugidos das fazendas ou expulsos do centro urbano. 77
Especialmente para os negros, excluídos da sociedade branca, do mercado de
trabalho aos clubes esportivos, o carnaval constituiu um meio estratégico de valorização de
sua cultura, além de ser um importante canal de interação social, que durava muito além da
própria festa carnavalesca, pois criava o motivo para que passassem todo o ano
organizando festas e outras atividades destinadas a angariar fundos para seus blocos e
cordões. A cultura permitiu, assim, muito mais do que a política, criar formas de
75 Depoimento de Dionísio Vicente Barbosa (1893-1977), citado por Britto,1986,60. Veja-se ainda Tinhorão, 2001, 26.76 Britto, 1986,69-71. 77 Moraes, 2000,259
27

associação e de solidarização da comunidade negra no país, mesmo porque a “questão
racial” não era colocada pelos movimentos políticos de esquerda. Portanto, nas escolas de
samba, nas quadras de dança, nos terreiros, espaços de culto religioso e nos times de
futebol formaram-se os “territórios negros”, espaços de comunhão e de resistência.78
Nos inícios de 1920, o corso se deslocava do Triângulo central para as avenidas
Rangel Pestana e Celso Garcia, no Brás, onde começava a entusiasmar a população e a
ganhar a credibilidade dos jornalistas, por seu caráter aconchegante e doméstico. Na
reportagem de 01/03/1922, A Cigarra observava não apenas o recente deslocamento
geográfico, mas a mudança na própria natureza da festa carnavalesca, que nesse bairro
periférico tinha dimensões muito mais populares:
As festas naquele laborioso bairro, de intensa população, têm um cunho que não têm nos outros bairros e muito menos no centro comercial da cidade. Dir-se-ia que elas se realizam em família, onde todos se conhecem intimamente. As famílias vão para a rua divertir-se ou deixam-se ficar à porta das suas casas, e para isso não necessitam por chapéus nem vestir-se com mais apuro. 79
Descrevia, em seguida, a farta iluminação das duas avenidas “com meios arcos de
lâmpadas elétricas”, os lindos enfeites dos prédios, a movimentação do corso ao longo de
quatro dias, com animadas danças ao som de tangos e maxixes tocados pelas bandas de
música, que se instalavam nos coretos armados provisoriamente. Apesar de tantos elogios
à índole pacífica do povo laborioso do bairro, as fotos que a revista apresenta ilustram
apenas o corso da elite, na Avenida Paulista e os bailes à fantasia que aconteciam na
Sociedade Hípica Paulista e no Theatro Municipal, onde, à imagem do carnaval de Veneza,
colombinas comportadas sorriam ao lado dos dominós, pierrôs e arlequins, vestidos de
seda, veludo e cetim.
Na verdade, mesmo no Rio de Janeiro, levou muito tempo para que o carnaval,
enquanto manifestação cultural popular, trazendo os cordões e, em seguida, o desfile das
escolas de samba fosse plenamente aceito e conquistasse o direito à rua.80 Afinal, no
imaginário social do período, a festa dionisíaca, fortemente animada pela população negra
pobre era vista como ameaça de corrupção dos costumes, de degeneração da raça, de
desestabilização social, fomentando a explosão incontrolável dos instintos sexuais
considerados selvagens e primitivos.
78 Rolnik, 1989,77.79 A Cigarra, “O Carnaval no Braz”, 01/03/1922, n.17980 Queiroz, 1999, 109, 172
28

Desde o discurso médico, que denunciava as novas formas urbanas de lazer como
convites à devassidão, até o discurso operário, que condenava o carnaval e os bailes como
festas imorais, o mundo público era representado como domínio imoral e ameaçador, como
espaço da sedução e perdição das mulheres e crianças, em oposição ao lar, lugar do refúgio
e da intimidade. Retomando os principais argumentos inicialmente enunciados por Jean-
Jacques Rousseau, em sua crítica à sociabilidade urbana, instituía-se progressivamente uma
leitura ambígua e pessimista da esfera pública, como domínio necessário para a formação
do caráter do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, como espaço onde a interioridade pessoal
se cinde, onde a fragmentação tende a aumentar e onde o homem se perde de si mesmo,
anulado pelas crescentes seduções que o tiranizam.
- os anarquistas
Tributários dessas representações românticas, também os anarquistas, entre imigrantes
italianos, portugueses e espanhóis, criticaram as festas carnavalescas pela promiscuidade
dos corpos e pelo perigo de alienação da juventude:
O que mais nos desagrada e indigna é que são sobretudo os operários que levam as filhas e as mulheres ao apalpamento e beliscão no meio da turba ébria e inconsciente e que depois têm escrúpulo, os patifes, de lhes darem a ler algum opúsculo ou de as levarem a alguma conferência de propaganda pela emancipação,
afirmava o jornal A Terra Livre, em 01/03/1910.
Renegar o carnaval não significava, porém, que os libertários não promovessem as
suas próprias reuniões sociais e que não tivessem suas formas específicas de diversão.Os
grupos de cultura, teatro e música agitavam a vida da cidade nos centros de cultura social,
no Brás ou na Lapa, enquanto picnics e festivais eram realizados nos parques, como o
Jardim da Aclimação e o da Luz, pelas ligas operárias, sociedades de apoio mútuo e
grupos sindicais.
Marcadamente política, a cultura do tempo livre que se desenvolvia nos bairros
operários estava amplamente direcionada para a denúncia das desigualdades sociais, para a
crítica dos valores competitivos do mundo capitalista, para a satirização dos costumes
burgueses, muitas vezes acompanhada pela caricatura jocosa dos patrões, representados
como gordos, feios e disformes. Com sua profunda descrença no poder do Estado como
fator de organização da vida social, os libertários utilizavam seus inúmeros jornais, como
29

A Terra Livre, A Lanterna e A Plebe, criada a partir da greve de 1917, pelo jornalista
Edgard Leuenroth, tanto para mobilizar e estimular a luta revolucionária, trazendo
denúncias e informando sobre as greves que se realizavam quase que cotidianamente entre
as décadas de 1910 e 20, como para convidar a população pobre a participar das formas de
diversão e vida cultural que propunham.81 Formar o proletariado e elevar o seu nível
cultural foi um dos alvos privilegiados dos militantes políticos e, nesse sentido, vários
caminhos foram perseguidos, como a realização de encontros, festas, piqueniques e
festivais. Um destes aconteceu em setembro de 1919, no Parque da Aclimação, que havia
sido criado pelo Dr.Carlos Botelho, encantado com o “Jardin d´Acclimation” do Bois de
Bologne, que conhecera em sua visita a Paris.82
Ao avaliar os resultados do grandioso festival ali realizado no domingo, A Plebe
descrevia uma infinidade de atividades lúdicas que o exitoso evento abrigara. Registrava o
movimento dos bondes que, logo pela manhã, traziam grande quantidade de pessoas, de
várias partes da cidade; entrando no parque, destacava a elegância das barracas montadas
pelos companheiros de várias grupos operários, como a da própria Plebe, recoberta com
vários números da folha rebelde, ou como a da Liga Operária da Construção Civil, onde
bonecos, fazendo as vezes dos tipalhões da burguesia recebiam os bolaços dos assistentes .
Informava que enquanto as moças cooperavam vendendo flores, bilhetes de quermesse e
de tômbola, ou distribuindo folhetos, atletas de vários clubes, como a Associação Atlética
São Paulo, o Club de Regatas Tietê, a Associação Paulista de Sports Atléticos
participavam das diversas modalidades esportivas programadas: salto de altura com
corrida de impulso; corrida de revezamento na distância de 400 metros; arremesso de
peso; salto de altura com vara(...).
No match de foot-ball, os valorosos quadros do Sport Club Saturno e da
Associação Atlética República disputavam a taça Escola Moderna, enquanto muitos
sportmans (sic) da capital e do Rio de Janeiro, que concorriam nas corridas de bicicletas, a
pé, em sacos de batatas, ou no lago recebiam medalhas de ouro, prata e bronze. Grupos
teatrais apresentavam suas encenações cômicas e eram exibidos belíssimos films ao ar
livre. O encerramento se dera com um baile no salão do Jardim, com excelente orquestra e
danças regionais com banda de música. Finalizando, elogiava o comportamento da
81 Fausto, 1977, 80 e segtes.82 Porto, 1996, 11
30

multidão presente por garantir a ordem reinante e demonstrar que a assistência proletária
(que) não é a turba desorientada como a apontam de quando em vez (...).
Num estilo bastante militante, o articulista aproveitava a ocasião para lançar suas críticas ferrenhas ao serviço de transporte, considerado
péssimo como tudo o que é da Light (...). No largo da Sé o povo se aglomerou em enorme massa, que se estendia pela rua Capitão Salomão, largo de S. Francisco e rua da Liberdade, à espera dos bondes que partiam repletos com a lotação duplicada. Centenas de pessoas tiveram que tomar carros até o largo da Sé e depois seguirem no mesmo para o Jardim, pagando assim duas passagens! Foi uma verdadeira sabotagem que a odiosa empresa pretendeu prazer à festa, mas felizmente sem resultado.
Não se tratava apenas de denúncia política, já que a Light, Companhia The São
Paulo Railway Light and Power, constituída em 1889, por capitais canadenses e anglo-
americanos, que mantinha o monopólio do sistema de bondes desde 1900, não conseguia
atender à crescente demanda de transporte coletivo, seja por excessiva ganância, seja pelo
acelerado crescimento populacional. De mais de 50 milhões de passageiros transportados
em 1916, passava-se a 86 milhões em 192083. Além disso, a elite paulistana prosperava e
congestionava o tráfego com os automóveis que adquiria. Na ausência de políticas públicas
voltadas para as necessidades da população e orientando-se pelas concepções urbanísticas
norte-americanas, os engenheiros investiram no alargamento da área central da cidade para
facilitar a circulação dos carros e ônibus, de modo que, em pouco tempo, perdia-se um dos
poucos parques existentes para o lazer em São Paulo, o Anhangabaú, transformado em
estacionamento, nos anos vinte84. Algumas décadas depois, o outro parque mais importante
da cidade, o Dom Pedro II, também sofreria o mesmo destino.
Nem sempre os militantes e trabalhadores puderam reunir-se e manifestar-se
livremente. A greve de 1917, por exemplo, deixara suas marcas explosivas e trágicas
recordações para a história da cidade. Policiais armados investiram violentamente contra a
população, lançando impiedosamente seus cavalos e cacetetes, como era costume em se
tratando da questão social, considerada caso de polícia. Naquela ocasião, os bondes foram
paralisados pelos grevistas, armazéns e padarias saqueados, a feira livre no Bexiga sofreu
um ataque de mulheres e jovens, enquanto garotos da rua destruíam os lampiões de
iluminação.
83 Magalhães, 2000, 5284 Campos, 2002, 258.
31

Na fábrica, sobretudo, as elites mostravam-se muito pouco modernas, levando às
contínuas denúncias de violências sofridas pelos trabalhadores. Acostumados com o
exercício do poder patriarcal na sociedade escravocrata, fazendeiros e industriais tinham
muito pouca experiência e paciência com o mercado de trabalho livre, o que levava um
deles, o empresário Roberto Simonsen, a organizar algumas campanhas de conscientização
de seus pares para a modernização das relações de trabalho. A seu ver, os antigos métodos
de controle dos trabalhadores, herdados da senzala, deveriam ser substituídos pela
disciplina consciente e inteligente, defendida pelos tayloristas, nos Estados Unidos.85
Sérgio Buarque de Holanda também lamentava a força da tradição patriarcal, como
impedimento à modernização das relações sociais, quando buscava explicar o atraso
econômico, social e cultural do Brasil, em sua obra de 1936:
...estereotipada por longos anos de vida rural, a mentalidade de casa-grande invadiu assim as cidades e conquistou todas as profissões, sem exclusão das mais humildes, afirmava ele86.
As subjetividades formadas nesse universo oligárquico, caracterizadas pela
cordialidade eram pouco afeitas às relações impessoais e mais distantes, necessárias para a
construção de uma esfera pública democrática. Embora o historiador considerasse o café
uma planta democrática e percebesse uma lenta e surda revolução em curso, sabia das
dificuldades para uma mudança efetiva de mentalidade no país.
Do outro lado, os operários adotavam estratégias modernas de luta política, em
especial, a greve, já desenvolvidas em seus países de origem. Mas aqui, interessa perceber
o espaço da festa que se constituía repentinamente na manifestação espontânea do povo
reunido, momento de irrupção de formas autônomas de sociabilidade constituídas entre os
milhares de manifestantes nas fábricas ou nas praças e ruas. Estabeleciam-se, então,
intensos laços de solidariedade, linhas de fuga do mundo opressivo da disciplina fabril; no
entoar dos hinos e canções revolucionárias, liberavam-se palavras, gestos, sentimentos e
emoções.
Também no cotidiano operário fora da produção, nos espaços de diversão como os
circos, cinemas e salões de festa, desenvolvia-se uma sociabilidade popular que os
industriais consideravam perigosa e ameaçadora para a estabilidade social. Não sem
motivos, como mostra um anúncio publicado no jornal anarquista A Plebe:
85 Simonsen, 1919, 1. Veja-se a respeito das idéias desse industrial Vieira, 1987.86 Holanda, 1994,56
32

Circo. O público das galerias, numa explosão de alegria, mudou o nome das feras em exposição. Atualmente passaram a chamar-se o leão Matarazzo, a hiena Jorge Street e o urso Penteado.87
Por isso mesmo, alguns empresários mais progressistas acreditaram poder
disciplinar seus empregados de uma maneira mais sutil, abrigando-os em residências ou
em vilas operárias, onde instalaram armazéns, restaurantes, escolas, creches, teatros e
igreja. Os propósitos do investimento na construção da Vila Maria Zélia, no Belenzinho,
em 1910, foram claramente expressos pelo dr. Jorge Street, médico e industrial
considerado bastante avançado por suas preocupações socias, na época:
Quis dar ao operário (...) a possibilidade de não precisar sair do âmbito da pequena cidade que fiz construir à margem do rio, nem para a mais elementar necessidade da vida.88
E isso significava organizar inclusive o tempo ocioso dos seus empregados-
inquilinos, proporcionando-lhes “distração gratuita dentro do estabelecimento, (para)
evitar que freqüentem bares, botequins e outros lugares de vício, afastando-os
especialmente do álcool e do jogo.”89
A nova disciplina do trabalho industrial estabelecia, cada vez com maior clareza, a
oposição entre o tempo do trabalho e o tempo livre, destinado a ser progressivamente
preenchido com o lazer, isto é, com a organização de atividade úteis, entre esportivas e
educativas, plenamente conhecidas, para a formação do “cidadão higiênico”. Ao mesmo
tempo, o ócio, momento aberto para o inesperado e para a surpresa da criatividade passava
a ser atacado nos discursos médicos, jurídicos, patronais e mesmo operários, como ameaça
de degeneração moral, e defendia-se a criação de alternativas de recreação para os
trabalhadores, como jardins e clubes esportivos, tendo em vista retirá-los dos bares,
botequins, cabarés e associações políticas. Ainda em 1927, um dos principais argumentos
levantados pelos industriais ligados ao Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem de
São Paulo - CIFT-SP, para atacar o direito de férias dos trabalhadores era o perigo da
ociosidade:
Que fará um trabalhador braçal durante quinze dias de ócio? Ele não tem o culto do lar, como ocorre nos países de climas inóspitos e de padrão de vida elevado. Para o nosso proletariado, o lar é um acampamento – sem conforto e sem doçura.
87 A Plebe, São Paulo, 11/9/1919 88 Rago, 1985, 178.89 Idem,
33

O lar não poderá prendê-lo e ele procurará matar as suas longas horas de inação nas ruas.90
- os modernistas
Próximos e distantes dos anarquistas na maneira irreverente como se situavam nas
margens da cultura burguesa e lançavam suas críticas contundentes à sociedade, os
modernistas, também refratários às redes de poder e recusando-se a serem capturados pelos
padrões normativos da estética e da moral burguesa, ensaiaram outras possibilidades de
expressão e de sociabilidade. Nesse sentido, a importância da Semana de Arte Moderna,
realizada em fevereiro de 1922, transcende sua dimensão artística e expande-se para além
desse breve lapso de tempo, exprimindo a emergência de uma nova sensibilidade em
revolta contra o provincianismo da vida social e cultural da cidade.
Do ponto de vista da sociabilidade e da crítica aos costumes, os modernistas
propuseram e praticaram uma subversão dos parâmetros sociais, tanto quanto dos padrões
estéticos. Viraram a mesa, desafiaram a seriedade burguesa, cultuando deliberadamente a
alegria. E destruíram. A destruição, diz Mário de Andrade, foi a força do modernismo.91 O
que condiz com a concepção que tiveram da função da arte, em sua relação com a vida e a
maneira como se posicionaram frente ao novo.
A arte para o artista legítimo é como o ar e o pão: elemento de vida. Querem os passadistas tirar-nos o direito de praticar a arte. Nós lutamos pois pela nossa, como quem luta pela vida. A desesperança é uma conclusão negativa. Não pode haver conclusões negativas numa época de construção.,
escreve ele no primeiro número da revista Klaxon, publicada três meses depois da Semana.
Não é a toa que esta se realizasse no Teatro Municipal, espaço da sofisticação, da
seriedade e do convencionalismo do mundo burguês. O modernismo explodia com sua
conhecida irreverência, com a força de sua ironia, ao parodiar a vida burguesa, ao
subverter os hábitos conservadores e provincianos das elites intelectuais e artísticas da
cidade e ao desafiar os códigos da sociabilidade, que buscava transformar. A luta pela
renovação da linguagem artística, saturada de parnasianismos, apontava para a própria
transformação do modo de convívio social praticado no mundo da “respeitabilidade
90 Memorial, CIFT- SP, 22/7/1927. In Rago, 1985, 19791 Mário de Andrade afirma: “... a Semana de Arte Moderna abriu a segunda fase do movimento modernista, o período realmente destruidor.” In Berriel, 1990,21
34

burguesa”. A “Ode ao burguês” deixa bem claro o horror que as convenções sociais e a
hipocrisia burguesa despertavam em Mário de Andrade, por mais que ele convivesse nesse
meio:
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, o burguês-burguês!A digestão bem feita de São Paulo! 92
Do mesmo modo, a carta enviada a Carlos Drummond de Andrade, em que
reclamava a falta de Tarsila do Amaral no “baile futurista”, realizado no Salão Amarelo do
Automóvel Club, em 22 de novembro de 1924, deixava claro sua frustração com a cidade.
Apesar de ter-se divertido e dançado muito mais do que esperava, voltando para casa por
volta das seis da manhã, Mário lamentava a ausência da amiga, que certamente teria
destoado do ambiente que ele encontrava comportado demais, provinciano ainda:
Esteve estupendo. Mais como divertimento que como beleza. Poucas mulheres vestidas de fantasia. S. Paulo é sempre província ainda. Começaram a falar muito e as mulheres ficaram com medo. Algumas 12 fantasias só. Aliás o baile não era da sociedade Automóvel Clube. Era dado por um grupo de rapazes ricos. No máximo umas 150 pessoas. Das mulheres fantasiadas: uma Caldeira cubista deliciosíssima e uma Fifi Lebre Padua Salles sublime maravilhosa clou. 93
Que a arte dos modernistas atingisse em cheio a produção da própria subjetividade
e o modo de viver não é de espantar, já que defendiam uma arte “que tem como base a
vida”, que é “uma força interessada da vida”, como dizia Mário.94 Para ele, a arte não
tinha como função refletir o passado, mundo que agonizava, mas que devia abrir-se para
captar aquele que estava chegando, “inaugural, promissor, cálido e vivo, até mesmo
quando problemático”, como explica Mário da Silva Brito.95 “Queremos ser atuais, livres
de cânones gastos incapazes de objetivar com exatidão o ímpeto feliz da modernidade”,
exclamava o poeta.96
Essa dimensão da atualidade constituiu uma das principais características do
movimento modernista, como expunha ele, tanto quanto o direito de pesquisa estética.
Esse espírito renovador explodia em São Paulo, mais atual, mais ao par do que o Rio de
Janeiro, que o escritor definia como mais internacional e conservador::
92 “Paulicéia Desvairada” , Andrade, 1966, 3793 Amaral, 2001,8794 Andrade, “ O movimento modernista”. In Berriel, 1990, 3595 Silva Brito, apresentação da Revista Klaxon.96 A Gazeta, São Paulo, 3 de fevereiro de 1922, in: Boaventura, 42
35

É mesmo de assombrar como o Rio mantém, dentro da sua malícia vibrátil de cidade internacional, uma espécie de ruralismo, um caráter parado tradicional muito maiores que São Paulo. O Rio é dessas cidades em que não só permanece indissolúvel o “exotismo” nacional ( o que aliás é prova de vitalidade do seu caráter), mas a interpenetração do rural com o urbano. Coisa impossível de se perceber em São Paulo. (...) Em São Paulo o exotismo folclórico não freqüenta a rua Quinze, que nem os sambas que nascem nas caixas de fósforo do Bar Nacional.97
Distinguindo as diferentes temporalidades constitutivas da experiência da
modernidade nas duas cidades, Mário captava agudamente o sentido do momento em que
vivia, tendo muito claro que perceber o presente não significava reproduzi-lo fielmente.
Arte não consegue reproduzir natureza, nem este é seu fim. Todos os grandes poetas (...) foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo quanto mais se afastar do belo natural.
Em outro momento, complementava:
Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no exterior: automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras freqüentam-me o livro não é porquê pense com elas escrever moderno, mas porque sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser.98
Em termos de experiência de vida, Oswald de Andrade radicaliza a insubmissão, ao
lado de Tarsila e depois da escritora Pagu, ou Patrícia Galvão99. Muito distantes da maioria
dos homens e mulheres de seu tempo e de sua classe, punham em prática uma concepção
da relação amorosa próxima do amor plural que anarquistas, como Maria Lacerda de
Moura, defendiam.100 Para esta escritora e militante anarco-feminista, preocupada com a
construção de uma nova ética amorosa e sexual, a mulher deveria recusar o lugar de
espectadora no cenário da vida, lutando contra a dominação masculina responsável pelo
seu sofrimento moral e destruidora de sua energia. Ao contrário, uma relação livre entre os
sexos deveria abrir-se para o amor amplo, às claras, sem subterfúgios, sem hipocrisia, sem
mentiras convencionais,(...) o amor sem exclusivismo sexual ou afetivo, capaz de aceitar a
diversidade como irredutível... 101
97 Andrade, “O movimento modernista”, In Berriel, 1990, 2098 Idem, Ibidem, 19-28. 99 Patrícia Galvão, Mara Lobo, são vários os pseudônimos que adota a escritora modernista Pagu, nascida em Santos, em 1910, membro do Partido Comunista em 1931, presa inúmeras vezes por sua militância e irreverência. Veja-se Furlani,1999100 Vejam-se Maria Lacerda de Moura, 1933 e o excelente estudo sobre esta feminista libertária feito por Miriam Moreira Leite, 1984.101 Moura, 1933, 36
36

Críticos do casamento monogâmico indissolúvel, esses modernistas, assim como
muitos anarquistas viviam intensamente a paixão na temporalidade da relação estabelecida.
Assim, se Oswald não se dividiu entre a esposa e a amante, como acontecia com os
homens de seu tempo, Tarsila e Pagu também não reproduzirm o papel de esposa-mãe fiel
e submissa que até as feministas liberais advogavam. Rebeldes modernos, esses
modernistas na “arte-vida” que propunham, transfiguraram o espaço, desafiando as normas
e insurgindo-se contra as convenções sociais e os valores burgueses. Reunidos em
pequenos grupos, os modernistas criaram uma comunidade diferenciada de destinos,
carnavalizando a vida, seja nos encontros do “Grupo dos cinco”, (Oswald, Mário, Tarsila,
Anita e Menotti del Picchia), no ateliê de Tarsila, na garçonnière de Oswald, à rua Libero
Badaró, ou na casa de Mário, à rua Lopes Chaves, seja nos passeios no “cadillac” verde de
Oswald, como lembra Mário:
E eram aquelas fugas desabaladas dentro da noite, na cadillac verde de Oswald de Andrade, a meu ver a figura mais característica e dinâmica do movimento, para ir ler as nossas obras-primas em Santos, no Alto da Serra, na Ilha das Palmas.102
- ídolos da perversão103
Nem tudo era festa, porém, no cotidiano boêmio da cidade. É bem possível que
numa daquelas noites, o cadillac verde de Oswald tenha-se cruzado, na Avenida Angélica,
com o automóvel que levava outro jovem casal, Moacyr Piza e Nenê Romano. Um
advogado e uma prostituta: aqui, o desenlace é trágico. Na madrugada de 25 de outubro de
1923, o jovem advogado assassina a amante no taxi que os transportava e, em seguida,
suicida-se com um tiro mortal. No dia seguinte, o jornal O Combate descrevia
minuciosamente o episódio, num longo artigo de primeira página, intitulado “Paixão
Fatal”, ilustrado com algumas fotos do casal.
A estória ganhava destaque menos pela morte trágica da prostituta assassinada pelo
jovem doutor, afinal, os “crimes da paixão” já vinham ocorrendo num ritmo crescente,
desde a década anterior, sem grande alarde pela imprensa.104 Mas, neste caso, tratava-se do
envolvimento de um conhecido advogado e poeta, pertencente a uma família paulista
102 In Berriel, 1990, op.cit., 21; Amaral, 1975, 46; Gotlib,1998, 61.
103 Título do livro de Bram Dijkstra, 1986.
104 Besse, 1989.
37

tradicional com uma descendente de imigrantes italianos, de origem pobre e de costumes
duvidosos. O escândalo chocava. Com todos os recursos de que dispunha para construir
uma carreira de sucesso, ter um bom casamento e uma vida respeitável, o jovem doutor se
apaixonara perdidamente por uma meretriz e por ela sucumbia. Certamente, era comum
que um jovem abastado desfrutasse os prazeres que o mundo da prostituição oferecia.
Circulando nas altas rodas da sociedade paulistana, Moacyr também era bastante
conhecido de algumas mulheres de renome, como Mme Sanchez, Bianca Perla e Mère
Louise, a padroeira da boêmia de S.Paulo, segundo Paulo Duarte.105 Mas, daí a perder-se
tresloucadamente era um distância que se supunha intransponível.
Por isso, ninguém hesitou em interpretar o caso ao revés, atribuindo a culpa do
assassinato ao vampirismo da vítima, cuja beleza levara um cidadão a perder
completamente o juízo. A reportagem de O Combate condenava:
Matou-se Moacyr Piza, o brilhante, o audaz, o valoroso escritor que todo São Paulo admirava. Matou-se depois de ter matado Nenê Romano, a mulher fatal, que tinha um rosto de anjo e uma alma perversa.
Moacyr de Toledo Piza nascera em Sorocaba, em uma família bastante tradicional
da cidade e tinha então 32 anos. Formara-se em Direito, em 1915, tornando-se delegado de
polícia em Cruzeiro e Bragança. Escrevia em vários jornais e, por ocasião de sua morte, era
redator também da “Folha da Noite”. De Nenê Romano, sabe-se bem menos. Romilda
Macchiaverni era branca, brasileira, com 24 anos, solteira. Moacyr conhecera-a, alguns
anos antes, quando ela, envolvida em outro conflito passional, solicitara seus serviços de
advogado.106 Naquela ocasião, “Sinhazinha” Junqueira contratara dois empregados da
Fazenda do Pau Alto, de propriedade de sua mãe, a fazendeira Iria Junqueira, conhecida
como “Rainha do Café” para agredir a jovem. Tendo o rosto anavalhado, Nenê recorrera
aos serviços do advogado, que logo se enamorara da moça.
Embora vítima, Nenê Romano foi condenada como “mulher fatal”, por exercer um
poder nefasto sobre o homem, levando-o à loucura. Essa reação permite perceber as
representações constitutivas do imaginário social em relação ao “sexo frágil”, que
impregnavam a vida cotidiana. Entre “santa” e “pecadora”, as mulheres tinham um espaço
restrito de locomoção e enfrentavam códigos de conduta severos e ambíguos, mesmo numa
esfera pública que apenas começava a abrir-se para elas.
105 Duarte, Paulo – “Há 40 anos, falecia Moacyr Piza”, O Estado de São Paulo, 25/10/1963106 Costa Jr, 26/8/1979
38

Se se tornavam presenças constantes nas ruas, praças e jardins, assim como nas
festas carnavalescas e nos clubes, as mulheres só foram aceitas na esfera pública enquanto
consumidoras e espectadoras, ao menos até o final dos anos vinte. Só então é que puderam
começar a participar nos desfiles carnavalescos.107 Lembre-se que as partidas de tênis nos
clubes eram, em sua grande maioria, jogadas por homens, as mulheres aparecendo
claramente como espectadoras, enquanto que o football nunca deixou de ser um esporte
masculino. A visibilidade das mulheres nas ruas provocava muita ansiedade, nesse
momento em que o cinema começava a penetrar na vida cotidiana e a se difundir como
uma das mais importantes formas de lazer, orientando tanto as formas de sociabilidade,
quanto as de pensamento. As estrelas norte-americanas Theda Bara, Louise Brooks, Clara
Bow e Gloria Swanson faziam enorme sucesso nas telas da cidade,108 como “femmes
fatales” ou “vamps”, enquanto “Salomé” era representada nos teatros, seduzindo não
apenas os homens, mas toda a platéia. 109 Em 1930, é a vez do “Anjo Azul”, trazendo para
o mundo a bela Marlene Dietrich, anjo destruidor da vida do professor Rath.
Esses foram importantes ídolos da perversão, que compuseram o repertório das
imagens femininas dos homens letrados ou não, que invariavelmente confundiram a
prostituta com a “mulher fatal” da literatura e do cinema, embaralhando as fronteiras
simbólicas e psíquicas da fantasia e da realidade empírica.
Contudo, se as mulheres transgressoras foram associadas ao perigo da destruição da
civilização pelas forças ocultas da irracionalidade e da sexualidade desenfreada, também
foram vistas como portadoras do progresso e da modernização dos costumes. As
prostitutas estrangeiras, reais ou produzidas nas “escolas” das cafetinas, por exemplo,
ficaram conhecidas na memória da cidade pelo papel “civilizador” que exerceram sobre
fazendeiros e “coronéis”. Através do contato com o submundo, onde viviam as francesas,
italianas, portuguesas, russas, eslavas e romenas, conhecidas como “polacas”, esses
homens passavam a consumir estilos de vida, costumes e mercadorias européias, mesmo
que profundamente mistificados, tendo, portanto, acesso a um universo muito mais
sofisticado do que haviam conhecido em seu passado rural.
O romance de Hilário Tácito, pseudônimo do engenheiro José Toledo Malta,
intitulado Madame Pomméry, de 1919, é sugestivo, nesse sentido, ao contar com muita
ironia e humor, a estória da renovação do submundo promovido por uma estrangeira
107 Tinhorão,2001,26108 ver fotos no site109 Salomé, personagem da peça de Oscar Wilde, desenhada por Beardsley. Veja-se Showalter, 1993.
39

dinâmica, que percebera a necessidade de elevar a qualidade dos serviços sexuais, a
começar pela substituição da cerveja pela “champagne”. Baseada na personagem real de
Madame Sanchez, proprietária do bordel “Palais de Cristal”, no centro da cidade, Madame
Pomméry espantara-se com o provincianismo da vida noturna de uma cidade que se
modernizava rapidamente, mas que desconhecia formas mais sofisticadas de introdução da
jeunesse dorée ao mundo dos prazeres. Com o auxílio financeiro do Coronel Gouveia,
projeta, então, a construção de seu próprio bordel de alto luxo, Le Paradis Retrouvé.
Em seu famoso livro Macunaíma, de 1928, Mário de Andrade apresenta o anti-
herói nacional como um homem da natureza, que ingressa na modernidade e na
civilização acompanhado por três figuras femininas. Proveniente do mato, sua entrada na
agitada cidade de São Paulo, seu contato repentino com o mundo barulhento das máquinas
se dá pela mediação de três lindas e alvas “cunhãs”, com quem passa a noite e para quem
paga quatrocentos bangarotes. Como narra o autor:
A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado pra ele que o sagüi-açu não era sagüim não, chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas apitos buzinas e tudo era máquina.110
Fora da literatura, Mário de Andrade destacava o papel modernizante
desempenhado por sua amiga Tarsila do Amaral, ao promover encontros sociais em seu
salão, agitando a vida cultural da cidade provinciana, assim como antes D. Olívia Guedes
Penteado. Em outro contexto, ao avaliar a importância do movimento modernista, o
escritor atribuía a outra amiga, a pintora Anita Malfatti, um papel ainda mais pioneiro, pois
ela estaria, com sua arte, na origem desse movimento:
O que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas? Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação.111
Em todos esses casos, a mulher aparece como introdutora do progresso e da civilização.
110 Andrade, 1981, 32.111 In Berriel, 16. Mário da Silva Brito, comentando sua afirmação, reforça o argumento: “Pode-se dizer que a pintura de vanguarda, no Brasil, enquanto luta e polêmica, tem o seu ponto de partida numa mulher e o de chegada em outra. A sua conquista de compreensão e a imposição de sua legitimidade, como expressão nova de arte, começam e terminam, respectivamente, em Anita Malfatti e Tarsila do Amaral.” In: Gotlib,1998,48.
40

Anita Malfatti e Tarsila do Amaral viajaram, desde cedo, para a Europa e Estados
Unidos para completar sua formação, a passeio, ou para expor seus trabalhos. A
independência da vida dessas mulheres chama a atenção, mas evidentemente não constitui
a regra. Tarsila, como bem antes Viridiana Prado, se casa várias vezes, viaja muito, torna-
se uma artista plástica renomadíssima. E Danda Prado completa, com suas memórias:
“Na minha família, as mulheres se separavam, minha mãe foi a primeira...não tinha divórcio, tinha o desquite, (mas) você não podia andar sozinha, minha mãe foi parada na rua quando se separou...ela saía com minha tia, que também se separou, elas saíam muito e volta e meia pediam documentos, era uma norma....quando eu casei, eu tinha uma conta em banco, (1950) tive de fechar a conta no banco e meu marido autorizar a abertura de outra, mas eu já tinha ido à Europa, fazia tudo sozinha.” 112
Ao longo dessas décadas, as mulheres, entre artistas, escritoras, jornalistas,
advogadas, operárias e demais trabalhadoras desenvolveram importantes formas de
interação e de socialibilidade femininas, sem questionar, no entanto, as barreiras sociais
que as separavam. Na década em que conquistavam o direito de voto, muitas já haviam
produzido romances, ensaios, reportagens e revistas feministas, onde manifestavam suas
concepções a respeito dos ideais de feminilidade e das relações de gênero, questionando,
ao mesmo tempo, as imposições normativas que recaíam sobre elas. Se o feminismo não
foi um movimento expressivo nas primeiras décadas do século, ajudou a criar um
comunidade de interesses e formas de socialização singulares, questionadoras dos códigos
normativos masculinos, embora ainda marcadas pelas diferenças de classe e de etnia.
Assim, feministas das camadas médias e alta e operárias anarquistas, socialistas e
comunistas mantiveram-se distantes, na maior parte das vezes. Assim como as feministas
liberais foram criticadas pelas militantes operárias por não contestarem radicalmente a
sociedade burguesa com suas limitadas reivindicações políticas, como evidencia o romance
Parque Industrial (1933), de Mara Lobo, ou Pagu, as trabalhadoras foram tidas por aquelas
como insuficientemente instruídas para oferecerem qualquer projeto alternativo de
mudança social e, mais do que isso, como destinadas a permanecerem, pela própria luta
pela sobrevivência, na esfera da necessidade, distantes e em oposição ao mundo da
política. Desconhecendo a imprensa operária, as feministas perdiam o apoio de uma ampla
parcela feminina.
No que se refere às diferenças étnicas, diante de uma elite branca que pouco se
abria para os imigrantes, em sua maioria pobres, as comunidades estrangeiras de São Paulo
112 Depoimento concedido à autora em fevereiro de 2003.
41

lutaram para preservar seus costumes e tradições, pelo menos até a década de cinqüenta.
Contudo, nunca chegaram a formar guetos absolutamente fechados. As mais populosas,
como a dos italianos, afetaram fortemente a vida da cidade, das festas à alimentação e à
língua, como observava a médica Gina Lombroso, em sua visita à cidade, já em 1908: “O
traço mais saliente dessa cidade é sua italianidade. Ouve-se falar o italiano mais em São
Paulo do que em Turim, em Milão, em Nápoles...”.113
Outras mantiveram-se mais fechadas, preservando fortemente seus costumes,
tradições e rituais, em função de motivos políticos ou religiosos, como os judeus,
preocupados com as repercussões dos conflitos internacionais e os japoneses, que sofreram
forte pressão racial no Brasil.114 De modo geral, porém, os diferentes grupos étnicos
souberam construir uma coexistência relativamente pacífica, criando formas de interação
social e de assimilação cultural, apesar das tensões, conflitos e preconceitos inevitáveis em
meio a tanta diversidade. Os códigos morais que regiam as relações de gênero, por
exemplo, diferenciavam-se fortemente de um grupo para o outro e na sociedade como um
todo. Assim, enquanto nas elites, algumas mulheres podiam viajar sozinhas e casar-se
várias vezes, em certos meios não podiam aparecer publicamente desacompanhadas, ou
vestidas livremente. O retrato da cidade traçado por Guilherme de Almeida, em 1929, é
elucidativo. Dirigindo-se ao bairro onde se localizavam os imigrantes árabes, o escritor
modernista satirizava a presença maciça apenas de homens, nas ruas e bares: Bigodes, só
bigodes, bigodes contemplativos nas calçadas; bigodes silenciosos nas portas; bigodes
fumegantes sobre os cafezinhos quentes, nas mesas de mármore fingido; bigodes sonoros
(...). Tomando a rua 25 de março, em meio ao “reino da bugiganga” e da “quinquilharia
vistosa”, observava:
A gente que passa ou pára, só homens. Nem uma única mulher. Acredito levemente na existência de haréns. Eram “sírios aloirados”, “árabes morenos”, “armênios de olhos impressionantes”, “persas sérios”, “egípcios sutis”, “kurdos bravios”, “turcos...mas todos são turcos para São Paulo...115
Ao contrário, no bairro húngaro, no Alto da Moóca, descrevia a roupa de chita e os
muitos colares das mulheres de pele clara, que encontrara em seu passeio no domingo à
tarde, enquanto que no “Japão de São Paulo”, no bairro da Liberdade, percebia as
113 Lombroso, 1908,120.114 Lesser, 1994.115 Almeida, 10/17/24/3/1929; 7/21/4/1929
42

“franjinhas ligeiras” de mulheres pequenas e sérias e nos botequins do bairro espanhol,
mulheres de luto no balcão. Em cada mulher de luto, uma cara de cartomante. Pó-de-arroz
sem rouge. Entretanto, apesar das diferenciações étnicas, os relatórios policiais atestavam a
presença de prostitutas de múltiplas nacionalidades, além das negras, convivendo nas
“casas de tolerância”, “pensões de artistas” e bordéis instalados nas regiões centrais da
cidade, na Praça da Sé, nas ruas Florêncio de Abreu e Libero Badaró, no Brás e no Bom
Retiro.116
- cosmopolitismo e homogeneização cultural
É possível sugerir que a experiência histórica da vida urbana paulistana difere em
grande parte da dos outros estados do país, em princípio, devido ao fenômeno do
desenraizamento produzido pela imigração e pela mistura das várias culturas que aqui se
encontraram favorecendo o cosmopolitismo. Diferentemente do Rio de Janeiro, não
tivemos a presença tão direta e impactante da colonização portuguesa, com o
estabelecimento da família real e de sua corte, dando o modelo de organização da vida
social e funcionando como um polo referencial de construção de símbolos e significados
para a cidade, muito embora São Paulo tivesse os olhos firmemente voltados para lá. Ao
contrário, por muito tempo viveu-se aqui uma experiência bastante diversificada,
propiciada pelo encontro das muitas culturas estrangeiras presentes, razão pela qual a
cidade foi associada pelos contemporâneos à imagem da Babilônia ou da “feira dos
povos”. Assim como Guilherme de Almeida, Sílvio Floreal destacava essa pluralidade
étnica e cultural, ao visitar o bairro do Brás, na década de 20:
Em cada esquina desse bairro, fala-se uma língua estranha e ostenta-se um hábito disparatado. Em cada rua, exibe a sua tradição um povo diferente. Em cada praça, brincam chusmas de garotos peraltas e desbocados, produtos dessa feira de povos.117
Desse tipo de formação social marcada pelo desenraizamento de seus habitantes
resultou uma experiência social e cultural muito singular. Deslocados geograficamente de
seus países, foram milhões de estrangeiros que aqui aportaram com o processo de
imigração; de migrantes, vindos das áreas rurais, em busca de melhores condições de vida;
116 Rago,1991,173.117 Floreal, 1925, 6
43

de negros, cada vez mais excluídos na nova ordem urbano-industrial em constituição; de
mulheres que, convidadas a participar da esfera pública, só puderam entrar em posições
secundárias, enquanto auxiliares dos homens. O sentimento de não-pertencimento à terra e
de estranhamento ao meio afetou particularmente a experiência urbana em São Paulo,
gerando uma instabilidade constante numa multidão heterogênea, como bem sintetiza
Moraes.118 Mais do que em qualquer outra região do país, aqui cabe com muita propriedade
a observação fina e sagaz de Sérgio Buarque de Holanda, ao afirmar, em 1936, que somos
ainda hoje uns desterrados em nossa terra.119
Aos poucos, no entanto, toda essa diversidade étnica foi-se diluindo, à medida em
que a modernização crescente, o fortalecimento do Estado e a difusão dos meios de
comunicação de massa, desde os anos trinta, promoveram uma certa homogeneização
cultural da população, acentuando a necessidade de negociação das identidades para a
definição da figura do paulista.120
A crescente ingerência crescente do Estado na sociedade, ao longo das décadas de
trinta e quarenta, em especial durante o Estado Novo (1939-1945), disciplinando as
relações de trabalho, destruindo as associações políticas e institucionalizando as atividades
de diversão e as práticas esportivas teve efeitos profundamente nocivos sobre as
experiências culturais em gestação. Os programas de lazer com objetivos pedagógicos
explícitos cresceram significativamente, ao mesmo tempo em que se enrijeceu o discurso
sobre o ócio, estigmatizado como ameaçador e perigoso121. Nas escolas, o ensino da
educação física tornou-se obrigatório e, em 1937, surgiram os Clubes de Menores
Operários, destinados a criar personalidades vigorosas, enquanto o projeto cultural dos
parques infantis, criado por Mário de Andrade, enquanto diretor do Departamento de
Cultura, foi abandonado.122
No início da década de quarenta, o enquadramento normativo da população ganhou
maior visibilidade com investimentos arquitetônicos de grande porte, como a construção
do Estádio Municipal do Pacaembu, inaugurado em 27 de abril de 1940. Destinava-se não
apenas à realização de atividades desportivas, partidas futebolísticas e manifestações
artísticas, mas à espetacularização da política, disseminando e reforçando sentimentos de
118 Moraes, 2000, 201 119 Holanda, 1994, 3120 Lesser, 2001, cap.3.121 Sant´Anna, 1992, 25; Soares, 2001, 91 e segtes.
122 Niemeyer, 2002, 107-110.
44

civismo e patriotismo na população. As agências de propaganda do Estado Novo, em
especial o DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – investiam fortemente na
construção da figura mítica do governante, preocupadas que estavam em organizar
simbolicamente o espaço físico de modo a fazer da aparição do ditador Getúlio Vargas um
evento majestoso e divino, à semelhança dos que realizavam os regimes totalitários na
Europa.123 Em meio às operações higienizadoras, os grupos marginais, como os envolvidos
com o lenocínio e a prostituição foram segregados e confinados em bairros mais distantes,
como o do Bom Retiro, tendo sua atuação restrita às ruas Aimorés, Itaboca e Ribeiro de
Lima, segundo determinação do interventor federal em São Paulo, Adhemar de Barros.124
Na área cultural, a entrada do Estado, ao lado de empresas na organização e
institucionalização do lazer, da música ao carnaval e ao futebol provocou uma profunda
ruptura dos antigos vínculos estabelecidos espontaneamente com o meio social de origem.
À medida em que o Estado passou a organizar o carnaval, impondo certas padronizações e
exigências, como a de só apresentar temas nacionais, este se esvaziou e perdeu a vitalidade
original da festa popular espontânea, embora proporcionalmente tenha-se espetacularizado
cada vez mais, estimulado ainda pelo desenvolvimento da indústria do turismo 125.
As rodas de choro e samba que animavam informalmente as festas de fins-de-
semana nos bairros, entre grupos de vizinhança foram progressivamente substituídas, ao
menos em importância, pelos programas de auditório que as rádios, como a Tupi e a
Nacional, iniciavam. Assim como Orlando Silva, o “cantor das multidões”, Vicente
Celestino atraía um público enorme ao apresentar-se no Cine Rex, até recentemente Teatro
Zácaro, no Bexiga, acompanhado pelo conjunto do violonista Antonio Rago, em 1948; já a
Rádio Tupi passava a organizar a “Brigada da Alegria”, caravana de artistas que se
apresentavam nos clubes e rádios das cidades do interior, levando cantores como Osny
Silva, Lolita Rodrigues, Hebe Carmargo, acompanhadas por músicos que se
profissionalizavam, como os integrantes do grupo de Jacob do Bandolim e “Rago e seu
Regional”.126
123 Lenharo, 1987, 193/149124 Fonseca, 1982, 209-215; Rolnik, 1999, 88.125 Segundo Moraes: O aumento do número de concursos e desfiles oficiais patrocinados pelas empresas radiofônicas, de bebidas e da imprensa transformou ainda mais a estrutura tradicional dos cordões.(...) Os desfiles foram perdendo aquela “aura” lúdica e descompromissada, e as disputas tornaram-se mais acirradas, gerando brigas freqüentes entre os cordões. Moraes, 2000, 274. 126 Rago, 1986,50
45

- linhas de fuga
A vida boêmia, certamente, nunca deixou de crescer e de ampliar-se social e
geograficamente. Na região do Largo do Paissandu, o grande ponto de encontro de
boêmios, intelectuais e políticos dos anos trinta, o Ponto Chic, criado em 1922, continuava
a reunir tanto os estudantes da Faculdade de Direito que se lançaram em campanha contra
a ditadura de Vargas127, quanto os artistas de teatro que, após as apresentações, procuravam
um lugar para um lanche leve, pois o preço dos restaurantes era alto demais para seus
magros salários. Aí, muito antes de formar-se em Medicina e de tornar-se um dramaturgo
conhecido, Roberto Freire experimentaria seu primeiro chope, como narra em recente
autobiografia:
Sabia pelo irmão mais velho, o Benedito, que estudava Direito, onde os estudantes da faculdade do Largo de São Francisco se encontravam à noite, para beber e ‘ bohemiar’. E fomos lá, nos sentando à sua grande mesa, onde os jovens tomavam chope, comiam um sanduíche chamado Bauru, falando muito alto, gargalhando em consequência de muitas gozações. O bar se chamava Ponto Chic (...) foi onde ouvimos falar pela primeira vez em Karl Marx, do seu “O Capital” e da revolução soviética de 1917.128
Os cafés do Triângulo, como o Acadêmico, importantes pontos de sociabilidade e
de irradiação cultural, continuaram a receber famosos escritores, como Guilherme de
Almeida e Vicente de Carvalho, até meados da década de 1940, quando o cafezinho passa
a ser tomado nos balcões e os “papos” se tornam fugazes. Já o Bar Avenida, na Avenida
São João, se torna um importante reduto de cantores, recebendo Vicente Celestino, Gilda
de Abreu, Orlando Silva e Francisco Alves, que entre as muitas canções, fumava
sucessivamente os “Petits Londrinos” ovais, cigarros muito em voga na época.129 Nos anos
50, bares como o Paribar, na Praça Dom José Gaspar, freqüentado por Antonio Cândido e
Sergio Milliet, o Mirim, o Barbazul e o Arpège, próximos à Biblioteca Mário de Andrade
continuaram a desempenhar um importante papel socializador, ao reunir estudantes,
professores, intelectuais, artistas, dramaturgos e a jeunesse dorée paulistana.130
A oposição política, violentamente silenciada durante os difíceis anos da ditadura
estadonovista, lutou para sobreviver e articular-se posteriormente, criando múltiplas
estratégias de resistência. Em 1939, por exemplo, os anarquistas adquiriram a “Nossa
127 Castellani, s/d, 137128 Freire, 2002 ,29129 Idem, 139130 Arruda, 2001, 62
46

Chácara”, registrada como Sociedade Naturista Amigos da Nossa Chácara, no Itaim,
depois transferida para perto de Mogi das Cruzes. Esse “espaço outro” permitiu tanto a
realização de encontros e congressos libertários, quanto a experiência de formas de
convivência pautadas pelos princípios libertários da amizade e da solidariedade, contra a
hieraquização das relações intersubjetivas.131 Assim, em 20 de abril de 1946, o jornal Ação
Direta podia noticiar:
Os companheiros de São Paulo pensam muito bem que é possível nesta sociedade burguesa capitalista afogante e desmoralizada, fruir um ante gozo da vida anárquica, a vida harmônica e sã do futuro. Para isso, planejaram um local a que deram o sugestivo nome de Nossa Chácara onde possam passar seu repouso semanal.
É um sítio, em Itaim, lugar aprazível onde construíram um dormitório, refeitório, pátio de jogos e um auditório ao ar livre. A água ótima e apanhada na represa de uma fonte perene. Além disso há uma piscina ampla, natural, onde pode nadar francamente. 132
Já o Centro de Cultura Social, fundado no Brás, em 1933, pelos anarquistas de São
Paulo e fechado em 1937, foi reaberto em 1945.133 Dirigido por Edgar Leuenroth e,
posteriormente, pelos irmãos Jaime e Francisco Cubero, entre outros companheiros,
organizava palestras semanais, onde se debatiam temas culturais, sociais e sexuais, que
abrangiam desde a crítica ao capitalismo até a pedagogia libertária, o amor livre, o divórcio
e a prostituição. Nos anos 1950, o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa aí realizava instigantes
conferências sobre amor, sexualidade e casamento, procurando informar os jovens em
relação aos inúmeros preconceitos sexuais que recebiam do mundo dos adultos.
Os grupos teatrais ligados ao Centro continuavam a encenar peças teatrais de
cunho social, como as do sapateiro Pedro Catalo, também apresentadas no Teatro
Colombo, pelos próprios atores anarquistas. Como informa o crítico Sabato Magaldi:
O grupo de Teatro do Centro de Cultura Social ainda em 1947 anunciava a estréia de “um emocionante drama de fundo crítico e de renovação social”, Uma mulher diferente, de autoria do dramaturgo e ensaiador, sapateiro de profissão, Pedro Catallo. As famílias Cuberos, Valverde e Catallo, ativos participantes da agremiação, deram continuidade (...) à tradição dos antigos grupos anarquistas.134
131 Borges, 1996,135132 Idem, 138133 Idem, 93, 119134 Magaldi, 2000, 33
47

Assim, quando Beatriz Tragtenberg135 nasce, em 1935, no Bixiga, encontra um
universo cultural e musical bastante forte nos meios populares. Acompanhando seu pai,
que completava o orçamento trabalhando na bilheteria do Teatro Santana, no centro da
cidade, estabelece desde cedo um vínculo tão forte com a área teatral, assistindo aos
famosos “teatros de revista” da época, que opta por ser atriz posteriormente:
Daquela época em que eu era criança, houve um hiato, digamos dos 15 aos 18 anos, não vi mais nada de teatro e começou a surgir essa nova turma. Dos 12 anos, em que via Procópio Ferreira, deu um corte e de repente fui assistir no Arena, “Ratos e Homens” do Steinbeck, isso foi em 1956, fiquei louca... 136
No período a que se refere, o teatro paulista sofre uma profunda mudança, em
grande parte favorecida pela incorporação dos jovens “amadores”, como Paulo Autran,
Ziembinski, Tonia Carrero, Maria Della Costa, Sergio Cardoso e Nídia Lícia, que se
apresentavam nos intervalos realizados pelas companhias consagradas, em especial a de
Procópio Ferreira. Insatisfeitos com os espetáculos comerciais e pouco artísticos
oferecidos à população, buscavam melhorar o nível de qualidade do teatro brasileiro.
Como narra Armandinho do Bixiga, referindo-se ao surgimento do TBC – Teatro
Brasileiro de Comédia, importante marco na vida cultural de São Paulo e de onde sairão os
principais grupos teatrais paulistas posteriormente:
Então o Franco Zampari, um italiano muito ligado à arte, alugou o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) que tinha sido a sede do fascio (doppo lavoro), veio a guerra e esse prédio estava fechado. Então ele alugou aquele prédio e fez um teatro só para amadores se apresentarem, para os amadores brasileiros terem um lugar onde se apresentar o ano inteiro.137
Em relação às poucas organizações negras existentes, o aceno paternalista do
regime Vargas, reforçado por discursos nacionalistas anti-imigratórios, mesmo antes da
ditadura do Estado Novo, atraiu o apoio da Frente Negra Brasileira, criada em 1931.
Entrevendo algumas perspectivas de valorização e inclusão dos negros na vida política
institucional, esta deu apoio ao regime, sendo, no entanto, fechada por Vargas, em 1937138.
Liderada por figuras que haviam conseguido alguma ascensão social, constituiu um dos
135 Nascida em 1935, a militante e atriz Beatriz Tragtenberg formou-se em Letras pela Universidade de São Paulo, onde desde jovem participava dos grupos teatrais estudantis. Casou-se, em 1955, com outro ativo militante de esquerda, Maurício Tragtenberg, que conhecera na Biblioteca Municipal “Mário de Andrade”.136 Depoimento de Beatriz Tragtenberg à autora, realizado em janeiro de 2003.137 In Moreno, 1996,155. Veja-se ainda Mattos, 2002,p.43 e segtes.138 Andrews, 1991, 148
48

poucos canais de articulação social e de expressão política dos negros, em sua grande
maioria pobres. Criou cursos de alfabetização e uma escola elementar, assistência médica,
dentária e jurídica à população negra, sobretudo nos conflitos com patrões e para aquisição
de terrenos próprios nos bairros Jabaquara, Saúde e Casa Verde. Mas, também aí
apareciam tensões entre os que ascendiam socialmente e os que se sentiam inferiorizados,
de modo que a Frente se dividiu em tendências políticas de esquerda e direita, como
outros grupos na sociedade. Embora sem conseguir qualquer sucesso político, esta
organização teve importante papel como um grupo de pressão anti-racial, conseguindo uma
certa democratização de alguns espaços de diversão, antes fechados aos negros.
Assim, se nos anos trinta, a cidade se modernizava aceleradamente, nos pós-45,
registra-se um surpreendente crescimento artístico e cultural. Os jovens da classe média e
da elite que se formavam e que se politizavam nos cursos da Universidade de São Paulo,
criada em 1934, logo puderam contar com novas instituições culturais, como o MASP –
Museu de Arte de São Paulo, criado em 1947; o MAM – Museu de Arte Moderna, criado
em 1949; com a organização das Exposições Bienais, desde 1951; com a criação da Escola
de Arte Dramática e com o próprio TBC, de 1948139. Para muitos, porém, a rua e a praça
continuavam sendo os principais lugares de debate político, de discussões ideológicas, de
encontros entre intelectuais e militantes de esquerda, - entre anarquistas, socialistas,
trotskistas e comunistas -, como avalia o intelectual libertário Maurício Tragtenberg:
No fundo era incrível essa Galeria Prestes Maia, tinha um papel de universidade. Era no meio da rua e se formavam centros de debates políticos. Na Praça da Sé também tinha outros grupos que se formavam para a discussão. Em geral, esta era a forma de lazer do pessoal, depois do trabalho, aos sábados, domingos. (...)
Então, tinha o bairro, e, no bairro, tinha a praça que era um ponto de encontro, um centro de informações; a praça era realmente usada nesse sentido, para comício político e sem precisar pedir autorização anterior à polícia ou coisa que o valha. E tinha, no centro da cidade, a praça do Patriarca, que foi uma universidade para mim, nesse sentido. O pessoal que participou da Revolução de 1935 passou por lá, o pessoal que formou a Frente Negra de São Paulo, passou por lá. 140
Ao mesmo tempo, o processo de modernização da vida social, marcado pela
difusão do American way of life se acentuou velozmente com a expansão dos meios de
comunicação de massa e da indústria cinematográfica, incidindo fortemente sobre as
formas de sociabilidade e lazer vigentes. Sobretudo entre as décadas de 40 e 50, o cinema
foi plenamente incorporado na vida urbana, sendo que em 1951 foram construídos os
139 Mattos, 2002, 20140 Tragtenberg, 1999, 36
49

estúdios da Cia Cinematográfica Vera Cruz, a Hollywood paulista141. Do mesmo modo, a
televisão – cuja primeira emissora da América Latina, a PRF-3TV, Tupi–Difusora canal 3
foi inaugurada em 1950, no bairro do Sumaré - contribuiu intensamente para o crescente
processo de privatização da vida social e para a progressiva difusão das formas
americanizadas de convívio e diversão, de alto a baixo na sociedade. Através das novelas
irradiadas e televisionadas, assim como dos filmes que já haviam ganhado sonoridade,
aprendiam-se os códigos modernos de relacionamento social, especialmente os afetivos e
sexuais, assim como as modas e os gostos musicais.
Nesse contexto, ir ao cinema passou a ser um dos hábitos de lazer mais importantes
dos paulistanos, que lotavam as salas majestosas do centro, como o UFA-Palace, o Cine
Metro e o Opera, na Avenida São João, e o Cine Bandeirante, no Largo do Paissandu, ou
ainda, nos cinemas de bairro, como o Universo, no Brás, capaz de receber mais de quatro
mil pessoas, o Cruzeiro, na Vila Mariana e o Tropical, na Lapa.142 Nessas décadas,
enquanto os produtos de beleza eram propagandeados pelas estrelas do star system, entre
Rita Hayworth, Elizabeth Taylor e Gina Lolobrigida, os famosos pares românticos, como
Ava Gardner e Clark Gable, Kim Novak e Dean Martin ensinavam a beijar, tornando-se
uma das mais importantes referências de conduta amorosa.143
Considerações Finais
A expansão sócio-econômica e o crescimento urbano da cidade de São Paulo, desde
as primeiras décadas do século 20, envolveram um esforço de construção de uma ordem
social europeizada, que supôs uma forte segregação espacial e social. Lançados para os
bairros periféricos da cidade, imigrantes pobres, migrantes e negros desenvolveram seus
modos de vida, sociabilidade e cultura próprios, sem qualquer incentivo por parte dos
setores dominantes ou do Estado. Muito pelo contrário, foram muitas vezes proibidos de
manifestar suas formas de sociabilidade e lazer, especialmente os negros, já que,
considerados pouco racionais e ameaçadores, eram pressionados a incorporar os padrões
normativos e os códigos morais das elites dominantes.
Assim, a urbanização da cidade se definiu em grande parte por um processo de
privatização da vida pública, segundo o modelo higiênico de vida e lazer das elites. Até os
141 Mattos, 2002,20142 Simões, 1990, 35-67143 Meneguello,1996,102
50

anos vinte, a “sociedade do café’ investiu na redefinição do espaço público, onde
imperasse a respeitabilidade burguesa e em que os padrões civilizados de comportamento e
sociabilidade, progressivamente adotados no universo patriarcal da elite cafeicultora e dos
industriais emergentes, fossem exportados para toda a cidade. Evidentemente, a instituição
desses valores e códigos não se deu sem tensões, conflitos, tumultos e resistências, nem
impediu a emergência de modos diferenciados de organização da vida social,
especialmente nos bairros operários, onde se desenvolveu toda uma cultura específica,
fortemente marcada pelas tradições culturais e políticas de origem tanto dos grupos
imigrantes, quanto dos migrantes rurais.
Nos primeiros cinqüenta anos da história da cidade de São Paulo, a falta de
políticas públicas efetivas na área do lazer evidencia concepções muito pouco
democráticas de urbanismo e de organização da vida pública e social, podendo ser
constatada na própria ausência de espaços adequados para a reunião e o divertimento da
população. Um investimento maior na organização desta por parte dos poderes públicos
expressou-se, nos anos trinta, em função de objetivos políticos autoritários e nacionalistas
muito claros.
Assim, se nos inícios do século, foram criados alguns parques públicos, como o
Anhangabaú, o Dom Pedro, o Horto Florestal, na serra da Cantareira, eram as empresas
particulares que detinham as maiores áreas de lazer, como o Parque Antártica, na Água
Branca e o Bosque da Saúde, pertencentes à Companhia Antarctica Paulista.144 Já o Plano
de Avenidas do prefeito Francisco Prestes Maia, que se sucede, privilegia a circulação e o
automóvel, e não as pessoas e o convívio social. Algumas das praças e parques, como o
Anhangabaú, foram, pois, destruídos, ou transformados em estacionamento. Nos anos
quarenta, as estratégias de enquadramento da população, como a inauguração do
imponente Estádio do Pacaembu, contribuíam para que esta passasse a se identificar cada
vez mais a partir de uma nova categoria, a de massa, o que teve um sentido fortemente
despolitizador.
Em relação aos rios da cidade, também não se procurou incorporá-los à vida
urbana. Assim, se o rio Tietê pode bem ter sido um espaço público importante, aglutinando
em suas margens milhares de espectadores e espectadoras a observarem os concorridos
campeonatos de natação e remo, representando, pois, uma forma simbólica da liberdade145
para a população durante algumas décadas, paulatinamente foi destituído pelo crescimento
144 Campos, 2002, 302145 Chalmers,2002,29
51

dos clubes privados e totalmente abandonado como esgoto. Apenas nos anos cinqüenta é
que se cria o Parque do Ibirapuera (1954) para o divertimento popular, vale notar, um
século depois da construção do Bois de Bologne, de Paris e do Central Park, de Nova
Yorque, parque este projetado antes mesmo do crescimento da cidade. Ainda assim, o
Ibirapuera não está ligado à rede do metrô, já que segundo a lógica dos engenheiros e
urbanistas de São Paulo, ao contrário dos do Rio de Janeiro, o metrô deve transportar a
mão-de-obra da periferia para o centro, tão somente, atendendo às exigências do capital.
Ao contrário da burguesia européia e da norte-americana que tanto admirava, a paulistana
parecia não considerar importantes os espaços verdes para a oxigenação da cidade, menos
ainda para a saúde mental dos trabalhadores. Além do mais, o medo de que os pobres
invadissem os espaços públicos e os deteriorassem com seus hábitos considerados
selvagens e promíscuos levava a que reforçasse a vigilância nos passeios existentes.
Nas décadas de 40 e 50, o American way of life se difunde consideravelmente tanto
pelo modelo capitalista de desenvolvimento econômico adotado, quanto pela importância
que adquirem os meios de comunicação de massa, provocando uma profunda ruptura com
os modos de vida e sociabilidade do passado recente. Paulatinamente, abandona-se toda
uma forma comunitária de convívio social no cotidiano dos bairros, simbolizada, por
exemplo, pelo gosto das conversas de final de tarde nas cadeiras dispostas às portas das
casas, prática que é substituída pelo recolhimento na intimidade privada do lar e da família,
cada vez mais centrada em torno dos programas da televisão. Dessa perda fala novamente
Tragtenberg:
O fato é que o bairro tinha uma personalidade. E como é que você podia definir a personalidade de um bairro? Você definia assim. Em primeiro lugar, o uso da praça. Então, num bairro, no Belém, no Belenzinho, no Tatuapé, a gente se reunia. Os encontros eram marcados na praça do bairro e a praça começava a se movimentar depois das dez da noite. (...) E à noite se discutia desde política - não só política de bairro, até as últimas novidades da poesia francesa moderna, o último romance que revolucionou a técnica do romance, que apareceu no Brasil, que apareceu na Europa e pintou por aí (...)No fundo, o pessoal era muito autodidata. E sentava-se ali, não tinha medo de ser assaltado, não tinha medo de ser violentado....146
146 Tragtenberg, 1999, 36
52

BIBLIOGRAFIA
Alcântara Machado, Antonio – “Lira Paulistana”, Revista do Arquivo Municipal, ano II,
vol. XVII.
Almeida, Guilherme – “Cosmópolis”. In: O Estado de São Paulo, 10/17/24/3/1929;
7/21/4/1929
Amaral, Aracy (org.) – Correspondência de Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. S.
Paulo: EDUS/IEB, 2001
- Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1998,5ªed.
- Tarsila, sua Obra e seu Tempo. S.Paulo: Perspectiva, Ed. da Universidade de São
Paulo, 1975
Amaral, Edmundo – A Grande Cidade. S. Paulo: José Olympio, 1950.
Americano, Jorge – São Paulo Nesse Tempo. 1915-1935. S.Paulo: Edições
Melhoramentos, 1962
Andrade, Mário – Poesias Completas. S.Paulo: Livraria Martins Editora,1966.
– Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. S.Paulo:Martins; Belo Horizonte:
Itatiaia,1981; 18ªed.
- “O movimento modernista”, in Berriel, Carlos Eduardo (org.) -Mário de Andrade Hoje.
S.Paulo: Ensaio, 1990.
Andrade, Oswald – Um Homem sem profissão. Sob as ordens de mamãe. São Paulo:
Globo: Secretaria de Estado de Cultura, 1990.
Andrews, George Reid – Blacks and Whites in São Paulo, Brazil, 1888-1988. Madison: the
University of Wisconsin Press,1991.
Araújo, Vicente de Paula – Salões, Circos e Cinemas de São Paulo. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1981
Arruda, Maria Arminda do Nascimento – Metrópole e Cuttura. São Paulo no meio século
XX.. Bauru,SP:EDUSC,2001
Baudelaire, Charles – “Le peintre de la vie moderne”, “Salon de 1846”, “La modernité”.
Oeuvres Complètes, Paris: Gallimard, Col. “Bibliothèque de la Pléiade”, 1976, t.II
Berriel, Carlos Eduardo (org.) -Mário de Andrade Hoje. S.Paulo: Ensaio, 1990.
53

Besse, Susan K. –Restructuring Patriarchy: The Modernization of Gender Inequality in
Brazil, 1914-1940. Chapel Hill and London: the University of Carolina Press, 1996.
- “Crimes of passion: The Campaign against Wife-Killing in Brazil,1910-1940” Journal
of Social History, 22:4 (Summer 1989),653-66.
Boaventura, Maria Eugênia – 22 por 22. A semana de arte moderna vista pelos seus
contgemporâneos. S.Paulo: Edusp, 2000
Borges, Paulo E. B. – Jaime Cubero e o Movimento Anarquista em São Paulo,1945-1954.
Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 1996
Brito, Mário da Silva – História do Modernismo Brasileiro.1-Antecedentes da Semana de
Arte Moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997,6ªed.
Britto, Iêda Marques – Samba na cidade de São Paulo, 1900-1930: um exercício de
resistência cultural. S.Paulo:FFLCH/USP,1986
Broca, Brito – A Vida literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro:Livraria José Olympio,
1960, 2a ed.
Bruno, Ernani da Silva – “Três Aspectos do Policiamento no Século Dezenove em São
Paulo”. Revista Investigações, ano I, no.8, agosto 1949, São Paulo.
- História e Tradições da Cidade de São Paulo. Vol.III, Rio de Janeiro: José
Olympio,1954, 2ªed.
Camargos, Márcia – Villa Kyrial. Crônica da Belle Époque Paulistana . S.Paulo: Ed.
SENAC, 2001
Cafezeiro, Edwaldo e Gadelha, Carmen – História do Teatro Brasileiro. De Anchieta a
Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro:UFRJ: EDUERJ: FUNARTE, 1996
Campos, Cândido Malta – Os rumos da cidade. Urbanização e Modernização em São
Paulo. São Paulo: Editora Senac, 2002.
Castellani, José – São Paulo na década de 30. São Paulo: Ed. Policor Ltda, s/d
Ciscati, Márcia Regina – Malandros da terra do trabalho. Malandragem e boêmia na cidade
de São Paulo (1930-1950). São Paulo: AnnaBlume/Fapesp, 2000
Chalmers,Vera –“Belenzinho 1910: Memórias Proletárias”, Letterature
D´America. Rivista Trimestrale, anno XXII, n.92, Roma: Bulzoni Editore, 2002
Chibán, Edgardo - “Entre Dandys”. In: Abraham, Thomas - Foucault y la Etica, Buenos
Aires: Ediciones Letra Buena, 1992
Corbin, Alain - “O Segredo do Indivíduo”.In Perrot, Michelle (org.) - História da Vida
Privada, São Paulo: Companhia das Letras, 1991,4 vol.
Costa Jr., Paulo José – “Delito e Delinquente”, Folha de São Paulo, 26/8/ 1979
54

Dean, Warren – A Industrialização de São Paulo. São Paulo-Rio: Difel,1971.
Dijkstra, Bram – Idols of Perversity. Fantasies of feminine evil in fin–de-siècle culture.
New York/Oxford:Oxford University Press,1986.
Elias, Norbert – A sociedade de corte. Lisboa: Editorial Estampa, 1987
Fausto, Boris – Trabalho Urbano e Conflito Social. S.Paulo: Difel, 1977
Floreal, Silvio – Ronda da meia-noite. São Paulo: Cupolo,1925.
Freitas, Affonso A – Tradições e Reminiscências Paulistanas. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia;
S.Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1985
Foucault, Michel – Ditos e Escritos. vol. II, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
Freire, Roberto – Um É Um Outro: autobiografia de Roberto Freire. Salvador: Maianga,
2002.
Furlani, Lúcia M. Teixeira – PAGU. Patrícia Galvão: livre na imaginação, no espaço e no
tempo. Santos: Ed. Unisanta,1999, 4ª ed.
Galvão, Maria Rita E.– Crônica do Cinema Paulistano. São Paulo: Ática, 1975.
Gattai, Zélia – Anarquistas, graças a Deus. São Paulo: Círculo do Livro, 1979
Gotlib, Nádia Battella – Tarsila do Amaral, a modernista. São Paulo: Editora SENAC São
Paulo, 1998
Hanchard, Michael G. – Orfeu e o Poder. Movimento Negro no Rio e São Paulo.Rio de
Janeiro: Editora UERJ, 2001.
Holanda, Sérgio Buarque – Raízes do Brasil. S.Paulo: Editora José Olympio, 1994, 26aed
(1ªed.1936)
Kogumura, Paulo - Conflitos do Imaginário. A reelaboração das práticas e crenças afro-
brasileiras na “metrópole do café”, 1890-1920. São Paulo: Editora AnnaBlume, 2001
Leite, Miriam Moreira- Outra Face do feminismo: Maria Lacerda de Moura. São Paulo:
Ática, 1984.
Lenharo, Alcir – Sacralização da Política. Campinas: Editora Papirus/Editora da
Unicamp,1986
Lesser, Jeffrey – O Brasil e a Questão Judaica. Rio de Janeiro: Ed.Imago,1995
- A negociação da identidade nacional. Imigrantes, minorias e a luta pela etnicidade
no Brasil. S.Paulo: Editora UNESP,2001
Limena, Maria Margarida Cavalcanti – Avenida Paulista. Imagens da metrópole. S. Paulo:
EDUC: Fapesp,1996
Lombroso-Ferrero, Gina – Nell´America Meridionale. Milano: Fratelli Treves Ed., 1908.
55

Lopes, Telê Ancona – “A crônica de Mário de Andrade: impressões que historiam.” In:
Cândido, Antonio (et. al.) - A Crônica. O gênero, sua fixação e suas transformações no
Brasil. Campinas, Editora da UNICAMP,1992.
Maffesoli, Michel – A sombra de Dionísio. Rio de Janeiro: Graal,1985
Magaldi, Sábato e Vargas, Maria Thereza – Cem Anos de Teatro em São Paulo (1875-
1974). São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000.
Magalhães, Gildo – Força e Luz: eletricidade e modernização na República Velha. São
Paulo: Editora UNESP/ FAPESP, 2000.
Marques, Cícero–De Pastora a Rainha, S. Paulo: Ed. da Rádio Panamericana, 1944;
- Tempos Passados... S.Paulo: Moema Editora,1942 (Col. “Flama”,3)
Mattos, David José Lessa – O Espetáculo da cultura Paulista. Teatro e TV em São Paulo.
São Paulo: Códex, 2002
Moraes, José Geraldo Vinci - Metrópole em sinfonia. São Paulo: Estação Liberdade/
Fapesp,2000
Meneguello, Cristina – Poeira de Estrelas. O Cinema Hollywoodiano na Mídia Brasileira
das décadas de 40 e 50. Campinas, SP:Editora da UNICAMP, 1996.
Moreno, Júlio – Memórias de Armandinho do Bixiga. S. Paulo:Editora SENAC,1996
Morse, Richard M. – Formação Histórica de São Paulo: (De Comunidade a Metrópole).
S.Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970
Mott, Maria Lúcia e Maluf, Marina – “Recônditos do mundo feminino”, in Sevcenko,
Nicolau(org.)–História da Vida Privada no Brasil. S.Paulo: Companhia das Letras,1998,
vol.3, pps. 368-421.
Moura, Maria Lacerda – Han Ryner e o Amor Plural. São Paulo: Graphica- Editora Unitas
Ltda, 1933
Moura, Paulo Cursino – São Paulo de Outrora (evocações da metrópole).Belo Horizonte:
Ed. Itatiaia; S.Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo,1980
Muniz Jr., J. - Episódios e Narrativas da Aviação na Baixada Santista, Edição
comemorativa da Semana da Asa de 1982, Gráfica de A Tribuna, Santos/SP.
Nicolini, Henrique – Tietê: o rio do esporte. São Paulo: Phorte Editora, 2001
Niemeyer, Carlos Augusto da Costa – Parques Infantis de São Paulo. Lazer como
expressão de cidadania. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002
Penteado, Jacob – Belenzinho, 1910: retrato de uma época. São Paulo: Martins,1962.
Pinto, Alfredo Moreira - A cidade de São Paulo em 1900. São Paulo: Governo do
Estado,1979. (1ªimpressão, 1900)
56

Porto, Antonio Rodrigues – História da cidade de São Paulo através de suas ruas. São
Paulo: Carthago Editorial ,1996, 2ªed.
Queiroz, Maria Isaura - Carnaval brasileiro: o vivido e o mito. São Paulo: Brasiliense,
1999.
Raffard, Henrique – Alguns Dias na Paulicéia. São Paulo: Biblioteca da Academia Paulista
de Letras, vol.4, 1977.
Rago, Antonio – A Longa Caminhada de um Violão. São Paulo: Ed. Iracema,1986.
Rago, Margareth – Do cabaré ao lar. A utopia da Cidade Disciplinar, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1985
- Os Prazeres da Noite. Prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo.Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1991
Reis, Vilela - “Faíscas”, Folha do Braz, ano II, 18/6/1899
Rolnik, Raquel – A Cidade e a Lei. Legislação, Política Urbana e Territórios na cidade de
São Paulo. São Paulo: Studio Nobel/ Fapesp,1999, 2ªed.
- “Territórios negros em São Paulo: uma história”, Estudos Afro-asiáticos, (Rio de
Janeiro, Conjunto Universitário Cândido Mendes) 17, 1989, pp.29-41.
Sant´Anna, Denise Bernuzzi – O Prazer Justificado: História e Lazer. (São Paulo, 1969-
1979).São Paulo:Marco Zero,1992
Santos, Carlos José Ferreira – Nem Tudo Era Italiano. São Paulo e Pobreza (1890-1915).
S.Paulo: AnnaBlume,1998
Schapochnik, Nelson – “Cartões-postais, álbuns de família e ícones da intimidade”. In:
Sevcenko, Nicolau – História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,
1998, vol.3, pps.423-512
Schmidt, Afonso – São Paulo de meus amores. S.Paulo: Ed. Brasiliense,s/d.
Schpun, Mônica Raisa – Paulistanos e Paulistanas. Rapports de genre à São Paulo dans les
années vingt. T hèse de doctorat en Histoire, Paris VII,1994.
Segawa, Hugo – Ao amor do público. Jardins no Brasil. São Paulo: Studio Nobel,1996
Seigel, Jerrold – Paris Boêmia. Cultura, Política e os Limites da Vida Burguesa, 1830-
1930. Porto Alegre: LPM, 1992.
Sevcenko, Nicolau – Orfeu extático na metrópole: sociedade e cultura nos frementes anos
20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992
Simonsen, Roberto – O Trabalho Moderno. São Paulo. Seção de Obras de O Estado de S.
Paulo, 1919.
57

Showalter, Elaine – Anarquia Sexual. Sexo e Cultura no fin de siècle. Rio de Janeiro:
Rocco, 1993.
Simões, Inimá – Salas de Cinema em São Paulo. São Paulo/Secretaria Municipal de
Cultura/ Secretaria de Estado da Cultura, 1990.
Skidmore, Thomas – Preto no branco – raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1989, 2ªed.
Soares, Carmen – Educação Física. Raízes Européias e Brasil. Campinas, SP: Editora
Autores Associados, 2001, 2ªed.
Tácito, Hilário – Madame Pomméry. São Paulo: Biblioteca da Academia Paulista de
Letras, 1977
Tinhorão, José Ramos – Cultura Popular. Temas e Questões. S. Paulo: Editora 34, 2001
- Música Popular – do Gramofone ao Rádio e TV. São Paulo: Ed. Ática,1978.
Tragtenberg, Maurício – Memórias de um autodidata no Brasil. São Paulo: Escuta, 1999
Vieira, Rosa Maria - O pensamento industrialista de Roberto Simonsen: análise de
ideologia. Dissertação de mestrado, S. Paulo : FFLCH/USP, 1987.
Xavier, Ismail – Sétima Arte: Um Culto Moderno. S. Paulo: Editora Perspectiva/Secretaria
da Cultura de S. Paulo,1978
58