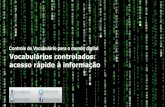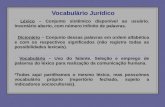A linguagem regionalista de Jorge Amado na obra …€¦ · Resumo Este trabalho procura fazer um...
Transcript of A linguagem regionalista de Jorge Amado na obra …€¦ · Resumo Este trabalho procura fazer um...
A linguagem regionalista de Jorge Amado na obra Tereza Batista cansada de
guerra
André Luiz ALSELMI1
Janaína Aureliano SOARES2
Juliana de BARROS3
Resumo
Este trabalho procura fazer um levantamento do vocabulário regional utilizado por
Jorge Amado no romance Tereza Batista cansada de guerra para, por meio dele,
caracterizar as personagens em sua relação com a cultura e a tradição do sertão
nordestino. Por meio da personagem Tereza Batista, Amado constrói uma narrativa que
denuncia a realidade da região nordeste, ainda que o romance não pertença ao
regionalismo de 30. Nessa denúncia, o escritor procura demonstrar que as mazelas dessa
população não terminaram. Para isso, Amado constrói personagens marcadas pelo uso
da linguagem oral a fim de retratar com vivacidade o universo nordestino. A relação
entre esse vocabulário oral e a condição social das personagens é o foco central deste
artigo.
Palavras-chave: Regionalismo. Variação linguística; Literatura e sociedade; Jorge
Amado.
Abstract
This paper aims at conducting an analysis of the regional vocabulary used by Jorge
Amado in the novel Tereza Batista cansada de guerra and, thereby, defining its
characters concerning the culture and tradition of the Brazilian Northeastern inland.
Through Tereza Batista’s character, Amado builds a narrative that denounces the
reality of the Northeastern region although the novel does not belong to the 1930s
1 Doutorando em Estudos Literários (UNESP / Araraquara) – Coordenador do curso de Letras do Centro
Universitário Barão de Mauá - Docente do Centro Universitário Estácio-UniSEB - CEP 14090-180 –
Ribeirão Preto – SP – E-mail: [email protected]
2 Graduada em Letras pelo Centro Universitário Barão de Mauá - CEP 14090-180 – Ribeirão Preto – SP –
E-mail: [email protected]
3 Graduada em Letras pelo Centro Universitário Barão de Mauá - CEP 14090-180 – Ribeirão Preto – SP –
E-mail: [email protected]
regionalism. Denouncing this, the author aims at demonstrating that the malaises of
this population are not over. In order to do so, Amado builds characters marked by the
use of oral language to portray with vivacity the Northeastern universe. The relation
between this oral vocabulary and the social condition of the characters is the reason for
this study.
Keywords: Regionalism. Linguistic variation Literature and society. Jorge Amado.
Introdução
O universo fictício de Jorge Amado perpassa o mundo real, visto que as
personagens são construídas como representação do cotidiano de pessoas comuns do
sertão nordestino. Suas ações, sua cultura e sua tradição, bem como a linguagem
utilizada por cada personagem, comunicam-se com o leitor de forma a introduzi-lo na
realidade do povo nordestino. No romance Tereza Batista cansada de guerra, escrito
em forma de cordel, Amado trabalhou a linguagem das personagens. Na obra, o escritor
valeu-se da oralidade como meio de apresentação da cultura regional nordestina.
Artigos e trabalhos como “O sertão e a narrativa literária em Teresa Batista
cansada de guerra de Jorge Amado: espaços de memória”, de Carlos Augusto
Magalhães e Taise Teles Santana de Macedo e “O vocabulário regional de Jorge Amado
em Terras do sem fim”, de Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz, procuraram elucidar o
porquê dessa necessidade que Amado tinha em figurar suas personagens marcando-as
também de forma lexicográfica. Além disso, esses estudos apontaram que o maior foco
do autor era criticar a política nacional que abandonava o sertão nordestino –
característica comum aos autores do movimento regionalista de 30.
O Romance de 30, também chamado de romance regionalista moderno, foi
marcado pelo forte teor crítico de cunho social. Nele, os romancistas da época
procuraram retratar a realidade do nordeste brasileiro. Além de se desprenderem da
linguagem tradicional, as personagens adquiriram vocábulos, gírias e lexias próprias de
suas regiões. Segundo Márcia Lígia Guidin em “Modernismo no Brasil - o início: das
vanguardas europeias à Semana de Arte Moderna”, escritores como Raquel de Queiroz,
Graciliano Ramos e Jorge Amado foram particularmente adeptos desse movimento
regional. Suas obras eram compostas de temas como a seca, a forte desigualdade social,
o coronelismo, a ausência do governo no interior dos estados nordestinos.
Por meio de suas personagens e histórias por elas vividas, Amado cria um
cenário em que o leitor poderá conhecer de fato o nordeste brasileiro, por meio de
ações, vocabulário – repleto de variações linguísticas – , acontecimentos e desfechos.
Essa realidade, por vezes distante dos olhares das outras regiões do país, por meio da
obra, torna-se presente e acessível a um público mais vasto. Apesar de as variações
poderem ser classificadas em diferentes categorias, este trabalho procurou centrar-se
apenas no campo lexical, visto que esse é o tipo de variação mais recorrente nessa obra
de Amado, o que confere a ela uma grande riqueza vocabular.
Este trabalho procurou reunir vocábulos considerados regionais na obra
Tereza Batista cansada de guerra. Para isso, foram utilizados como fonte de pesquisa
de significados os dicionários regulares da língua portuguesa (Michaelis Online e
Minidicionário da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara), identificando os
vocábulos tidos como regionais, brasileiros, populares, além de gírias. Também como
fonte de pesquisa do significado desses vocábulos, foram utilizados os dicionários
online de falares regionais: Dicionário Nordestino, de Cacá Lopes; Dicionário de
Baianês, de Nivaldo Lariú; e Dicionário Popular de Gírias e Expressões , aberto,
construído com a participação de internautas.
Este artigo tem como objetivo principal demonstrar que a linguagem
utilizada pelas personagens do romance Tereza Batista cansada de guerra é marcada
pela presença de um vocabulário regionalista, que tende à oralidade. Sendo assim, a
cultura e tradição da região nordestina é retrada, sobretudo, pelo seu léxico regional.
Tereza Batista cansada de guerra: tramas e abordagens
No sertão do Sergipe, a órfã Tereza vivia com seus tios que a venderam ao
Capitão Justo. Tereza tentou resistir, mas foi violentada, escravizada e submetida a
todos os desejos deste. Após anos, se envolveu com Daniel, foi surpreendida pelo
capitão e defendeu-se matando-o. Foi presa, mas, com a ajuda do Doutor Emiliano, com
quem mais tarde viveu um romance, foi liberta. Após a morte deste, iniciou a carreira de
dançarina, onde conheceu Januário, por quem se apaixonou, mesmo sendo casado, e
viveram um breve romance.
Após a partida do amado, Tereza conheceu o Doutor Oto, que a levou para
Buquim, onde combateu a epidemia de varíola ao lado das prostitutas da cidade. Tereza
voltou a Salvador e lá soube da morte da mulher de Janu e, em meio à espera pelo
amado, retomou seu antigo ofício. Nesse mesmo tempo, eclodiu a greve do “balaio
fechado”, movimento das prostitutas da Barroquinha, do qual Tereza participou.
Depois, conheceu Almério, com quem quase se casou, após de saber da morte de Janu
num naufrágio; mas, antes da cerimônia, Janu ressurgiu, pois havia escapado do
acidente.
Diversas análises e críticas foram feitas sobre as obras de Jorge Amado.
Dentre elas, podem-se citar os artigos “Representações do feminino”, de Ana Helena
Cizotto Belline e “A prosa de Jorge Amado: expressão de linguagem e de costumes”, de
Ana Elvira Luciano Gebara e Silvia Helena Nogueira.
Em “Representações do feminino” (2008), Belline mostra, por meio das
personagens Lívia, de Mar morto, Tereza, de Tereza Batista cansada de guerra e Tieta,
de Tieta do Agreste, entre outras, que Jorge Amado as apresentava como mulheres à
frente de suas épocas, pois suas personagens superavam os códigos patriarcais
estabelecidos e as injustiças. Apesar de serem levadas a diversas situações servis,
conseguiram ser agentes de seus próprios destinos. Amado levou à ficção, por meio de
suas personagens, um movimento feminista ainda inexpressivo.
Para Belline, no romance Tereza Batista cansada de guerra, a personagem
Tereza Batista, assim como a personagem Tieta, de Tieta do Agreste, torna-se prostituta
porque esse era um aspecto fundamental da ficção de Amado, sobre o qual ele escreveu
em O menino grapiúna:
Que outra coisa tenho sido senão um romancista de putas e
vagabundos? Se alguma beleza existe no que escrevi, provém desses
despossuídos, dessas mulheres marcadas com ferro em brasa, os que
estão na fímbria da morte, no último escalão do abandono [...]
(AMADO apud BELLINE, 2008, p.33)
Esse distanciamento entre as personagens marginalizadas e as personagens
de uma classe social elevada é também um traço marcante nas obras desse autor.
Mais que uma prostituta, Tereza transforma-se em heroína: além de lutar
contra as adversidades impostas, ela também enfrenta uma epidemia de varíola quando
médico e enfermeira fogem da cidade e, com a ajuda das prostitutas, cuida dos doentes.
Na volta a Salvador, à espera de seu amor Januário Gereba, a protagonista continua
como prostituta, pois não quer ser mantida por homens ricos. Conforme a descrição
dessas passagens, Belline vê uma heroína que decide seu próprio destino, e também
constata uma simpatia do narrador pela personagem em diversos outros momentos.
No artigo “A prosa de Jorge Amado: expressão de linguagem e de
costumes” (2008), de Ana Elvira Luciano Gebara e Silvia Helena Nogueira, esses
autores demonstram como Amado retratava os costumes da sociedade baiana em sua
obra em diferentes épocas com humor e ironia, com uma visão otimista de mundo e por
meio de recursos estilísticos expressivos aderentes à multiplicidade temática, como
vozes presentes na narrativa, o discurso indireto e indireto livre e a repetição de palavras
e expressões.
Gebara e Nogueira mostram que em Tereza Batista cansada de guerra há o
ápice da designação, um recurso que, segundo elas, Amado exerce com maestria, pois a
protagonista recebe muitas alcunhas que revelam sua valentia (como “Tereza
Navalhada”, “Tereza Medo Acabou”, “Tereza Corpo Fechado”), a afetividade do
narrador (como em “Tereza dos Sete Suspiros”, “Tereza do Pisar Macio”, “Tereza da
Lua Nova”) e até seu humor (como em “Tereza Pé nos Culhas, o porquê do apelido está
na cara”).
Aproveitando importantes informações apontadas pelos trabalhos citados,
este artigo visa à análise da variação linguística e do regionalismo na obra Tereza
Batista cansada de guerra, de Jorge Amado. Dentre os recursos analisados, serão
apresentadas as variações geográficas em suas relações socioculturais.
As personagens e sua linguagem regionalista
As personagens desse romance foram construídas de maneira a representar o
nordeste brasileiro, nos espaços por elas frequentados, na linguagem utilizada e nas
ações. Antes de tratarmos teoricamente do fenômeno da variação linguística,
apresentamos, a seguir, a descrição de algumas personagens de Tereza Batista cansada
de guerra e alguns exemplos de termos regionais em suas falas, a fim de, na sequência,
compreendermos melhor como a linguagem utilizada por elas é um produto sócio-
histórico-cultural.
Tereza Batista
Tereza Batista pertencia à classe subalterna. Órfã, criada pelos tios, logo é
vendida ao Capitão Justiano, que a faz de escrava sexual, além de explorá-la com
serviços domésticos na fazenda e em seu armazém na cidade. Abandonada e sem
aparato da justiça, Tereza, após dois anos de convivência com o Capitão, na noite em
que foi pega traindo-o com Dan, mata Justiano para defender-se. Doutor Emiliano, que
a queria, leva-a para sua casa em Estância e os dois passam a viver um romance,
período de paz para Tereza; porém, após anos juntos, Emiliano falece. A partir desse
momento, os acontecimentos levam Tereza à prostituição.
No romance, Amado mostra que era comum, naquela época, que se
vendessem filhas e parentes aos coronéis; quando os coronéis “cansavam-se” dessas
meninas, o refúgio para elas eram os bordéis.
A personagem Tereza é representada como uma mulher forte, destemida.
Mesmo passando por diversas situações degradantes, conservou o espírito de mulher
guerreira. Em várias passagens do romance, Amado dá à personagem diversas alcunhas:
“Tereza Navalhada”, “Tereza do Bamboleio”, “Tereza dos Sete Suspiros”, “Tereza
Medo Acabou”, “Tereza do Pisar Macio” (1972, p. 55). Observa-se que o autor não a
olha com preconceitos. Ao contrário, denuncia a realidade sofrida pelas mulheres mais
pobres do sertão nordestino. O escritor cria, assim, uma personagem que luta
insistentemente por seus sonhos, e não se deixa abater pelas mazelas que passou.
O vocabulário que a personagem utiliza no romance mostra não apenas a
mulher nordestina desamparada pela sociedade, pelas autoridades, mas também a
mulher nordestina guerreira que luta pela sua sobrevivência.
Tereza:
- [...] me deixa em paz, não me amole, vá tocar seu realejo noutra freguesia.
(AMADO, 1972, p. 277, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Realejo (sm) Mús. órgão mecânico portátil, acionado por manivela. (BECHARA,
2009, p. 756)
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Januário Gereba
Assim como Tereza, Januário Gereba pertencia à classe subalterna. Era
saveirista (dono e tripulante de saveiro – barco pequeno), mulato, lutador. Conheceu
Tereza Batista em Aracajú. Seu vocabulário reflete a região nordestina e, também, suas
convicções.
Januário era um homem casado, porém sua esposa estava doente. Ele e
Tereza não se envolveram de início devido à condição de Janu, mas logo iniciaram um
romance. Logo seus caminhos se separam, ele com suas embarcações e Tereza com suas
andanças pela região Buquim, Bahia etc. Somente ao final da narrativa ambos voltam a
se encontrar.
Assim como Tereza, mestre Januário é protegido pelos Orixás. Amado
mostra em sua narrativa como a religião do Candomblé é forte entre as classes menos
favorecidas. Em suas falas, a protagonista o chama por “Janu”, “Janu do bem-querer”;
as demais personagens o chamam de Januário Gereba ou mestre Januário.
Januário Gereba:
- Lhe trouxe nessa tropelia para evitar a polícia que polícia não presta nem lá nem aqui,
nem em parte nenhuma. (AMADO, 1972, p. 19, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Tropelia (sf) Estrépito que faz muita gente em tropel; Balbúrdia, bulício.
(MICHAELIS, 2014)
2. Tropelia (sf) Confusão produzida por muitas pessoas em tropel (tumulto).
(BECHARA, 2009, p. 882)
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Capitão Justo
O personagem Capitão Justo, como era chamado, era mais um dos muitos
coronéis de Cajazeiras do Norte, poderoso, dono das próprias leis, amigo de delegados e
juízes, não tão rico como muitos outros, mas o suficiente para fazer-se temido. Amado
caracteriza-o por meio de um dos narradores do romance como Capitão “[...]cujas
armas eram a taça de couro cru, o punhal, a pistola alemã, a chicana, a ruindade; patente
de rico, dono de terra [...]” (1972, p. 8).
A personagem de Justiniano, caracterizada pelo autor com maestria, é a
representação dos coronéis e seus mandos no nordeste brasileiro, por meio de suas ações
e seu vocabulário que, apesar de “baixo”, faz dele um homem respeitado e temido por
toda a região.
Justiniano Duarte da Rosa (Capitão):
- Se não fosse em atenção à família, dava uma lição nesses tabacudos. (AMADO,
1972, p. 78, negrito nosso)
Dicionários de falares
1. Tabacudo - Caipira, jeca. (Dicionário de Baianês - Nivaldo Lariú, 2014)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Tabacudo (adj) Regionalismo (Bahia) Bronco, ignorante; Caipira, matuto.
(MICHAELIS, 2014)
Emiliano Guedes
Emiliano Guedes era a representação do poder, acima da lei, rico, influente
no governo, na magistratura. Era também coronel, dono de muitas terras, banqueiro.
Assim como o Capitão Justo, colecionava mulheres, mas não as tinha com violência, e
sim com o alto prestígio que possuía. Além de desvirginar várias moças, também
cometeu violência com os menos favorecidos. Justiniano tinha inveja do poder e da
riqueza do Doutor Emiliano.
A linguagem da personagem do Doutor Guedes era característica de alguém
com sua alta posição; poucas vezes utiliza palavreado de baixo calão. Amado assim o
descreveu: “[...] doutor Emiliano Guedes, o mais velho dos Guedes da Usina Cajazeiras,
do Banco Interestadual de Bahia e Sergipe, da Eximportex S.A., de tudo isso o
verdadeiro dono — empreendedor, ousado, imperativo, generoso [...]” (1972, p. 196).
Floriano Pereira
Floriano Pereira era dono da casa de Shows Paris Alegre em Aracaju. Fora
administrador de uma companhia de teatros. Apaixonou-se por Alma Castro e passou a
administrar o Grupo Teatral Alma Castro, mas a companhia aos poucos foi ficando
desfalcada. Flori acabou sem o grupo, sem dinheiro e sem a amada. Após os
acontecimentos, teve várias ocupações: foi gerente, sócio, proprietário de cabaré, até
chegar ao Paris Alegre.
Floriano Pereira é representado como um homem batalhador, que não
pertencia à classe subalterna, mas também não pertencia à classe alta. Para ele, as
mulheres poderiam ser conquistadas por dinheiro e posição. Seu vocabulário e suas
ações assim o caracterizam: “[...] aprendera a ser paciente: sendo ele o dono do cabaré e
o empregador da estrela, quem em melhor posição?” (AMADO, 1972, p. 15).
Flori:
- Flori a dar-lhe pressa: compreendo seus escrúpulos, meu doutor de boticão, mas ande
ligeiro, não faça cera, por favor. (AMADO, 1972, p.14, negrito nosso)
Dicionários de falares
1. Ligeiro - Ágil, rápido, veloz. Às pressas. (Dicionário Nordestino - Cacá Lopes, 2014)
2. Fazer Cera - Enrolar, embaçar, demorar a fazer algo, fazer algo lentamente ou
encerar, sacanear. (Dicionário Popular, 2014)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Ligeiro (adj) que é ágil, lépido; superficial ou quase imperceptível; com agilidade.
(BECHARA, 2009, p.557)
3. Boticão (sm) Tenaz para arrancar dentes. (MICHAELIS, 2014)
4. Boticão (sm) instrumento usado pelos dentistas para arrancar dentes. (BECHARA,
2009, p.131)
* Esses vocábulos não aparecem na linguagem corrente na região Sudeste.
Lulu Santos
Lulu Santos, advogado e amigo de Tereza Batista, foi quem, a pedido do
Doutor Emiliano, interveio no caso de Tereza quando acusada da morte do Capitão
Justo. Desde então, tornaram-se amigos.
Lulu era conhecido por sua luta em favor dos menos abastados e pela fama
de mulherengo. Certa vez, entrou na justiça em favor de Joana das Folhas. A negra
senhora havia sido enganada por Libório, agiota e mau caráter, mas ela não havia sido a
primeira vítima.
O vocabulário de Lulu também o caracteriza: “Lulu Santos exalta-se na
narrativa, o tal Libório fazendo-se humilde e perseguido — ah! que vontade de perder o
respeito ao juiz, à sala de audiências e atirar as muletas nas ventas do canalha.”
(AMADO, 1972, p. 25)
Lulu Santos:
- [...] quando ela estiver a roer beira de penico (desculpe mais essa grosseira
expressão de nossa finíssima Veneranda). (AMADO, 1972, p. 44, negrito nosso)
Dicionários de falares
1. Roer beira de penico - Estar em fase ruim da vida, sem dinheiro, desempregado.
(Dicionário de Baianês - Nivaldo Lariú, 2014)
José Saraiva
José Saraiva, poeta, também amigo de Tereza, apesar de doente, tísico, não
abandonava a vida boêmia de Aracaju. Um dos muitos apaixonados por Tereza,
compunha versos à moça, mas permaneceram apenas amigos: “Posso lhe fazer dezenas
e dezenas de poemas, não vou ficar na rabeira de Flori”. (AMADO, 1972, p. 11)
José Saraiva:
- Posso lhe fazer dezenas e dezenas de poemas, não vou ficar na rabeira de Flori.
(AMADO, 1972, p.11, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Rabeira (sf) Ir na rabeira (de) ou estar na rabeira (de): ir atrasado, por último; ir atrás
de, perseguir. (MICHAELIS, 2014)
2. Rabeira (sf) parte traseira; restos de algo; ultima colocação ou posição. (BECHARA,
2009, p. 749)
*Sentido figurado
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Adriana
Adriana era a dona da pensão onde Tereza hospedou-se em Aracaju, amiga
de Lulu Santos e da cafetina Veneranda. A cafetina havia prometido uma comissão a
Adriana caso ela conseguisse fazer com que Tereza aceitasse o trabalho em seu castelo.
Adriana:
- Essas raparigas de hoje são umas estouvadas, não têm juízo [...] (AMADO, 1972, p.
42, negrito nosso)
Dicionários de falares
1. Estouvado - Grosseiro; Estabanado. (Dicionário de Baianês - Nivaldo Lariú,
2014)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Estouvado (adj) Que é estabanado, amalucado. (BECHARA, 2009, p. 379)
Daniel
Daniel, filho de Dona Beatriz e do juiz amigo de Justiniano, não morava em
Cajazeiras no Norte, raramente visitava os pais, mas em uma das visitas conheceu
Tereza.
Daniel conheceu a protagonista em sua visita ao armazém do Capitão Justo
e logo começou a cobiçá-la. A personagem seria mais um de seus caprichos. Como era
um conquistador nato, conseguiu encantar Tereza e os dois tiveram um breve romance.
Assim um dos narradores caracteriza Dan:
Com aquele físico perfeito de gigolô, o ar ambíguo de querubim
libertino, sentimental e vicioso, possuindo todos os conhecimentos
necessários ao nobre ofício [...] lábia fácil, voz sonolenta, mole e
cálida embriagadora. (AMADO, 1972, p. 115)
Daniel:
- [...] sou o melhor chuparino da Bahia [...]. (AMADO, 1972, p. 115, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Chuparino (sm) (v) chupador. (MICHAELIS, 2014)
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Nicolau Ramada Junior
Nicolau Ramada, mais conhecido como Peixe Cação, um dos investigadores
de polícia da Delegacia de Jogos e Costumes, era um policial corrupto; foi um dos
responsáveis pela tentativa de mudança dos bordéis da Barroquinha para a parte baixa
da cidade em casarões inabitáveis, mas a tentativa falhou graças a Tereza e à greve do
“balaio fechado”.
Peixe Cação:
- Foi bom eu saber que ela anda açulando as putas contra a gente [...] (AMADO, 1972,
p. 327, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Açular (v) Incitar a atacar. (BECHARA, 2009, p. 15)
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Detetive Dalmo Garcia
Detetive Dalmo Garcia, por causa de seu vício em drogas, foi apelidado de
Dalmo Coca. Assim como Peixe Cação, também era um policial corrupto, cobrava
propina dos donos de bordéis e negociava drogas. Dalmo Coca também participou
ativamente da tentativa covarde de mudança dos bordéis para a parte baixa da cidade.
Dalmo:
- O detetive Dalmo toma assento, a repetir abobado: — Onde diabo as mulheres se
meteram, oxente? (AMADO, 1972, p. 329, negrito nosso)
Dicionários regulares da Língua Portuguesa
1. Abobado (adj) Apalermado, bobo. (BECHARA, 2009, p. 4)
* Esse vocábulo não aparece na linguagem corrente na região Sudeste.
Dona Eulália Leal Amado
Dona Eulália Leal Amado, mãe de Jorge Amado, aparece no final da
narrativa como uma das narradoras. O autor demonstra, por meio dessa construção, um
grande carinho pela protagonista: “[...] Tereza Batista se parece com o povo e com mais
ninguém. Com o povo brasileiro, tão sofrido, nunca derrotado. Quando o pensam morto,
ele se levanta do caixão.” (AMADO, 1972, p. 362)
A(s) língua(s) que falamos
A vida em sociedade exige uma forma de comunicação e,
consequentemente, é por meio da linguagem que as relações humanas são
desenvolvidas. Dentre as principais formas de linguagem, destaca-se a língua, que tem
caráter social e pode ser estudada, como propôs Saussure. De fato, essa relação entre
língua e sociedade, como propõe Preti, não se dá por
[...] mera casualidade. Desde que nascemos um mundo de signos
linguísticos nos cerca e suas inúmeras possibilidades comunicativas
começam a tornar-se reais a partir do momento em que, pela imitação
e associação, começamos a formular nossas mensagens. E toda a
nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e
comunicação que se realiza fundamentalmente pela língua, o meio
mais comum de que dispomos para tal. (PRETI, 1987, p. 1)
Portanto, dentre os vários sistemas de linguagem de que o homem dispõe
para a comunicação, a língua apresenta-se como o principal mecanismo de interação
humana. Com o avanço dos estudos linguísticos, a língua, objeto de estudo da
Linguística, e sua relação com a sociedade abriram campo para o estudo da
Sociolinguística.
Sendo assim, de acordo com Preti (1987), estudiosos como Willian Labov,
Willian Brigth e outros têm levado à Sociolinguística estudos que os especialistas
americanos chamam de dialeto social, variações da fala de determinada comunidade,
variações essas ligadas a fatores sociais, como grupo étnico, religioso, econômico e
educacional.
Maria Cecilia Mollica (2013), em seu livro Introdução à Sociolinguística –
o tratamento da variação, afirma que todas as línguas são dinâmicas, ou seja,
heterogêneas. Por meio de alternâncias na fala, exemplifica: as formas “Os estudos
sociolinguísticos” e “eles estudam sociolinguística” também podem ser encontradas
como “os estudo sociolinguístico” e “eles estuda sociolinguística”, estando essas
formas relacionadas à presença e à ausência de concordância verbal e nominal. Já as
construções sintáticas: “eu vi ele” e “nós fomos no Maracanã ontem” são formas que se
alternam com “eu o vi ontem” e “nós fomos ao Maracanã ontem”.
Segundo Mollica, essas variações são o objeto de estudo da
Sociolinguística, pois tais alternâncias existem devido a fatores estruturais e sociais, e
devem ser analisadas cientificamente, numa abordagem que considere,
concomitantemente, os aspectos linguísticos e socioculturais.
Marcos Bagno, em seu livro O preconceito linguístico, aponta que vivemos
envoltos em uma série de mitos sobre o português brasileiro: a mitologia do preconceito
linguístico. Isso porque se tem a ideia de que “O português do Brasil apresenta uma
unidade surpreendente” (BAGNO, 2013, p.26), um dos mitos apontados pelo autor.
Segundo Bagno, esse preceito está presente até mesmo em intelectuais de renome,
citando Darcy Ribeiro que, em seu último grande estudo sobre o povo brasileiro, afirma:
É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão
diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais
homogêneos linguística e culturalmente e também um dos mais
integrados socialmente da Terra. Falam uma mesma língua, sem
dialetos. (RIBEIRO apud BAGNO, 2013, p.27).
Decorrente desse mito, temos o não reconhecimento da diversidade do
português falado no Brasil. Nas escolas, há a imposição de uma única norma linguística,
pois, segundo esse preceito, o português brasileiro é igualmente falado por seus mais de
190 milhões de usuários, sendo assim, não sofre influência social, geográfica etc.
Ainda a respeito desse preconceito, Bagno refuta a ideia de que há, no
mundo, uma língua uniforme e heterogênea. Para o linguista, a ideia de um
monolinguismo apresenta-se como uma ficção, uma vez que a língua, por ser viva,
apresenta, além de variações fonológicas, morfológicas, sintáticas, lexicais, variações
regionais, sociais, etárias, estilísticas etc.
Em seu livro já mencionado anteriormente, Preti faz referência a Gadet, e
segundo ele, quando falamos, reproduzimos, segundo os que nos ouvem, nossa
classificação social:
Se um traço difere de um indivíduo para outro, o sociolinguista
procurará responder a três perguntas: esta diferença é ocasional ou
reaparece sistematicamente? É generalizada numa certa situação ou no
interior de um grupo social? Pode-se dar-lhe uma significação social?
(GADET apud PRETI, 1987, p.8-9).
Além dos traços linguísticos, os estudiosos, segundo Gadet, devem
relacionar à pesquisa às variações extralinguísticas, e essas são de três espécies:
1. Geográficas: envolvem as variações regionais e é preciso separá-
las com cuidado, para que as diferenças linguísticas por elas
determinadas não sejam confundidas com aquelas ocorridas por
influência sociológica, numa mesma comunidade.
2. Sociológicas: compreendem as variações provenientes da idade,
sexo, profissão, nível de estudos, classe social, localização dentro
da mesma região, raça, as quais podem determinar traços originais
na linguagem individual.
3. Contextuais: constam de tudo aquilo que pode determinar
diferenças na linguagem do locutor, por influências alheias a ele,
como o assunto, o tipo de ouvinte, o lugar em que o diálogo
ocorre e as relações que unem os interlocutores. (PRETI, 1987, p
09)
Preti (1987, p.11) cita também o linguista português J. G. Herculano de
Carvalho, que apresenta um estudo dividindo as variedades da língua em dois grupos, a
saber:
1. Variedades sincrônicas (ocorridas simultaneamente): geográficas
(regionalismos); socioculturais (classe social, profissão); estilísticas (variações
linguísticas observáveis em um único sujeito, em diversos contextos; constituem
diversas formas linguísticas que se alternam para finalidades específicas – segundo
julgamento do falante – e vêm da necessidade que o falante tem de adequação dessas
variáveis).
2. Variedades diacrônicas: são as variações compreendidas em um dado
plano histórico de estudo. Para Anthony Julius Naro, colaborador no livro Introdução à
Sociolinguística – o tratamento da variação (2004), basta compararmos o português
atual com o português da época medieval que veremos as grandes diferenças em todos
os níveis da língua (no plano semântico, sintático, fonológico, lexical, morfológico etc).
O léxico regional: uma questão sociocultural
O Brasil é um país de imensa dimensão territorial, possui, portanto
diferenças regionais e socioculturais condizentes com o seu tamanho. Entre essas
diferenças, estão as variedades linguísticas, presentes tanto no âmbito regional quanto
no sociocultural.
Maria do Socorro Silva de Aragão, em seu artigo “A linguagem regional –
popular no nordeste do Brasil: aspectos léxicos”, afirma que as diversidades linguísticas
podem ser caracterizadas de um estado para outro ou podem se estender para toda uma
região.
Ana Maria Pinto Pires de Oliveira, em seu artigo “Brasileirismos e
regionalismos”, afirma que a diversidade linguística presente no país é em parte
relacionada ao nosso processo histórico, começando com as mais de 340 línguas faladas
por diversas comunidades aqui existentes antes da chegada dos colonizadores.
Com a chegada dos portugueses, somaram-se às mais de 340 já existentes a
língua portuguesa seguida das línguas africanas – faladas pela população escrava – e
também uma língua desenvolvida para melhor comunicação entre os indígenas, jesuítas
e parte dos portugueses que aqui estavam: a língua geral (SILVA NETO apud
OLIVEIRA, 1963, p. 110) – simples, não possuía declinação nem conjugação – mas
logo foi proibida pelo Marquês de Pombal a pedido da coroa portuguesa.
Segundo Oliveira (1998), esse amalgamento de etnias e suas respectivas
línguas deram origem a diversos falares que passaram a caracterizar o Brasil. Ainda
segundo Oliveira, é no campo do léxico que essa diversidade é melhor retratada, e é por
ele que primeiro se enxergam as mudanças dinâmicas que a língua portuguesa “sofreu”.
Tendo em vista as considerações feitas até aqui, percebe-se que a língua
portuguesa, assim como as demais línguas, não é homogênea, tem suas variedades
socioculturais, etnolinguísticas, regionais etc. Algumas variedades são de cunho
regional, no nível lexical, por exemplo, com termos que encontramos em apenas alguns
estados ou regiões do país.
Aragão afirma que, ao estudar a língua deve-se levar em perspectiva o
contexto histórico social, visto que parte das variações de uma língua não é explicada
linguisticamente. Para a autora (BARBOSA apud ARAGÃO, 1981, p. 158) língua,
sociedade e cultura são indissociáveis. Ao fazer essa afirmação, Aragão mostra que
visões de mundo, ideologias, práticas socioculturais, entre outras, de determinadas
regiões, estão refletidas em seu léxico.
Em seu artigo, Aragão apresenta alguns trabalhos que foram desenvolvidos
a respeito de vocábulos regionalistas: os dicionários, vocabulários e glossários de
falares regionais. Um dos diferenciais dessas publicações é que não foram realizadas
por linguistas ou lexicógrafos, e sim jornalistas, médicos ou pessoas curiosas que
resolveram listar e publicar determinados vocábulos que acreditam ser típicos de certas
regiões do país.
Aragão analisou oito dicionários: Baianês, de Nivaldo Sariú; Alagoanês, de
Elza Cansanção Medeiros; Pernambuquês, de Bertrando Bernardino; Piauiês, de Paulo
José Cunha; Cearês, de Marcus Gadelha; da Paraíba, de Horácio de Almeida; do Rio
Grande do Norte, de Raimundo Nonato; e do Maranhão, de Domingos Vieira Filho.
Nos exemplos abaixo, Aragão observa que alguns vocábulos ocorrem em
mais de um estado:
Abestado - abobalhado, bobo, otário, idiota. (CE, PI). A PB, BA e PE
apresentam a variante abestalhado. Aurélio Buarque registra como
brasileirismo a forma abestalhado.
Aperreado - irritado, agastado, angustiado, contrariado, afobado,
atormentado, cheio de preocupações. (AL, PB, CE, PE). O MA
apresenta a variante Avexado. Aurélio Buarque registra como
brasileirismo.
Arre-égua - interjeição que pode significar qualquer coisa, a depender
do tom de voz e da ocasião: alegria, irritação, surpresa, enfado,
contrariedade. (CE) Há ainda as variantes Ai-égua (AL), Arre-lá (PI),
Arre-Elza e Arre-ema (CE). Aurélio Buarque registra apenas a forma
arre, para designar cólera, enfado.
Assanhada - moça exibida, saliente, namoradeira, avoada, fogosa,
espevitada, sem
compostura, sem termos de gente. (AL, RN, PB, PE). Há, também, o
conceito de despenteada. Aurélio Buarque registra como brasileirismo
(2) irrequieto, buliçoso, turbulento, e como familiar (4) erótico,
namorador.
Dar fé - perceber, observar, dar por si, reparar, tomar tento. (PB, RN,
CE, PI). Aurélio Buarque não registra.
Descansar - dar à luz, parir, ter filho. (BA, AL, PB, RN, CE, PI).
Aurélio Buarque registra como brasileirismo.
Gastura - indisposição estomacal, enjôo, náuseas, sensação de fome,
sensação desagradável produzida pelo tato, audição ou ao sabor. (BA,
AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA). Aurélio Buarque registra como
brasileirismo.
Inticar - ter prevenção ou má vontade contra alguém, implicar,
provocar, ficar de marcação. (BA, AL, PB, RN, PI). Aurélio Buarque
registra como provincianismo lusitano e açoriano, forma enticar.
(ARAGÃO, 2014, p. 2-3)
Alguns dos vocábulos acima são encontrados em mais de um estado,
sendo específicos de toda região nordeste, formas populares nessas regiões.
No artigo, também foram encontrados vocábulos específicos de
determinados estados:
Dicionário do Baianês: Abafa banca - espécie de picolé caseiro;
Arabaca - carro velho; Bibiano – lamparina.
Dicionário de Alagoanês: Abaferro – trabalho intenso; Bulutrica –
algo incompreensível; Cafinfa – pessoa impertinente, ranzinza.
Dicionário de Pernambuquês: Alfenim – pessoa de modos delicados;
Buruçu – confusão; Ferrolho - homem fiel a uma mulher.
Dicionário Paraibano: Acender a venta – farejar vantagens; Bacalhau
– mulher alta e magra; Caixa dágua – cachaceiro, beberrão.
Calepino Potiguar: Café de parteira – café frio, choco; Dizer missa –
encher o tempo com conversa fiada; Espingarda – concubina,
amancebada.
Dicionário do Ceares: Carne de tetéu – pão duro; Chapéu de touro –
chifre; Fuampa – mulher da vida.
Dicionário do Piauiês: A caldo de pinto – chateado, irritado; Cismar
da boneca – teimar; Furupa – farra, algazarra;
Dicionário do Maranhão: Agafe – alfinete de segurança; Lençol – mau
pagador; Maranha – lábia, falácia. (ARAGÃO, 2014, p. 3-4)
A análise feita pelos dicionários regionais mostra que a maioria dos
vocábulos presentes em alguns estados do norte/nordeste se repete por toda a região,
mas alguns são específicos de determinados estados. Para Aragão, as diferenças
diatópicas não são tão significativas quanto as grandes diferenças no léxico da Língua
Portuguesa no Brasil.
As variações regionais não se dão apenas no campo lexical, elas ocorrem
também nos níveis: fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e estilístico-
pragmático. Maria Cecília Oliveira Menezes em seu Trabalho de Conclusão de Curso
“Variação lingüística: análise de uma comunidade de São Sebastião” discorre sobre
alguns desses níveis de variação regional. No nível fonético-fonológico, Menezes
afirma que uma palavra pode ser pronunciada por diversos modos, por exemplo: “titia”
e “oito” na região sudeste são pronunciadas como “tsitsia” (palatização - TI) e “oitu”, já
na região nordeste a pronúncia ocorre de forma diferente: “titia” (aveolar) e “oitsu”
(palatização - TU).
No nível morfológico estão as formas constituintes das palavras, que podem
sofrer alterações na fala e na escrita. Menezes exemplifica com as formas “pegajoso” e
“peguento”: as palavras têm o mesmo significado, mas constituem-se de sufixos
díspares. Na variação linguística, existem diversas outras palavras classificadas como
variação em nível morfológico. Alguns exemplos são: encontremo, pensemo sem o “s”,
na variante popular; aldeãos e verãos em oposição a aldeões e verões; morto ou matado
- casos de duplo particípio – acrescentando o sufixo - ado; entre outros.
Menezes apresenta inclusive as variações no campo da sintaxe. Os exemplos
mais encontrados referem-se à posição dos termos em determinada sentença, mas essas
variações podem ocorrer também nos casos de concordância nominal e verbal. Menezes
cita o uso do pronome “me” no Brasil e em Portugal: “dê-me um cigarro”, usado em
Portugal, e “me dá um cigarro”, usado no Brasil; no português brasileiro – norma
padrão - os pronomes oblíquos não são utilizados no início de frases, porém na fala de
diversas comunidades a construção “me dá um cigarro” é usual.
Ainda no campo da sintaxe, há outros exemplos dessa variação, em
construções como: “eu encontrei ele ontem”, ao invés de “eu o encontrei”; “a menina
que eu falei dela”, ao invés de “a menina de quem falei”; e também as variações de
concordância verbal e nominal: “nós era feliz”, ao invés de “nós éramos felizes”; “as
mulher é bonita”, ao invés de “as mulheres são bonitas”. Essas variações não constam
apenas nos diversos falares regionais, são encontradas também na fala popular.
Os campos semântico e estilístico-pragmático apresentam respectivamente o
significado que uma mesma palavra pode obter em regiões diferentes. Como exemplo,
Menezes apresenta a palavra “ata”, que pode significar uma fruta ou um tipo de ofício, e
também a palavra “vexame”, que pode significar pressa ou vergonha. Essa variação
depende principalmente da origem regional do falante. Já no nível estilístico-pragmático
encontramos as variações referentes ao ambiente (formal ou informal), grau de
intimidade entre os falantes e ouvintes, sendo que o mesmo indivíduo pode utilizar a
língua de diversas formas em situações díspares. Menezes cita como exemplo as
expressões “por favor, abram o livro” e “abre o livro logo!”, em que se identifica um
maior e um menor grau de formalidade. Na segunda expressão observa-se um alto grau
de intimidade.
Nos exemplos das diversas variações apresentadas por Menezes, conclui-se
que algumas dessas variações não são apenas regionais, são também ligadas à fala
popular. Para a autora
“Não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja
intrinsecamente ‘melhor’, ‘mais pura’, ‘mais bonita’, ‘mais correta’
que outra. Toda variedade lingüística atende às necessidades da
comunidade de seres humanos que a empregam”. (BAGNO apud
MENEZES, 1999, p.47)
A linguagem como reflexo da condição social das personagens
Tereza Batista, Januário Gereba, Capitão Justiniano Duarte da Rosa,
Emiliano Guedes, Floriano Pereira, Lulu Santos, poeta José Saraiva, Adriana, Daniel,
Nicolau Peixe Cação, detetive Dalmo Coca e Eulália Leal Amado são alguns dos
personagens do romance Tereza Batista cansada de guerra cujo vocabulário foi
utilizado como referência para a linguagem regionalista encontrada na obra.
As variações existentes nas diversas culturas não são observáveis em um
único nível. Portanto, as variações linguísticas regionais coexistem com as
socioculturais, estilísticas, dentre outras. As personagens acima descritas conjugam em
si, na linguagem, nos costumes, tradições, esses diversos tipos de variação.
Tereza Batista, Januário Gereba e Adriana pertencem a uma classe social
desfavorecida. Assim, seu vocabulário é bastante distante da norma padrão da língua
portuguesa. Expressões populares são utilizadas com grande frequência, com amplo uso
de vocábulos regionais. Alguns exemplos são: “Pois corra dentro.” (AMADO, 1972,
p.12, negrito nosso), da fala de Tereza Batista; “ Oxente, vamos descarregar ele aqui
mesmo, de uma vez para sempre. Era ruim, vai com os cações, raça de peixe
desgraçada. Assim, tu fica livre dele.” (AMADO, 1972, p. 367, negrito nosso), da fala
de Januário Gereba; e “Essas raparigas de hoje são umas estouvadas, não têm juízo
[...]” (AMADO, 1972, p. 42, negrito nosso), da fala de Adriana.
Lulu Santos e Floriano Pereira são personagens pertencentes a uma classe social
com certo prestígio, ainda que não seja a classe dominante. Portanto, o vocabulário
utilizado por esses personagens tende a ser mais formal, modificando-se conforme o
meio em que se encontram. Alguns exemplos são: “Quem? Dona Carmelita Mendonça,
ela o disse aqui, há pouco, sob juramento.” (AMADO, 1972, p. 7, negrito nosso), da
fala de Lulu Santos; e “Compreendo seus escrúpulos, meu doutor de boticão, mas
ande ligeiro, não faça cera, por favor.” (AMADO, 1972, p.14, negrito nosso), da
personagem Floriano Pereira.
Nicolau Peixe Cação e detetive Dalmo Coca são representações de parte do
corpo policial nordestino. Pertencem a uma classe social de prestígio, porém são ligados
à corrupção. O vocabulário dessas personagens se alterna entre termos específicos da
profissão e palavreado torpe, além de termos depreciativos utilizados contra as mulheres
da Barroquinha. Como exemplos, temos: “Foi bom eu saber que ela anda açulando as
putas contra a gente [...]” (AMADO, 1972, p. 327, negrito nosso), da fala de Nicolau
Peixe Cação; e “Quem falou em figas e berimbaus? Falo de uns cigarrinhos...”
(AMADO, 1972, p. 296, negrito nosso), da fala de detetive Dalmo.
Doutor Emiliano Guedes e Capitão Justiniano são as personagens de classe
social mais elevada do romance. O vocabulário utilizado pelos dois, no entanto, se
difere. Emiliano tem um poder aquisitivo maior que o que Capitão Justo. Além disso,
possui escolaridade de nível superior, portanto, seu vocabulário é mais próximo do que
prescreve a língua portuguesa padrão. Justiniano, por sua vez, possuía o título de
capitão por ser dono de muitas terras, por ser um homem rico, não por seu nível escolar.
Logo, sua linguagem era vulgar, com a utilização de termos depreciativos no trato com
outras pessoas, principalmente quando se referia a mulheres. Alguns exemplos são:
“Quem diria, uma senhora tão distinta.” (AMADO, 1972, p. 109, negrito nosso), da
personagem Emiliano Guedes; e “[...] tu quer brincar de picula comigo [...]?”
(AMADO, 1972, p. 91, negrito nosso), da fala de Capitão Justiniano.
Por meio do estudo realizado concluímos, então, que dentro da linguagem
regional há outros níveis de variações linguísticas; as personagens com alto prestígio
social, por exemplo, utilizavam um vocabulário mais próximo da língua portuguesa
padrão, ainda que em determinados contextos pudessem utilizar uma linguagem
informal (variação estilístico-pragmática); já as personagens marginalizadas pela
sociedade, as mulheres da Barroquinha, por exemplo, possuíam um vocabulário
amplamente popular e por vezes vulgar (variação sociocultural). O sistema patriarcal
ainda vigente é uma das denúncias que Amado evidencia no romance. Por meio da obra,
essa realidade é retratada tanto nos acontecimentos da narrativa quanto nas palavras
utilizadas pelas personagens como caracterização das mulheres, principalmente as
“mulheres da vida”, e os termos depreciativos são comumente observados. Por meio da
linguagem, o fator regional é tão evidenciado quanto o fator social.
Considerações finais
O estudo do vocabulário da obra Tereza Batista cansada de guerra
proporcionou um maior conhecimento da linguagem utilizada na região nordeste do
Brasil, bem como da identidade cultural e das tradições do povo nordestino.
A pesquisa sobre a variante regional permitiu o reconhecimento social e
transformacional, pois pudemos inferir que determinados vocábulos encontrados na
obra, hoje, podem não ser mais utilizados, já que a língua é dinâmica e viva. O léxico
nos revela uma gama cultural que é facilmente reconhecida pelo leitor perspicaz.
A linguagem utilizada na obra permeia as personagens de maneira a
caracterizá-las, possibilitando inferir que as camadas sociais menos favorecidas utilizam
um vocabulário popular e, por vezes, vulgar, como reflexo do meio em que vivem e do
tratamento que a sociedade lhes dá.
Por fim, concluímos que a obra dá voz às camadas populares tanto pelo seu
papel social quanto por seu vocabulário. Portanto, pode-se afirmar que, com Tereza
Batista cansada de guerra, Jorge Amado nos oferece um fiel retrato da sociedade e das
mazelas e lutas vividas pelos menos favorecidos, exaltando o povo nordestino por meio
de uma linguagem viva, enriquecendo a literatura nacional, recheada de uma cultura e
tradição tão ricas.
Referências bibliográficas
AMADO, Jorge. Tereza Batista cansada de guerra. Bahia: Livraria Martins Editora,
1972. Digitalização: argo_3_nauta.
ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. A linguagem regional – popular no nordeste
do Brasil: aspectos léxicos. Disponível em
<http://www.profala.ufc.br/Trabalho2.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
BAGNO, Marcos. O preconceito linguístico. 55. ed. São Paulo: Loyola, 2013.
BECHARA, Evanildo. Minidicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
BELLINE, Ana Helena Cizotto. Representações do feminino. In: GOLDSTEIN, Norma
Seltzer (Org.). A literatura de Jorge Amado: orientações para o trabalho em sala de
aula. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. (Cadernos de Leitura, Coleção Jorge
Amado).
BRANDÃO, Elias Canuto (Org.). Dicionário Popular.
Disponível em <http://dicionariopopular.blogspot.com.br/>. Acesso em: 09 nov. 2014.
Dicionário Michaelis Online
Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 27 out. 2014
Dicionário Nordestino online
Disponível em <http://www.cacalopes.com.br/cultura-popular/dicionario-nordestino/>.
Acesso em: 21 abr. 2014.
GEBARA, Ana Elvira Luciano; NOGUEIRA, Silvia Helena. A prosa de Jorge Amado:
expressão de linguagem e de costumes. In: GOLDSTEIN, Norma Seltzer (Org.). A
literatura de Jorge Amado: orientações para o trabalho em sala de aula. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008. (Cadernos de Leitura, Coleção Jorge Amado).
GUIDIN, Márcia Lígia. Modernismo no Brasil - o início: Das vanguardas europeias
à Semana de Arte Moderna. Especial para a Página 3 Pedagogia & Comunicação.
Disponível em
<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/modernismo-no-brasil---o-inicio-das-
vanguardas-europeias-a-semana-de-arte-moderna.htm>. Acesso em: 01 nov. 2014
LARIÚ, Nivaldo. Dicionário de Baianês. Edição on-line. 2011.
Disponível em <http://www.folderpark.net/baianes/>. Acesso em: 22 out. 2014.
MAGALHÃES, Carlos Augusto; MACEDO, Taise Teles Santana de. O sertão e a
narrativa literária em Teresa Batista cansada de guerra de Jorge Amado: espaços
de memória. 2009. 6 f. TCC (Graduação) - Curso de Letras Vernáculas, Faculdade de
Comunicação/UFBa, Salvador, 2009.
MENEZES, Maria Cecília Oliveira. Variação linguística: análise de uma
comunidade de São Sebastião. 2007. 74 f. TCC (Graduação) - Curso de Letras,
Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. Disponível em
<http://sociolingustica.blogspot.com.br/2007/10/variao-lingstica-anlise-de-uma.html>.
Acesso em: 09 nov. 2014.
MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (Org.). Introdução à
sociolinguística - O tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2004.
OLIVEIRA, Ana Maria Pinto Pires de. Brasileirismos e regionalismos. Alfa, São Paulo,
v. 42, p.109-120, 1998. Disponível em
<http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/4046/3710>. Acesso em: 09 nov. 2014.
QUEIROZ, Rita de Cássia Ribeiro de. O vocabulário regional de Jorge Amado em
Terras do sem fim. Cadernos do Cnlf, S.l., v. XVI, n. 04, p.1024-1030, 2012.