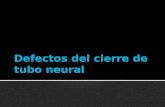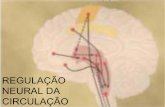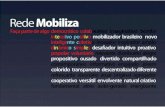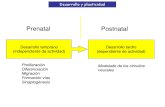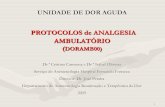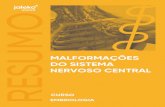A MOBILIZA˙ˆO NEURAL DOS MEMBROS SUPERIORES E A...
Transcript of A MOBILIZA˙ˆO NEURAL DOS MEMBROS SUPERIORES E A...
0
RODRIGO FELIX SCHMIDT
A MOBILIZAÇÃO NEURAL DOS MEMBROS SUPERIORES E A SUA
INFLUÊNCIA NA FLEXIBILIDADE GLOBAL
Tubarão, 2005
1
RODRIGO FELIX SCHMIDT
A MOBILIZAÇÃO NEURAL DOS MEMBROS SUPERIORES E A SUA
INFLUENCIA NA FLEXIBILIDADE GLOBAL
Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Curso de Fisioterapia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Fisioterapia. Universidade do Sul de Santa Catarina
Orientador Professor Esp. Ralph Fernando Rosas
Tubarão, 2005
2
RODRIGO FELIX SCHMIDT
A MOBILIZAÇÃO NEURAL DOS MEMBROS SUPERIORES E A SUA
INFLUENCIA NA FLEXIBILIDADE GLOBAL
Este trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado à obtenção do grau de Bacharel em Fisioterapia e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Fisioterapia. Universidade do Sul de Santa Catarina
Tubarão, 21 de novembro de 2005.
__________________________________ Prof. Esp. Ralph Fernando Rosas
Universidade do Sul de Santa Catarina
__________________________________ Prof. Msc. Paulo Madeira
Universidade do Sul de Santa Catarina
__________________________________ Prof. Esp. Aderbal da Silva Aguiar Júnior
Universidade do Sul de Santa Catarina
3
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho primeiramente a Deus e a minha
família pelo apoio concedido durante este período
que ora se encerra, em especial dedico este trabalho
ao meu finado pai que com certeza olhou por mim e
guiou-me pelo caminho certo, e é a razão pela qual
eu chego ao fim dessa jornada.
4
AGRADECIMENTOS
Novamente agradeço a minha família por ter me dado o suporte necessário para
realização deste grande sonho. Agradeço ao meu orientador, Ralph, o qual não mediu esforços
na execução do presente trabalho, as acadêmicas que despenderam de seu tempo para
participar do estudo. Em especial agradeço também aos companheiros de trabalho, Diogo
�pontos gatilhos�, Fernando �hihi�, e Igor �assolan�, que fizeram parte de minha vida nesse
último ano e com qual a convivência foi muito agradável. Queria agradecer a todos os amigos
que pude fazer durante a faculdade, e que saudoso já estou em pensar em nossa partida.
5
�Ando devagar porque já tive pressa e levo esse
sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais
forte, mais feliz quem sabe, e só levo a certeza de
que muito pouco eu sei, ou nada sei.�
Almir Sater
6
RESUMO
A mobilização neural tem se mostrado de grande valia no tratamento das desordens musculoesqueléticas, restaurando a mobilidade do sistema nervoso periférico (SNP) nos segmentos corporais afetados e diminuindo o quadro álgico do paciente. Poucos estudos esclarecem a influência da mobilidade do SNP na flexibilidade, sendo esta a proposta do estudo, verificando a relação entre a mobilização do nervo mediano através do ULTT1 e a amplitude de movimento de flexão do quadril, por meio do teste de finger-floor. A amostra se constituiu de 37 mulheres com idade entre 18 e 22 anos, divididas em 3 grupos: mobilização neural (G 1), alongamento de flexores do punho (G 2) e um grupo de controle (G 3). As participantes do G 1 foram submetidas ao ULTT1 bilateral durante um minuto, enquanto as participantes do G 2 tiveram os músculos flexores de ambos punhos alongados durante um minuto, as participantes do G 3 permaneceram sem intervenção durante o mesmo período, sendo todas submetidas ao re-teste posteriormente. O G 1 teve aumento da flexibilidade com significância estatística (p> 0,05), constatado mediante o teste de finger-floor e análise através do teste de Wilcoxon para amostras dependentes. Os grupos G 2 e G 3 também tiveram melhoria da flexibilidade no re-teste, contudo não foram significantes estatisticamente. O estudo verificou que a atenuação da tensão neural adversa é um fator relevante para a melhoria da flexibilidade.
Palavras-chave: mobilização neural, nervo mediano, flexibilidade.
7
ABSTRACT
Neural mobilization has been showed as a valuable role in the treatment of the musculoskeletal disorders, restoring the mobility of the peripheral nervous system (PNS) in impaired corporal segments and reducing the patient's pain. Few studies explain the influence of the mobility of PNS in the flexibility, being this the purpose of the study, verifying the relationship among the mobilization of the median nerve through ULTT1 and the movement of hip flexion, through the finger-floor test. The sample was constituted of 37 women with age between 18 and 22 years, divided in 3 groups: neural mobilization (G 3), wrist flexors stretch (G 2) and a control group (G 1). The G 1 participants were submitted to bilateral ULTT1 during one minute, while the G2 participants had the flexors muscles of both wrist stretched during one minute, the g 3 participants stayed during the same period without intervention, being all submitted to the retest later. G 1 had increase of the flexibility with significantly statistical (p> 0,05), verified by the finger-floor test and analysis through Wilcoxon test for dependent samples. The groups G 2 and G 3 also had improvement of the flexibility in the retest, however they were not significant. The study verified that the reduction of the neural adverse tension is a relevant factor for the improvement of the flexibility. Key Words: neural mobilization, median nerve, flexibility.
8
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................11
2 A MOBILIZAÇÃO NEURAL E A FLEXIBILIDADE .............................................14
2.1 O sistema nervoso periférico....................................................................................14
2.2 O neurônio ................................................................................................................14
2.2.1 O axônio .................................................................................................................15
2.2.2 O epineuro, perineuro e endoneuro..........................................................................16
2.3 Circulação do sistema nervoso periférico................................................................17
2.4 Os nervos espinhais ..................................................................................................18
2.5 O Plexo braquial.......................................................................................................19
2.6 O Quadril..................................................................................................................20
2.7 Os Músculos .............................................................................................................20
2.8 A Flexibilidade .........................................................................................................22
2.8.1 Definição ................................................................................................................22
2.8.2 Fatores que afetam a flexibilidade ...........................................................................22
2.9 A técnica de mobilização neural ..............................................................................23
2.10 A mobilização neural nos MMSS...........................................................................26
2.10.1 ULTT1 - Nervo mediano dominante utilizando abdução de ombro ........................28
9
2.10.2 ULTT2a - Nervo mediano dominante utilizando depressão da cintura escapular e
rotação externa do ombro.................................................................................................32
2.10.3 ULTT2b - Nervo radial dominante utilizando depressão da cintura escapular e rotação
interna do ombro..............................................................................................................32
2.10.4 ULTT3 - Nervo ulnar dominante utilizando abdução do ombro e flexão do cotovelo33
2.11 O teste de finger-floor/teste da distância entre a ponta dos dedos e o chão .........33
2.11.1 Procedimento ........................................................................................................33
2.11.2 Avaliação ..............................................................................................................34
3 DELINEAMENTO DA PESQUISA...........................................................................36
3.1 Tipo de pesquisa .......................................................................................................36
2.11.1 Quanto à abordagem..............................................................................................36
2.11.1 Quanto ao nível .....................................................................................................36
2.11.1 Quanto ao procedimento utilizado na coleta de dados ............................................37
3.2 População/amostra ...................................................................................................37
3.3 Instrumentos utilizados para coleta de dados .........................................................38
3.4 Procedimentos utilizados na coleta de dados ..........................................................38
3.5 Procedimentos para análise e interpretação de dados ............................................39
4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS.......................................40
4.1 Apresentação e análise dos resultados .....................................................................40
4.2 Discussão...................................................................................................................44
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................51
REFERÊNCIAS ............................................................................................................52
10
APÊNDICES .................................................................................................................55
APÊNDICE A � Termo de Consentimento Livre e Esclarecido........................................56
APÊNDICE B � Ficha de Avaliação ................................................................................58
11
1 INTRODUÇÃO
A fisioterapia, em linhas gerais, traduz-se como a cura através do movimento.
Existem inúmeros fatores que possibilitam a realização de um movimento, contudo muitas
vezes algumas estruturas acabam limitando o mesmo e cabe à fisioterapia atuar na melhoria
destas estruturas.
Por muito tempo pensou-se que o movimento era efetuado somente através dos
ossos e músculos, cabendo ao sistema nervoso sua formulação e condução de estímulos.
Entretanto, há algumas décadas percebeu-se que o sistema nervoso, com suas propriedades
histológicas, desempenha também uma função mecânica e não somente fisiológica.
Como a ciência sempre busca novos caminhos e renova-se sempre, a mobilização
neural permanece obscura para muitos profissionais na área de fisioterapia ortopédica, sendo
necessárias maiores pesquisas mostrando sua validez como medida fisioterapêutica.
A técnica de mobilização neural é realizada através de movimentos oscilatórios ou
brevemente mantidos direcionados aos nervos periféricos e/ou medula espinal
(MARINZECK, 2004).
A mobilização neural tem por objetivo restaurar a mobilidade natural do sistema
nervoso como método alternativo e eficaz para a cura de diversas patologias
musculoesqueléticas, possibilitando o funcionamento normal. Observando o fato de que a
patologia do sistema nervoso leva a alterações nas estruturas dependentes do mesmo, conclui-
12
se que uma tensão, causando a melhora da mecânica neural, traz benefícios para todas as
funções do sistema nervoso e musculoesquelético.
De acordo com Butler (2003) o sistema nervoso é contínuo e a falta de mobilidade
neural em algum segmento corporal transmite-se por todo o sistema e causa limitação em
diferentes articulações e movimentos. Como conseqüência da restauração da mobilidade
nervosa em um segmento corporal, ocorre o alívio da tensão do sistema e o aumento da
mobilidade corporal.
A mobilização neural dos membros superiores (MMSS) são denominados de
ULTT (Upper Limb Tension Tests) com sentido terapêutico pode ser feita através de quatro
manobras distintas, sendo que no presente estudo abordar-se-á o ULTT1, usado para o nervo
mediano.
Há muito tempo culpam-se as retrações de grupos musculares como limitantes de
um dado movimento. Quando a flexibilidade muscular era expressiva e a amplitude de
movimento (ADM) não era satisfatória, o crédito da limitação era dado a componentes
articulares, como os contornos irregulares e restrições ligamentares.
Segundo Butler (2003), em qualquer distúrbio neuro-ortopédico é impossível que
haja apenas uma estrutura envolvida. Presume-se então que o perfeito estado de todas as
estruturas que envolvam o movimento possibilite uma grande ADM. A mobilização neural
permite uma melhor mobilidade corporal, pois o estímulo mecânico que esta técnica produz
transmite-se por todo o sistema, permitindo uma melhor adaptação do sistema nervoso aos
movimentos realizados, desde que a técnica seja bem aplicada.
A justificativa de se fazer o estudo está baseado nas informações de que a tensão
neural adversa é um componente que limita o movimento, e, portanto a sua diminuição levaria
a uma melhora da mecânica neural, permitindo maior ADM.
13
Para tanto, o presente estudo pretende analisar a eficácia da técnica de
mobilização neural na ADM de flexão de quadril, verificar a melhoria da flexibilidade no pré-
teste e pós-teste através das diferentes técnicas aplicadas, elucidar a técnica de mobilização
neural através do ULTT1, comparar a mobilização neural frente ao alongamento de flexores
de punho, comprovar a transmissão de estímulo de tensão pelo sistema nervoso periférico e
verificar a existência de correlação entre o índice de massa corporal e o resultado e a
temperatura ambiente com o resultado.
Dessa maneira o estudo pretende mensurar a eficácia da mobilização neural como
medida através da indagação: existe correlação entre a mobilização neural dos membros
superiores através do ULTT1 e a flexibilidade global?
A fim de responder a esse questionamento, o presente estudo relacionará a
mobilização neural dos MMSS com a flexibilidade global, por meio do teste de finger-floor.
O presente estudo se divide em cinco capítulos, sendo o segundo discorrendo
acerca do tema, o terceiro sobre o delineamento da pesquisa o quarto para atentar aos
resultados, análise e discussão dos dados e o quinto contendo as considerações finais.
14
2 A MOBILIZAÇÃO NEURAL E A FLEXIBILIDADE
2.1 O sistema nervoso periférico
As duas divisões estruturais do sistema nervoso são o sistema nervoso central
(SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). O SNC consiste do cérebro e da medula
espinhal; o SNP consiste de 43 pares de nervos, que se originam da base do crânio e da
medula espinhal (WATKINS, 2001).
O autor afirma que doze dos pares de nervos originam-se da base do crânio e são
chamados de nervos cranianos, os outros 31 pares originam-se da medula espinhal e são
chamados de nervos espinhais. Gardner e Bunge (apud BUTLER, 2003) citam que o SNP é
tradicionalmente definido em termos anatômicos como os nervos cranianos, exceto o nervo
óptico, e mais os nervos espinhais com suas raízes e ramos e os componentes do sistema
nervoso autônomo.
2.2 O neurônio
O sistema nervoso consiste de neurônios que conduzem impulsos elétricos
rapidamente através do corpo para coordenar funções biológicas essenciais.
Eles podem diferir em tamanho e formato, contudo, todos possuem três características comuns: um corpo celular, processos de comprimento variável que
15
se estendem a partir do corpo celular e locais especializados para comunicação com outros neurônios, com receptores especializados como os da dor ou com efetores especializados como as placas motoras terminais no músculo. (WATKINS, 2001 p. 229).
Os processos que se estendem a partir dos corpos celulares dos neurônios são
chamados de fibras nervosas que variam de alguns milímetros até a mais de um metro de
comprimento, podendo ser denominadas de dendritos e axônios. Os últimos conduzem
impulsos para longe do corpo celular, enquanto os primeiros conduzem impulsos em direção
ao corpo celular (WATKINS, 2001). Alter (1996) alega que os axônios comumente
transmitem impulsos eferentes, para longe do corpo celular, mas podem transmitir impulsos
em qualquer direção.
Todas as fibras nervosas do SNP são envolvidas por células de Schwann, que dão
suporte mecânico para os axônios.
Essas células produzem, ao redor de algumas fibras, uma substância gordurosa chamada de mielina, que é depositada as redor das fibras como uma bainha com multicamadas de mielina. A bainha tem a forma de um espiral com até cem camadas espaçadas regularmente de mielina, separadas por dobras de membrana de células de Schwann. (WATKINS, 2001 p. 230).
2.2.1 O axônio
Os axônios são mielinizados ou amielinizados e são agrupados em feixes ou
fascículos, sendo conhecidos como fibras nervosas. O citoplasma de um neurônio é conhecido
como axoplasma e flui no interior e ao redor de um sistema de microtúbulos e
neurofilamentos dentro do axônio (BUTLER, 2003).
Cada axônio é envolto por células de Schwann no caso de serem pertencentes a
fibras mielínicas. Nas fibras amielínicas uma célula de Schwann envolve alguns axônios, nas
fibras mielínicas a proporção é de 1:1. Nódulos de Ranvier interrompem a continuidade da
16
bainha, fazendo com que a condução de estímulos seja rápida, visto que o potencial de ação
salta de um nódulo para o próximo (BUTLER, 2003). Watkins (2001) complementa que os
nódulos de Ranvier facilitam a troca intercelular entre as fibras nervosas e o fluido
extracelular circundante, o que é importante para a nutrição da fibra nervosa e para a
transmissão de impulsos ao longo dessa fibra.
Butler (2003) afirma ainda que as fibras nervosas estão adaptadas para suportar
forças tensionais e compressíveis. Este fato ocorre pelo fato do axônio percorrer um curso
ondulatório nos túbulos endoneurais, permitindo assim distensão.
Três tipos de fibras nervosas percorrem o nervo periférico, fibras motoras,
sensitivas e autônomas. No caso do nervo mediano, direcionado à extremidade superior, há o
predomínio de fibras autônomas (BUTLER, 2003).
2.2.2 O epineuro, perineuro e endoneuro
Os nervos têm três revestimentos de tecido conjuntivo separados: o epineuro, o
perineuro e o endoneuro. As funções básicas dos revestimentos do tecido conjuntivo são
fornecer suporte estrutural para o nervo periférico e contribuir para a elasticidade, permitindo
que o nervo seja estendido durante o movimento corporal. Alguns dos revestimentos ainda
servem como uma barreira nervosa de sangue que protege a fibra nervosa de vários agentes
nocivos, limita a penetração de macromoléculas e pode controlar a passagem de íons, além de
separar e dividir as fibras nervosas (ALTER, 1996).
O epineuro é a camada mais externa, fibrosa e é formada por tecido conjuntivo
denso. Contém fibras de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e algumas fibras nervosas que
inervam os vasos. Seus componentes principais são as fibrilas de colágeno orientadas
preferencialmente no sentido longitudinal e há presença de fibras elásticas (ALTER, 1996). O
17
epineuro tem a função de proteção mecânica contra compressões e de facilitar o deslizamento
entre os fascículo, uma adaptação necessária ao movimento (BUTLER, 2003).
O perineuro se estende profundo dentro do epineuro e reveste separadamente cada
feixe de fibras nervosas. É uma barreira para a passagem de macromoléculas, as fibrilas de
colágeno são mais finas e contém poucas fibras elásticas dispersas (ALTER, 1996). Lundborg
(apud BUTLER, 2003) cita os papéis do perineuro: proteger os conteúdos dos tubos
endoneurais; agir como barreira mecânica a forças externas; servir como uma barreira de
difusão, mantendo certas substâncias fora do meio intrafascicular.
O endoneuro representa o revestimento mais profundo e envolve cada fibra
nervosa individualmente. Consiste de uma fina camada de fibrilas de colágeno semelhantes
em diâmetro e orientação às do perineuro (ALTER, 1996). O tubo endoneural circunda a
membrana basal. Tem a função básica de manter o espaço endoneural e pressão fluida.
Protege os axônios contra forças tensionais, graças à orientação fibrilar colagenosa ser
essencialmente longitudinal. A percentagem de endoneuro é particularmente maior em nervos
cutâneos, devido à constante tração (BUTLER, 2003).
2.3 Circulação do sistema nervoso periférico
O sistema nervoso consume 20% do oxigênio disponível na circulação sangüínea,
contudo representa apenas 2% da massa corporal. Um suprimento vascular ininterrupto é vital
para a demanda metabólica da função neuronal normal. O suprimento sangüíneo do sistema
nervoso é bem preparado para garantir que o fluxo sangüíneo esteja desimpedido em todas
posturas dinâmicas e estáticas (BUTLER, 2003).
O SNP tem um suprimento equivalente, ou melhor, do que o SNC. O arranjo
vascular está desenvolvido para manter um fluxo ininterrupto, independente da posição do
18
nervo em relação aos tecidos circundantes. Em geral, os vasos nutridores penetram no SNP
onde não há nenhum ou o mínimo movimento, permitindo um fluxo contínuo, citando como
exemplo o cúbito para os nervos mediano e radial. Se parte do sistema nutridor ficar ocluído,
o suprimento intrínseco também é suficiente para suprir as necessidades das fibras nervosas
(LUNDBORG apud BUTLER, 2003).
O alongamento e compressão afetam a circulação nervosa. O alongamento reduz o
diâmetro dos vasos longitudinais, aumentando a pressão intrafascicular e talvez resulte em
compressão fechando os vasos que cruzam o perineuro. A interrupção do fluxo sangüíneo
inicia em aproximadamente 8% de alongamento e a parada completa ocorre em torno dos
15% (BUTLER, 2003).
2.4 Os nervos espinhais
Segundo Spence (1991), os nervos espinhais deixam o canal vertebral através dos
forames intervertebrais, sendo que na coluna cervical os pares de nervos emergem acima da
vértebra com qual eles são relacionados, e o oitavo par emerge entre a sétima vértebra
cervical e a primeira torácica.
Logo após passar pelo forame intervertebral, cada nervo espinhal se divide em
dois ramos: um dorsal e outro ventral. Os ramos dorsais se dirigem posteriormente para
inervar a pele e a musculatura do dorso, e os ramos ventrais, mais longos, possuem uma
distribuição variada, de acordo com a região do corpo. Como o nervo espinhal, ambos os
ramos são mistos, apresentando fibras motoras e sensitivas. Nas regiões cervical, lombar e
sacral, os ramos dos nervos espinhais sucessivos se unem para formar plexos (redes) que
originam nervos destinados à pele, músculos e articulações dos MMSS e membros inferiores
(MMII) (SPENCE, 1991).
19
2.5 O Plexo braquial
É constituído pelos ramos ventrais dos nervos cervicais C5, C6, C7, C8 e T1. Sua
distribuição é feita inferior e lateralmente, passando posteriormente à clavícula, para entrar na
axila. Formam três troncos, cada um deles se dividindo em porção ventral e dorsal: o tronco
superior (C5 � C6), o tronco médio (C7) e o tronco inferior (C8 � T1). Estes troncos ainda
estão separados em fascículos posterior, medial e lateral, que acabam por dar toda a inervação
para os MMSS (SPENCE, 1991).
Fascículo posterior: O nervo axilar passa lateralmente ao fascículo posterior para
inervar a pele e musculatura do ombro. O nervo radial passa posterior ao úmero e o contorna
no sulco do nervo radial, para inervar a pele da face posterior do braço, antebraço e mão, e
toda a musculatura extensora do braço e antebraço (SPENCE, 1991).
Fascículo lateral: O nervo musculocutâneo inerva a pele da face lateral do
antebraço e músculos anteriores do braço, já o nervo peitoral lateral é um ramo deste fascículo
que se destina ao músculo peitoral maior (SPENCE, 1991).
Fascículo medial: O nervo ulnar passa posterior ao epicôndilo medial do úmero e
supre a pele da face medial da mão e alguns músculos flexores do antebraço, bem como
vários músculos intrínsecos da mão. Outros ramos deste fascículo são: o nervo peitoral
medial, suprindo os músculos peitoral maior e menor, os nervos cutâneo lateral e medial do
braço para a pele da face lateral e medial do braço respectivamente (SPENCE, 1991).
Nervo mediano: O nervo mediano é formado por ramos dos fascículos medial e
lateral. Supre toda a pele e músculos da porção lateral da face palmar da mão e todos os
músculos flexores do antebraço (SPENCE, 1991).
20
2.6 O Quadril
Assim corno os MMSS, os MMII são unidos ao corpo através de uma cintura,
denominada de cintura pélvica. As funções primordiais dos MMII são de locomoção e
sustentação do peso corporal. Os ossos do quadril (ísquio, ílio e púbis), que constituem a
cintura pélvica, unem-se anteriormente na sínfise púbica e posteriormente articulam-se com a
parte superior do osso sacro (DÂNGELO; FATTINI, 2000).
O fêmur constitui a coxa, é ligado ao quadril na parte superior e à tíbia
inferiormente. Por sua vez a tíbia é unida à fíbula e juntas articulam-se com o esqueleto do pé
(DÂNGELO; FATTINI, 2000).
2.7 Os Músculos
Os músculos são máquinas moleculares que convertem energia química em força.
Suas propriedades incluem irritabilidade, condutividade, contratilidade e adaptatibilidade. O
músculo esquelético compreende células fundidas nas quais as estriações são bem definidas.
(ENOKA, 2000). A fibra muscular é constituída de muitas miofibrilas, que por sua vez são
compostas por sarcômeros, que se apresentam em série e proporcionam ao músculo a
capacidade de relaxar e contrair (ASTRAND; RODALH, apud ACHOUR JÚNIOR, 2004).
De Deyne (apud ACHOUR JÚNIOR, 2004) afirma que o sarcômero resiste à
deformação mediante alongamento por meio de sua capacidade de tensão de repouso. Wang
et al citado por Achour Júnior (2004) relata que dentro da amplitude de movimento fisiológica
as estruturas contráteis são as principais origens de elasticidade, e que o sarcolema e o tecido
conjuntivo extracelular contribuem significativamente quando o tecido é estendido a uma
amplitude ainda maior.
21
Assim como os axônios, as fibras musculares também são agrupadas por uma rede
de tecido conjuntivo colagenoso de três níveis: o endomísio, que cercas fibras musculares
individuais; o perimísio que une feixes de fibras, formando fascículos; e o epimísio que
envolve todo o músculo (ENOKA, 2000). �Essa matriz de tecido conjuntivo existe em todo o
músculo e não apenas nas suas extremidades e liga as fibras musculares ao tendão e
conseqüentemente ao esqueleto.� (TIDBALL apud ENOKA, 2000, p. 126). Por causa dessa
relação, as fibras musculares e o tecido conjuntivo, incluindo o tendão, operam como uma
unidade funcional única, denominada unidade musculoesquelética (ENOKA, 2000).
As fibras elásticas e as fibras de colágeno são intermescladas no tecido conjuntivo. A proteína colágeno é a principal responsável pela resistência à flexibilidade, conforme se constata nas estruturas dos músculos, tendões e ligamentos. A função dessa proteína no tecido muscular é fornecer resistência ao tecido e distribuir as forças da contração muscular. (AHTIKOSKI et al, apud ACHOUR JÚNIOR, 2004 p. 126)
A rigidez do tecido conjuntivo é provavelmente proporcional à sua quantidade,
uma vez que a estrutura do tecido está relacionada à sua funcionalidade. Caso haja pouca
produção de colágeno, mais complacente será o tecido, com menor resistência ao
alongamento (ACHOUR JÚNIOR, 2004).
O conjunto de estruturas que provê a estrutura física para a interação das proteínas
contráteis é denominado citoesqueleto, que é dividido em exossarcométrico e
endosarcométrico, com função de alinhamento lateral das miofibrilas e orientação dos
filamentos grossos e finos dentro do sarcômero, respectivamente (ENOKA, 2000). A
intimidade do citoesqueleto endosarcométrico com a actina e miosina faz com que esse
sistema seja extensível, sendo composto pelas proteínas tinina e nebulina. Waterman-Storer
citado por Enoka (2000) afirma que a tinina parece ser responsável pela elasticidade muscular
de repouso, enquanto a nebulina mantém o conjunto de treliças de actina.
22
�A tinina, também denominada conectina, é uma proteína elástica extremamente
longa [...], mantendo o sarcômero no centro durante a contração e o relaxamento.�
(SILVERTHORN apud ACHOUR JÚNIOR, 2004. p. 129).
2.8 A Flexibilidade
2.8.1 Definição
A flexibilidade pode ter muitos significados, dependendo do contexto em qual
está inserida. No contexto das ciências da saúde, a flexibilidade pode ser definida de forma
simples como a ADM disponível em uma articulação ou em um grupo de articulações.
(ALTER, 1996).
Outros conceitos defendem que a flexibilidade implica em liberdade de
movimento, a capacidade de uma articulação mover-se com fluidez em sua potência, a
habilidade de uma pessoa para mover uma parte ou partes do corpo numa grande ADM
intencional, a ADM de um tecido mole sadio em resposta ao alongamento ativo ou passivo,
habilidade para relaxar e ceder a uma força de alongamento e a habilidade para mover uma
articulação através de uma ADM normal sem estresse excessivo para a unidade
musculotendinosa (ALTER, 1996).
2.8.2 Fatores que afetam a flexibilidade
Watkins (2001) alega que a flexibilidade de uma articulação é determinada por
quatro fatores: o formato das superfícies articulares; a tensão na cápsula articular e nos
ligamentos nos finais das várias ADM�s; massa de partes moles, principalmente do músculo
23
esquelético, circundando os ossos que formam a articulação; e a extensibilidade dos músculos
esqueléticos que controlam o movimento da articulação.
Alter (1996) e Watkins (2001) concordam que a extensibilidade dos músculos
esqueléticos é o principal fator que afeta a flexibilidade, sendo que Watkins (2001) a
conceitua como o máximo comprimento que a unidade musculotendinosa pode alcançar sem
lesão.
A flexibilidade também tem um componente genético. Achour Júnior (2004)
afirma que quanto maior a herança genética, maiores serão os índices de flexibilidade iniciais
sendo que o grau de desenvolvimento posterior será menor, ocorrendo o contrário na
população que não é favorecida geneticamente. O autor complementa que a flexibilidade pode
ser diferente em articulações bilaterais, entre pessoas da mesma família, este fato é devido à
dominância e a fatores como lesão prévia.
A flexibilidade aumenta durante a infância e até o princípio da adolescência e
depois diminui, ao longo da vida. É possível que a flexibilidade diminua em razão do aumento
da idade, mas a regressão pode ocorrer simplesmente pela inatividade e falta de exercícios de
alongamento que efetuamos a medida que o tempo passa (ACHOUR JÚNIOR, 2004). O autor
ressalta também que em geral, o sexo feminino é mais flexível que o masculino em todas as
idades. O fato de o sexo feminino ser adaptado à gravidez para o suporte da criança faz com
seus quadris sejam essencialmente mais largos e mais rasos do que os homens, possibilitando
maior potencial para a ADM na região pélvica (ALTER, 1996).
2.9 A técnica de mobilização neural
A mobilização neural não é um conhecimento recente. Ao fim do século passado
eram utilizadas técnicas de alongamento neural, entretanto, todas eram cirúrgicas e os
24
alongamentos feitos de forma empírica, sem qualquer embasamento científico. Há apenas
algumas décadas começou-se a identificar patologias ortopédicas e reumatológicas que
envolviam o SNP direta ou indiretamente. Notou-se então que a maioria delas realmente
provinha da agressão ao SNP, reproduzindo os sintomas da enfermidade. A partir desse
momento começaram a surgir estudos que acabaram por dar uma quantidade de informações
muito maior sobre o sistema nervoso, fornecendo subsídios para o aparecimento da
mobilização neural. Com isso o tratamento baseado nesta técnica tem progredido, tanto que
para Butler (2003), o exame realizado por muitos fisioterapeutas poderia ser denominado
neuro-ortopédico.
Elvey (apud BIALOCERKOWSKI, 2005) descreveu a incorporação dessa técnica
de avaliação no tratamento clínico para as desordens neurogênicas do quadrante superior,
região que inclui um lado do pescoço, parte superior do tórax e o membro superior
homolateral. Isto iniciou um enorme paradigma que mudou as razões clínicas do tratamento
da dor musculoesquelética, que passou a considerar o sistema nervoso como uma parte
integral na saúde e função musculoesquelética.
A mobilização neural se dá como na avaliação de tensão neural adversa, onde o
fisioterapeuta realiza movimentos passivos no paciente, tendo como alvo o estiramento de
determinadas estruturas nervosas, o objetivo é estirar algum nervo especificamente, contudo,
já sabemos que o sistema nervoso é contínuo e seria impossível obter a tensão somente em
uma estrutura, portanto um posicionamento adequado é essencial para reproduzir os efeitos
preferencialmente em um nervo.
Alguns autores sugerem a sustentação da posição por cerca de um minuto, isso
seria uma medida eficiente tanto para o tratamento quanto para a avaliação e reavaliação do
paciente, pois proporciona maior adaptação nervosa durante a manobra e é mais objetivo na
mensuração dos resultados da terapêutica (BUTLER, 2003).
25
Os desconfortos causados por diversas patologias sempre derivam do sistema
nervoso. Os sinais e sintomas das doenças ortopédicas e reumáticas costumam diminuir com a
técnica realizada de maneira efetiva, mas é claro que na maioria das vezes não é a
mobilização neural a responsável pela cura dos pacientes e sim como tratamento coadjuvante,
de modo a potencializar os efeitos de outras medidas terapêuticas, assim como aliviar a
sintomatologia para que outras intervenções mais curativas possam ser instituídas. Portanto,
os efeitos da mobilização neural são o alívio de sintomas, resolução de patologias específicas
do SNP e maneira mais geral a facilitação do movimento.
A técnica pode ser dirigida para desordens de origem irritável ou não irritável.
Segundo Butler (2003), a mobilização do sistema nervoso aplica-se para sintomas originários
de um comprometimento biomecânico (patomecânica) ou uma reação inflamatória
(fisiopatologia).
Em face de uma desordem irritável, o tratamento preconizado é a mobilização
neural à distância, de modo a produzir efeitos benéficos para a resolução do quadro. Sugere-se
que o tratamento seja feito de maneira gradual e leve, contudo sem deixar de provocar
adaptações ao SNP, obedecendo ao princípio da sobrecarga e individualidade.
Com uma desordem não irritável é preciso alterar a mecânica que se instalou
devido aos efeitos deletérios como o desuso, por exemplo. A técnica a ser empregada deve ser
essencialmente mais agressiva do que a citada anteriormente, entretanto não deverá reproduzir
dor. Outro ponto a ser esclarecido é que o movimento a ser realizado deve ser próximo ao
local da enfermidade, de modo que os estímulos sejam aplicados de maneira efetiva
(BUTLER, 2003).
De acordo com Bialocerkowski (2005) a natureza anatômica e o relacionamento
dos tecidos mobilizados provê uma efetividade do tratamento de mobilização neural quer seja
ele feito distante ou próximo à área afetada.
26
2.10 A mobilização neural nos MMSS
As técnicas de avaliação foram então incorporadas ao tratamento envolvendo
movimento passivo do nervo em relação ao seu meio. Elvey e Hall (apud
BIALOCERKOWSKI, 2005) deram ênfase que o tratamento previne a dor e mobilizam o
tecido nervoso em conjunção com o tecido circundante para prevenir o alongamento doloroso,
o qual mecanosenssibilizará mais o tecido nervoso. Os objetivos do tratamento são diminuir a
dor causada pelo movimento ou posição corporal e, portanto restaurar o movimento normal,
postura e daí a função.
Os testes neurodinâmicos ou testes que provocam o tecido neural mobilizam o
tronco nervoso longitudinalmente, o grau de sintomas irritantes e de resistência muscular
protetora é avaliado e interpretado com outros achados da avaliação. Essas manobras passivas
são análogas ao Straight Leg Raising (SLR) para o nervo ciático (BIALOCERKOWSKI,
2005).
A sintomatologia causada durante o estiramento do sistema nervoso poderia ser
interpretado com uma dor neurogênica, ao passo que Bialocerkowski (2005) define essa
entidade como a dor iniciada ou causada por uma lesão primária, disfunção ou perturbação
transitória no SNC ou SNP, sendo que nesse caso o tecido nervoso é a fonte de dor e não o
condutor. Os testes neurodinâmicos são considerados positivos quando há reprodução dos
sintomas e/ou presença de atividade muscular antagonista para prevenir maior alongamento
nervoso.
Para comprovar que o nervo mediano se move significativamente durante o
ULTT1 Mclellan e Swash (apud EKSTROM; HOLDEN, 2002) fizeram um estudo
demonstrando uma média de 7,4mm de excursão do nervo mediano em direção inferior
27
quando o punho e dedos eram estendidos. Wilgis e Murphy (apud EKSTROM; HOLDEN,
2002) também demonstraram a mobilidade do nervo mediano em cadáveres recém mortos
através da completa flexão e extensão do cotovelo, onde a média encontrada foi de 7,3mm de
movimento longitudinal.
Outro estudo que demonstra a mobilidade do nervo mediano é o de Wright et al
(1996), onde cinco pares de extremidades superiores cadavéricas foram usadas e avaliados o
grau de excursão e estiramento do nervo mediano no cotovelo e punho com movimentos de
dedos, punho, cotovelo e ombro, conforme descrito na tabela 1. Os autores afirmaram também
que com o movimento total de todas as articulações da extremidade superior o nervo mediano
requer um deslocamento desimpedido maior de 30mm para o punho e cotovelo.
Tabela 1 � Excursão e estiramento do nervo mediano no cotovelo e punho.
Articulação movida
Punho � excursão média
(mm)
Punho estiramento médio (%)
Cotovelo excursão média
(mm)
Cotovelo estiramento médio (%)
Hiperextensão de dedos a 35º
6,3 11 2,6 6,2
Extensão de punho a 60º
9,2 9,6 4,3 7,4
Supinação do antebraço a 70º
0,27 1,5 0,12 0,4
Abdução de ombro a 110º
1,4 3,7 4,4 9,1
Fonte: Wright et al, 1996.
Tilaux (apud GREWAL et al, 1996) alongou o nervo mediano de cadáveres e
encontrou um alongamento médio de 34% antes da ruptura, sendo que o nervo podia suportar
cerca de 20kg. Sunderland e Bradley (apud KWAN et al, 1992) afirmam que em geral o
alongamento até o limite elástico varia de 8% a 20%, sendo que o valor máximo é cerca de
30%, ocorrendo invariavelmente algum dano. Kwan et al (1992) discordam dos dados acerca
dos pontos de ruptura e dano, alegando que os mesmos são inconsistentes e conflitantes, ao
28
passo que as percentagens são muito variáveis entre diferentes nervos e variável também entre
indivíduos.
2.10.1 ULTT1 - Nervo mediano dominante utilizando abdução de ombro
O paciente deverá estar em decúbito dorsal, próximo de um dos lados da maca
dependendo do membro a ser mobilizado. O terapeuta fica de frente para o paciente, com sua
mão mais distante da maca envolve a mão do paciente, garantindo o controle para baixo do
polegar e dedos. O braço do paciente repousa sobre a coxa do terapeuta que está próxima a ele
(figura A) (BUTLER, 2003).
Uma força depressiva constante sobre a cintura escapular é exercida durante o
movimento. Em seguida o braço do paciente é abduzido a cerca de 110º no plano coronal
(figura B). Nesta posição, supina-se o antebraço do paciente, estendendo o punho e dedos
ainda (figura C). Na seqüência realiza-se a rotação externa de ombro (figura D) e extensão de
cotovelo, mantendo todas as posições anteriormente mencionadas (figura E). Por fim, deve-se
fazer a inclinação lateral da cabeça para o lado contralateral, sendo útil ensinar antes do teste
o paciente (figura F) (BUTLER, 2003).
Segundo Butler (2003), como respostas normais apresentam-se o alongamento ou
dor na fossa cubital, irradiando para baixo, anterior e radial do antebraço e radial na mão;
formigamento no polegar e primeiros três dedos; a inclinação contralateral da coluna cervical
aumenta a resposta em 90% dos casos; inclinação homolateral da coluna cervical diminui a
resposta em 70% dos casos.
29
Figura A: Posição inicial do ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
Figura B: Abdução do ombro no ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
30
Figura C: Extensão de punho e dedos no ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
Figura D: Rotação externa do ombro no ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
31
Figura E: Extensão de cotovelo no ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
Figura F: Inclinação contralateral da cabeça no ULTT1.
Fonte: Butler (2003).
32
2.10.2 ULTT2a - Nervo mediano dominante utilizando depressão da cintura escapular e
rotação externa do ombro
O referido teste é descrito para o membro superior esquerdo (MSE). Paciente em
decúbito dorsal, suavemente em diagonal, com o membro superior esquerdo com a escápula
livre da maca e o ombro do paciente sofrendo depressão pela coxa direita do terapeuta. A mão
direita segura o cotovelo do paciente e a esquerda segura o punho (BUTLER, 2003).
O teste terá que ser realizado em cerca de 10º de abdução de ombro. Mantendo a
depressão do ombro, o cotovelo do paciente é estendido. A seguir o terapeuta usa os dois
MMSS para rodar lateralmente todo o braço do paciente. Nesta posição, o antebraço do
terapeuta é pronado e move-se para baixo, chegando à mão da paciente. A seguir, com o
polegar entre os dedos indicador e polegar do paciente, o terapeuta estende o punho e os
dedos do paciente. O passo seguinte é a abdução do ombro até a reprodução dos sintomas
(BUTLER, 2003).
2.10.3 ULTT2b - Nervo radial dominante utilizando depressão da cintura escapular e rotação
interna do ombro
Seguem-se as mesmas disposições iniciais do teste ULTT2a com relação à
depressão da cintura escapular e a extensão de cotovelo. Nesta posição o ombro é
medialmente rotacionado. Com o braço esquerdo o terapeuta deve segurar o punho do
paciente, rodando todo o braço medialmente, com a pronação do antebraço. A seguir o punho
é flexionado através da mão esquerda do terapeuta. A flexão do polegar e dos dedos irão
sensibilizar o nervo radial via ramo sensorial superficial (BUTLER, 2003).
33
As respostas normais não foram reportadas quanto ao ULTT2, sendo preciso a
comparação ao membro contralateral (BUTLER, 2003).
2.10.4 ULTT3 - Nervo ulnar dominante utilizando abdução do ombro e flexão do cotovelo
O referido teste é descrito para o MSE. A posição inicial do paciente e terapeuta
são as mesmas do teste ULTT1. O cotovelo do paciente repousa na virilha esquerda do
terapeuta. O punho do paciente está estendido e o antebraço encontra-se em supinação. A
seguir o cotovelo é fletido em sua total amplitude. A depressão do ombro é realizada através
do braço direito do terapeuta, empurrando-o de encontro à maca, garantindo assim uma
depressão contínua. Ao atingir este estágio, a rotação lateral do úmero pode ser incrementada.
Nesta fase é recomendada uma leve abdução, pra que o paciente possa posicionar sua mão na
orelha. A seguir faz-se a inclinação contralateral da cabeça através da abdução do braço
(BUTLER, 2003).
As respostas normais ainda não foram devidamente estudadas e devem ser
comparadas às respostas do membro contralateral. Em assintomáticos é comum certo grau de
queimação e formigamento na distribuição do nervo ulnar na mão ou medial no cotovelo
(BUTLER, 2003).
2.11 O teste de finger-floor/teste da distância entre a ponta dos dedos e o chão
2.11.1Procedimento
�O paciente fica em pé com os joelhos estendidos e leva os braços e as mãos
estendidos em direção ao chão, paralelamente. Mede-se então, a distância entre a ponta dos
34
dedos e o chão, ou indica-se a altura (joelho, meio da tíbia) alcançada pelos dedos.�
(BUCKUP, 2000, p. 5).
2.11.2 Avaliação
Segundo Buckup (2000), este teste é uma combinação de movimentos, nos quais
atuam componentes como a articulação do quadril e a coluna vertebral, sendo que uma boa
movimentação do quadril pode compensar uma possível anquilose da coluna vertebral.
Juntamente com a mensuração da distância entre o dedo médio e o chão, o terapeuta deve
atentar para o perfil da coluna vertebral em flexão, ou seja, se a cifose é harmoniosa ou fixa.
O autor ainda observa os seguintes pontos frente a uma grande distância obtida no teste:
• Mobilidade das vértebras lombares
• Encurtamento da musculatura isquiotibial
• Existência de um sinal de Laségue*
• Função do quadril
* irritação da raiz nervosa da perna.
�Clinicamente, a distância entre a ponta dos dedos e o chão é importante na
avaliação dos efeitos de uma terapia.� (BUCKUP, 2000, p. 6)
36
3 DELINEAMENTO DA PESQUISA
3.1 Tipo de pesquisa
A pesquisa a ser realizada se classifica como quantitativa na abordagem,
explicativa quanto ao nível e experimental quanto ao procedimento na coleta de dados.
3.1.1 Quanto à abordagem
A presente pesquisa pode ser definida como quantitativa, pois, no que se refere à
abordagem, a mesma tratar-se-á da mensuração de certos dados a serem obtidos durante o
experimento (GIL, 2002).
3.1.2 Quanto ao nível
Como a presente pesquisa tem como principal preocupação relatar o efeito de uma
técnica sobre grau de movimento de uma articulação, ou seja, identificar um fator que
contribui para a ocorrência de outro fenômeno classifica-se a pesquisa como explicativa (GIL,
2002).
37
3.1.3 Quanto ao procedimento utilizado na coleta de dados
A pesquisa a ser realizada caracteriza-se como pesquisa experimental. Tal
característica pode-lhe ser dada pelo fato de que a mesma irá submeter uma técnica alternativa
para obter uma maior ADM da flexão quadril, e para isso constituir-se-á de um grupo
submetido à técnica de ULTT1 (G 3), um grupo submetido ao alongamento dos músculos
flexores do punho (G 2) e um grupo sem aplicação de qualquer técnica (G 1). Diante de tal
fato pode-se afirmar que se trata de um estudo comparativo, pois submeterá duas diferentes
técnicas à avaliação (VIEIRA; HOSSNE, 2002). Para isso os indivíduos devem apresentar
características em comum e serão distribuídos nos grupos de forma randomizada. Portanto, é
uma pesquisa experimental do tipo comparativa, pois apresenta as propriedades fundamentais
como a manipulação, o controle, a distribuição aleatória e a comparação das técnicas (GIL,
2002).
3.2 População/amostra
A presente pesquisa desenvolveu-se através de amostragem. A amostra se
constituiu de 37 pessoas, (11) pertencentes ao G 3, (13) ao G 2 e (13) ao G 1. A população
estudada são os estudantes universitários da área de ciências da saúde da Universidade do Sul
de Santa Catarina, UNISUL, campus Tubarão (SC), do sexo feminino, com idade de 18 a 22
anos, estatura entre 1,50m e 1,65m, índice de massa corporal (IMC) máximo grau I
(25kg/m²), destro dominante, sedentárias, não fumantes, aparentemente saudáveis, sem
doença ortopédica ou reumática associada, com teste ULTT1 positivo e sem cefaléias
constantes, sendo que tais características foram coletadas mediante questionamento pessoal.
As participantes da pesquisa foram submetidas ao termo de consentimento, sito no apêndice
38
A, sendo a pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da Universidade do Sul
de Santa Catarina, campus Tubarão (SC).
3.3 Instrumentos utilizados para coleta de dados
Para o registro dos dados de maneira didática e eficiente, foram utilizados os
seguintes instrumentos: maca marca ITS ®, fita métrica marca Corrente ® , balança digital
marca Fiziola ® modelo Personal Line com presença de estadiômetro, banco de madeira de
altura de 15cm do chão, um termômetro marca TFA Dostmann GmmH e uma ficha de
avaliação remetida ao apêndice B.
3.4 Procedimentos utilizados na coleta de dados
Primeiramente os indivíduos foram submetidos ao teste de finger-floor, tal como
descrito anteriormente e transcritos na ficha de avaliação. A seguir, dependendo de qual grupo
pertencesse o indivíduo, era realizado o ULTT1 bilateralmente durante um minuto
constantemente, também já descrito, no caso de ser constituinte do G 3. Se o participante
pertencesse ao grupo G 2, será realizado o alongamento dos flexores do punho bilateralmente
durante um minuto, em decúbito dorsal, utilizando a extensão do cotovelo, punho e dedos,
com o ombro em posição anatômica, não permitindo o alongamento das estruturas nervosas.
Caso a participante estivesse no grupo G 3, não receberia qualquer técnica, esperando cerca
de dois minutos.
39
Depois de realizado o procedimento o teste de finger-floor foi realizado
novamente, mencionando seu valor na ficha de avaliação. Portanto, o experimento foi
constituído de apenas uma sessão.
3.5 Procedimentos para análise e interpretação de dados
Os dados foram analisados mediante testes estatísticos, colhendo as informações
existentes na ficha de avaliação com respeito ao pré-teste e pós-teste, verificando assim a
existência de correlação entre a técnica utilizada e a possível alteração da flexibilidade global.
Os testes realizados foram os testes de Wilcoxon para amostras dependentes e o teste de
correlação por postos Spearman, através do software Statdisk ®. Tais testes foram analisados
com significância de 5% (p 0,05) e nível de confiança de 95%.
40
4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1 Apresentação e análise dos resultados
O estudo realizado mostrou que a mobilização neural dos MMSS, através do
ULTT1, com a mobilização do nervo mediano aumenta a flexibilidade global, com nível de
confiança de 95% (p= 0,05). Os grupos G 2 e G 1 não obtiveram resultados significantes
estatisticamente (p> 0,05), sendo que a técnica não reproduziu melhoras efetivas na
mobilidade do sistema nervoso, e, portanto não surtiu os efeitos desejados.
No G 3, que se constituiu de 11 participantes, o re-teste de finger-floor apresentou
diminuição da distância, com conseqüente melhoria da flexibilidade em nove participantes
(81,8%). Em duas participantes (18,2%) a distância aumentou, com declínio da flexibilidade,
sendo a média geral dos resultados a redução de 2,7cm na distância dedo ao solo, com desvio
padrão de ± 3,1cm. O melhor resultado foi a redução de 8,6cm no re-teste do finger-floor e o
pior foi o aumento de 1,5cm, tal como mostrado no gráfico 1.
41
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Sujeitos
Dist
ânci
a, e
m c
mavaliaçãoreavaliação
Gráfico 1: Teste de finger-floor do G 3 na avaliação, reavaliação e variação, em cm.
Aplicando-se o teste de Wilcoxon para amostras dependentes (p> 0,05) constatou-
se que após o procedimento houve mudança na característica dos sujeitos com significância
estatística, confirmando a efetividade da técnica para o G 3.
No G 2 a amostra também foi de treze participantes, e o re-teste de finger-floor
demonstrou melhoria da flexibilidade em oito participantes (61,5%), redução da mesma em
quatro (30,8%) e permaneceu estática em apenas uma (7,7%). A média do re-teste foi redução
de 0,5cm, com desvio padrão de ± 3,4cm. O maior valor de redução da distância foi de 7,5cm
e o pior resultado foi de 4,7cm de aumento na distância dedo ao solo, mostrado a seguir, no
gráfico 2.
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sujeitos
Dist
ânci
a, e
m c
m.
avaliaçãoreavaliação
Gráfico 2: Teste de finger-floor do G 2 na avaliação, reavaliação e variação, em cm.
42
Aplicando-se o teste de Wilcoxon, para amostras dependentes (p> 0,05) constatou-
se que os indivíduos são iguais, ou seja, não houve mudanças significativas nos sujeitos.
No G 1, os sujeitos estudados foram treze, sendo que destas, oito participantes
(61,5%) tiveram redução na medida de re-teste do finger-floor. Em outras cinco participantes
(38,5%) observou-se aumento da distância dedo ao solo, ou seja, piora da flexibilidade. A
média geral dos resultados do teste e re-teste do finger-floor foi uma redução de 0,8cm, com
desvio padrão de ± 2,1cm. O máximo valor de redução encontrado foi de 7,3cm e pior
resultado foi o aumento de 1cm na distância dedo ao solo, assim como mostrado no gráfico 3.
05
10152025303540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sujeitos
Dist
ânci
a, e
m c
m.
avaliaçãoreavaliação
Gráfico 3: Teste de finger-floor do G 1 na avaliação, reavaliação e variação, em cm.
Ao se aplicar o teste de Wilcoxon para amostras dependentes (p> 0,05) soube-se
que não aconteceram mudanças nos sujeitos, ou seja, são iguais na avaliação e reavaliação.
Para maior controle de variáveis, o estudo se fez com critérios de inclusão e
exclusão descritos no capítulo 3 deste trabalho, sendo que seis participantes foram excluídas
do estudo por possuírem IMC acima de 25kg/m². As variáveis temperatura ambiente e IMC
foram coletadas e analisadas, comparando seu valor e a correlação com o resultado do teste e
43
re-teste finger-floor através do teste estatístico de correlação por postos de Spearman com
nível de confiança de 95% (p 0,05).
No G 3 o IMC variou de 18,32kg/m² a 24,61kg/m², sendo a média de 21,08kg/m²,
com desvio padrão de ±2,93kg/m². A temperatura ambiente variou de 16,8ºC a 24,5ºC, sendo
a média de 20,5ºC, com desvio padrão de ±2,9ºC e tendo a moda de 21,5ºC.
Na análise estatística notou-se que existe uma correlação negativa mediana entre o
IMC e o resultado do finger-floor, isto significa que quanto maior o IMC, menor a
performance. Contudo como a correlação se situa entre fraca e moderada (-0,46) considera-se
não significante estatisticamente. Quanto à temperatura a correlação foi positiva (+0,12),
situando-se entre inexistente e fraca, considerando-se a correlação inexistente.
O G 2 teve IMC variável de 19,45kg/m² a 24,94kg/m², com média de 21,2kg/m²,
com desvio padrão de ±1,8kg/m². A temperatura ambiente variou de 16,7ºC a 21,7ºC, sendo a
média de 19,4ºC, com desvio padrão de ±1,8ºC.
A correlação do IMC foi desconsiderada, pois a sua relação com o resultado do
finger-floor foi inexpressiva (+0,14). A correlação da temperatura com o resultado do finger-
floor foi considerada mediana e positiva (+0,36), contudo não significante estatisticamente,
pois se encontra entre fraca e moderada.
No G 1 o IMC variou de 17,8kg/m² a 24,4kg/m², com média de 21,3kg/m² e
desvio padrão de 2kg/m². A temperatura ambiente chegou ao pico de 24,3ºC e o mínimo de
16,8ºC, sendo a média de 20,3ºC e o desvio padrão de ±1,9ºC.
Na análise da correlação da temperatura ambiente com o resultado do finger-floor
e do IMC com o resultado do finger-floor não se constatou uma relação significante, pois os
dois resultados se situavam como uma correlação entre inexistente e fraca (+0,20) e (-0,16)
respectivamente.
44
4.2 Discussão
Jesus (2004) afirma que no tratamento de diversos pacientes com história de
tensão neural, observou-se a ocorrência de um ganho na ADM da flexão do quadril. Para
confirmar a relação entre a tensão neural e a flexibilidade, o estudo realizado pela autora
consistiu de mobilização neural dos MMII em dois grupos, um com tensão neural adversa e o
outro saudável, onde 94% dos pacientes obtiveram aumento da ADM, não havendo diferença
significativa do aumento da ADM entre os dois grupos.
A mobilização neural desempenha nos dias atuais um papel essencialmente
coadjuvante no tratamento de diversas desordens musculoesqueléticas, sendo que atualmente
a maioria das pesquisas que envolvem esse tema tem sido feitas para comprovar sua eficácia
somente no tratamento de alguma patologia do SNP, e não como medida adicional na
melhoria da flexibilidade, como feita nesse estudo.
Inicialmente a técnica de mobilização neural é realizada para a avaliação do SNP
em determinada patologia, podendo ser incluída no tratamento da forma original ou adaptada.
Elvey (apud BIALOCERKOWSKI, 2005) descreveu a incorporação dessa técnica de
avaliação no tratamento clínico para as desordens neurogênicas do membro superior.
O diagnóstico físico da disfunção do tecido nervoso é uma seqüência de
examinação lógica de testes de movimento passivos e ativos envolvendo o lado afetado e o
não afetado e a palpação do tecido cutâneo. Adicionado a isso a avaliação musculoesquelética
padrão e a palpação do tecido nervoso percutâneo para avaliar as respostas normais ou
hiperálgicas e uma série de testes neurodinâmicos para as principais ramificações nervosas do
membro superior. Este estilo colaborativo de avaliação permite a discriminação de fontes de
dor neurais e não neurais (BIALOCERKOWSKI, 2005).
45
Os testes neurodinâmicos são considerados positivos quando há reprodução dos
sintomas e/ou presença de atividade muscular antagonista para prevenir maior alongamento
nervoso. A sintomatologia causada durante o estiramento do sistema nervoso poderia ser
interpretado com uma dor neurogênica, ao passo que Bialocerkowski (2005) define essa
entidade como a dor iniciada ou causada por uma lesão primária, disfunção ou perturbação
transitória no SNC ou SNP, sendo que nesse caso o tecido nervoso é a fonte de dor e não o
condutor.
O estudo anatômico de Moses e Carman (1996) sugere que não somente o tecido
neuromeníngeo seja estressado durante os ULTT�s, ao passo que as raízes nervosas C5, C6 e
C7 são seguramente unidas por muitas estruturas que emergem da medula para o plexo
braquial. A sintomatologia, segundo eles, pode advir de outras estruturas inervadas em
pacientes com ULTT positivo. Apesar disso, os autores também concluíram que as raízes C5
e C6 estão sujeitas a grande tensão durante os ULTT�s quando há inclinação cervical
contralateral.
O ULTT1, aplicado no presente estudo é constantemente empregado para
mobilização do nervo mediano e Kleinrensink et al (1995) num estudo biomecânico
cadavérico demonstrou alta sensibilidade e especificidade no nervo mediano baseado no seu
teste neurodinâmico. Os autores chegaram a conclusão que o nervo mediano foi o mais
sensível porque produziu uma tensão significante no mesmo com a mínima tensão produzida
nos nervos radial e ulnar, sendo o ULTT1 um teste válido para produzir tensão no nervo
mediano. Os achados permitiram aos autores concluírem que a extensão do punho causa uma
tensão preferencial na parte distal do nervo mediano, mas causa tensão em todo o nervo,
quando o cotovelo está estendido. Este fato não ocorre com a abdução o ombro, onde a tensão
se distribui somente na parte proximal e média do nervo.
46
Apesar do teste ULTT1 causar principalmente um estiramento longitudinal,
melhorando a mobilidade do nervo mediano, Lynn, Greening e Leary (2002) analisaram o
movimento do mesmo através da ultrassonografia antes e após o procedimento ULTT1 e
constataram que não há influência na mobilidade transversal do nervo na altura do punho após
esse período. Este estudo teve como alvo uma população de três digitadores com dor
inespecífica nos MMSS e o re-teste feito de 10 a 20 minutos após a mobilização. Portanto, a
mobilidade transversal do nervo, na altura do punho não é um fator determinante na limitação
do movimento do nervo mediano em pessoas saudáveis.
Outro estudo acerca da excursão longitudinal do nervo mediano se fez durante os
movimentos dos dedos indicador e médio (UGBOLUE et al, 2005), onde se constatou que o
deslocamento do nervo foi correlacionado linearmente com o movimento da articulação
metacarpofalangeana. O deslocamento máximo do nervo mediano encontrado foi em média
de 3.0mm para o dedo indicador e 4.0mm para o dedo médio.
A aplicação da técnica se fez conforme descrito no capítulo 2, onde quando a
sintomatologia se apresentava a ADM alcançada era mantida e se fazia a oscilação do cúbito
durante um minuto. Essa aplicação é semelhante à técnica aplicada por Ekstrom e Holden
(2002) em seu estudo que objetivava a redução da compressão nervosa, sendo a mobilização
feita no limite da tensão nervosa utilizando a flexão e extensão do cotovelo.
A presente pesquisa constatou durante a realização do ULTT1, que a ADM
alcançada para se atingir a tensão no nervo mediano foi menor e a sintomatologia de
estiramento mais intensa no membro dominante, ou seja, o membro superior direito (MSD).
Este fato concorda com trabalho de Coppieters et al (apud EKSTROM; HOLDEN, 2002) ao
constatar grau reduzido da ADM de ambas extremidades superiores durante os testes de
tensão nervosa, sendo que o MSD foi muito mais limitado que a extremidade contralateral. Os
47
autores encontraram, no exame do nervo mediano, uma limitação média de 11º na extensão de
cotovelo quando o punho era estendido antes do cúbito.
Para a aferição mais precisa acerca da flexibilidade nos testes, usou-se o teste de
finger-floor, o qual Perret et al (2001), confirmaram a validade, confiabilidade e
responsividade em estudo experimental, prospectivo e correlacional através de exames
radiográficos de perfil do segmento superior da coluna vertebral em posições neutra e em
flexão completa de tronco, preconizando e assegurando o teste na prática clínica e em
pesquisas terapêuticas.
Atualmente, numerosas pesquisas são realizadas na busca de dados que
estabeleçam graus seguros para o alongamento do tecido nervoso, a fim de identificar fatores
de risco para diversas patologias e precauções quanto aos respectivos tratamentos.
Wright et al (1996) alerta que com um estiramento igual ou superior a 10% o
nervo já pode sofrer efeitos isquêmicos, causando lesões. Bay et al (1997) complementa que
com esse grau de estiramento já ocorre a queda da velocidade de condução nervosa.
Bay et al (1997) ainda concluíram que a pressão no túnel do carpo, ao contrário do
que se esperava, não tem efeito sobre a excursão e estiramento do nervo mediano, em
qualquer posição do punho. Outro fato citado por Kwan et al (1992) é de que o perineuro tem
sido descrito como principal tecido conectivo que suporta as cargas no nervo periférico,
provendo a maior parte da resistência dos mesmos para o estiramento.
Grewal et al (1996) alega que os nervos possuem propriedades viscoelásticas
assim como os músculos e tendões, respondendo instantaneamente às cargas impostas. O
autor ressalta ainda que os nervos periféricos possuem uma espécie de relaxamento pós-
estresse, que se define como o decrécimo na tensão após um determinado tempo de
alongamento, sendo diferente para cada nervo, dependendo de suas propriedades.
48
No entanto, o tempo pelo qual esse relaxamento permanece ainda não foi
claramente esclarecido, sabendo-se que após vinte minutos as condições iniciais já estão
quase totalmente restabelecidas.
O aumento da flexibilidade foi observado em muitas das participantes, embora
não estatisticamente nos grupos G 2 e G 1. Winters et al (2004) afirmam que o comprimento
muscular é conhecido por afetar as propriedades contráteis do músculo, e músculos
encurtados ou alongados podem não desenvolver a tensão máxima se o seu comprimento
relaxado estiver alterado. O autor ressalta ainda que o relaxamento muscular é devido
primariamente ao stress tênsil aplicado ao músculo quando o mesmo é alongado, mecanismo
este responsável pelo aumento da flexibilidade em programas de alongamento passivo.
A melhoria da flexibilidade observada nos grupos pode ser devida ao aumento da
tolerância ao alongamento, secundária ao relaxamento durante o teste finger-floor.
O aumento da tolerância ao alongamento significa que os pacientes sintam menor
dor para a mesma força aplicada ao músculo. O resultado é um arco de movimento aumentado
mesmo que a verdadeira rigidez não mude. Isto pode ocorrer através do aumento da força
muscular ou analgesia, entretanto o incremento da tolerância ao alongamento que ocorre
imediatamente após o alongamento pode ser causado pelo efeito analgésico, já que a força não
aumenta durante dois minutos de alongamento. Infelizmente a evidência de um possível efeito
analgésico é recente e o mecanismo de relaxamento é desconhecido (SHRIER; GOSSAL,
2000).
Esse aumento foi confirmado também por Halbertsma et al (apud ACHOUR
JÚNIOR, 2004) através de uma pesquisa para avaliar a resposta imediata da rigidez no
alongamento dos músculos isquiotibiais, com cinco repetições de flexão de quadril com os
joelhos estendidos em adultos. O estudo proposto não detectou redução na rigidez do sistema
49
musculoarticular. Uma das conclusões a que chegaram os autores é de que a maior ADM
ocorre pelo aumento da tolerância ao alongamento e não pela diminuição da rigidez articular.
A tensão passiva é influenciada pela deformação do alongamento dos tecidos
conectivos do endomísio, perimísio, e epimísio do músculo. Embora todos os três
componentes do tecido conectivo muscular contribuírem para a resistência quando um
músculo é passivamente alongado, o perimísio é considerado de maior relevância extracelular
para a resistência passiva ao alongamento (KUBO; KANEHISA; FUKUNAGA, 2002).
Guissard e Duchateau (2004) explicam que as amplitudes dos reflexos de
Hoffman (H), que provê a quantificação da excitabilidade do motoneuronio e a capacidade de
transmissão sináptica das fibras aferentes Ia para os motoneuronios, e o reflexo tendinoso (T),
que provê uma mensuração da solicitação do fuso muscular, são reduzidas durante o
alongamento passivo e tem sido mostrado que os mecanismos neurais pré-sinapticos e pós-
sinapticos estão envolvidos.
As adaptações neurais agudas contribuem para uma grande flexibilidade muscular
durante o alongamento por reduzir a resistência muscular relacionada com a atividade tônica
reflexa (GUISSARD, DUCHATEAU, 2004).
Deve-se ressaltar a limitação desta pesquisa, aplicando-se as afirmações aqui
feitas somente em relação à população estudada, sendo preciso uma investigação mais
completa para concluir o efeito da mobilização neural dos MMSS sobre a flexibilidade no
movimento de flexão de quadril na população em geral.
De maneira geral pode-se concluir que a tensão neural adversa dos MMSS tem
influência negativa sobre a flexibilidade dos MMII, sugerindo que uma limitação mecânica
em algum ponto do SNP transmite-se por todo o sistema.
Outra limitação do estudo é que a embora a distância dedo-solo tenha reduzido,
não pode-se afirmar ao certo se a mobilidade do quadril tenha aumentado, ao passo que
50
nenhuma medida da flexibilidade da coluna vertebral tenha sido tomada. Contudo, se pode
afirmar que a mobilidade aumentou e que o estímulo de estiramento do SNP transmitiu-se
pelo sistema, permitindo maior excursão da flexão da coluna vertebral e do quadril no re-
teste.
51
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mobilização neural, através do ULTT1 provê alívio da tensão neural do
membro superior, e no presente estudo constatou-se que este estímulo transmite-se pelo SNP
e permite uma maior mobilidade na flexão do quadril e coluna vertebral na população
estudada. Contudo maiores pesquisas devem ser realizadas para o esclarecimento da
contribuição da mobilização neural sobre a flexibilidade em outras populações, confirmando a
sua validade para este fim.
52
REFERÊNCIAS
ACHOUR JUNIOR, Abdallah. Flexibilidade e alongamento: saúde e bem estar. Barueri: Manole, 2004. ALTER, Michael J. Ciência da Flexibilidade. Tradução de Maria da Graça Figueiró da Silva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999. BAY, Brian K. Displacement and strain of the median nerve at the wrist. The journal of hand surgery. v. 22-A, n. 4, p. 621-627, jul./1997.
BIALOCERKOWSKI, Andrea. The effectiveness of nerve mobilization in the management of adults with upper quadrant neurogenic pain. The Centre for Allied Health Evidence. 2005.
BUCKUP, Klaus. Testes clínicos para patologia óssea, articular e muscular: exames -sinais - fenômenos. Tradução de lracema Hilário DuIley. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2000. BUTLER, David S.; JONES, Mark A. Mobilização do sistema nervoso. Tradução de Juliana Frare. Barueri: Manole, 2003. DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000. EKSTROM, Richard A.; HOLDEN, Kari. Examination of and intervention for a patient with chronic lateral elbow pain with signs of nerve entrapment. Physical Therapy, v. 82, n. 11, p. 1077-1086, nov./2002. ENOKA, Roger M. Bases neuromecânicas da cinesiologia. Tradução de Antônia Dalla Pria Bankoff, Daniela Dias Barros, Sônia Cavalcanti Correa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2000. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. GREWAL, Rupinder et al. Biomechanical properties of peripheral nerves. Hand Clinics. v. 12, n. 2, p. 195-204, maio/1996. GUISSARD, Nathalie; DUCHATEAU, Jacques. Effect of Static stretch training on the neural and mechanical properties of the human plantar flexor muscles. Muscle & Nerve. n. 29, p. 248-255, fev./2004.
53
HOPPENFELD, Stanley; HUTTON, Richard (Col.).Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 1999. JESUS, Cláudia Schneck. A mobilização do sistema nervosa e seus efeitos no alongamento da musculatura ísquio-tibial. Terapia Manual. v. 2, n. 4, p. 162-165, abr./ jun.2004. KLEINRESINK, G. J. et al. Mechanical tension in the median nerve � the effects of joint positions. Clinical Biomechanics. v. 10, n. 5, p. 240-244, 1995. KUBO, Keitaro; KANEHISA, Hiroaki; FUKUNAGA, Tetsuo. Effect of stretching training on the viscoelastic properties of human tendon structures in vivo. Journal of Applied Physiology. n. 92, p. 595-601, fev/2002 KWAN, Michael K. et al. Strain, stress and stretch of peripheral nerve. Acta orthopedic scandinavia. v. 63, n. 3, p. 267-272, 1992. LYNN, Bruce; GREENING, Jane; LEARY, Rachel. Sensory and autonomic function and ultrasound nerve imaging in RSI patients and keyboard workers. Health and Safety Executive, 2002. MARINZECK, Sérgio. Mobilização neural � aspectos gerais. Terapia Manual. Disponível em: <http: //www.terapiamanual.com.br/br/artigos.php?v=1&pg=artigos/mobilizacaoneural.htm. Acesso em: 27 ago. 2004. MOSES, Andréa; CARMAN, John. Anatomy of the cervical spine: implications for the upper limb tension test. Australian physiotherapy. v. 42, n. 1, p. 31-35, 1996. PERRET C. et al. Validity, reliability, and responsiveness of the fingertip-to-floor test. Archives physics medicine of rehabilitation. v. 82, n. 11, p.1566-1570, nov./2001. [abstract] SPENCE, Alexander P. Anatomia humana básica. Tradução de Edson Aparecido Liberti. 2. ed. São Paulo: Manole, 1991. SHRIER, Ian; GOSSAL, Kav. Myths and truths of stretching � individualized recommendations for healthy muscles. The physician and sportsmedicine. v. 28, n. 8, ago/2000. UGBOLUE, Chris U. et al. Tendon and nerve displacement at the wrist during finger movements. Clinical biomechanics. n. 20, p.50-56, 2005. VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2002 WATKINS, James. Estrutura e função do sistema musculoesquelético.Tradução de Jacques Vissoky. Porto Alegre: Artmed, 2001.
54
WINTERS, Michael V. et al. Passive versus active stretching of hip flexor muscles in subjects with limited hip extension: a randomized clinical trial. Physical therapy. v. 84, n. 9, p. 800-807, set/2004. WRIGHT, Thomas W. et al. Excursion and strain of the median nerve. The journal of bone and joint surgery. v. 78-A, n. 12, p.1897�1903, dez./1996.
57
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO � FISIOTERAPIA
Termo de Consentimento
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a eficácia da técnica de mobilização neural dos
membros superiores na amplitude de movimento de flexão de quadril.
O procedimento utilizado será: realização do teste de finger-floor, onde o participante fica em pé com
os joelhos estendidos e leva os braços e as mãos estendidos em direção ao chão, paralelamente. A
seguir, dependendo de qual grupo será a participante, será realizada a mobilização neural, no caso de
ser constituinte do grupo experimental.
Se a participante pertencer ao grupo de alongamento dos músculos flexores do punho, a técnica será
realizada em decúbito dorsal, com 90º de extensão de punho.
Caso a participante pertença ao grupo de controle negativo, não receberá qualquer técnica.
Depois de realizado o procedimento, o teste de finger-floor será realizado novamente.
O próprio pesquisador realizará os procedimentos mencionados anteriormente.
Caso haja dúvidas ou necessidade de outros esclarecimentos, favor entrar em contato com Rodrigo
Felix Schmidt, fone 626 6968 / 9956 7194.
Declaro que fui informada de todos os procedimentos da pesquisa, que recebi, de forma clara
e objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto e que todos os dados a meu respeito
serão sigilosos.
Nome completo:_____________________________________________________________
R.G:_______________________________________________________________________
Local e data: ________________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________