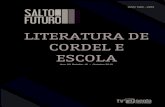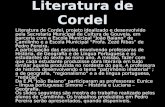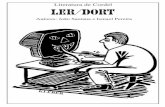A Morte Na Literatura de Cordel
-
Upload
maxwell-barbosa-medeiroa -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of A Morte Na Literatura de Cordel
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
1/205
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTRIAPROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA SOCIAL
LOAS QUE CARPEM:
A MORTE NA LITERATURA DE CORDEL
Marinalva Vilar de Lima
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Histria Social, doDepartamento de Histria, da Faculdade
de Filosofia, Letras e Cincias Humanas daUniversidade de So Paulo, para obtenodo ttulo de Doutora em Histria.
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antnio da Silva
So Paulo
2003
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
2/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 2
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTRIA
PROGRAMA PS-GRADUAO EM HISTRIA SOCIAL
LOAS QUE CARPEM:A MORTE NA LITERATURA DE CORDEL
Marinalva Vilar de Lima
So Paulo
2003
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
3/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 3
DEDICATRIA
Para Teresinha Lima Vilar (me), Maria Luis de Lima (tia) e Maria
Joana da Conceio (av), (in memorian), mulheres com quem
aprendi, ainda muito cedo, a conviver com a certeza da finitudehumana.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
4/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 4
AGRADECIMENTOS
Aps mais de quatro anos de pesquisa, portanto, de contatos, solicitaes,
trocas e encontros, muitos foram os dbitos adquiridos. Gostaria de no ser injusta
para com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram presentes e que
se dispuseram a prestar sua contribuio.
Agradeo especialmente ao Professor Marcos Antnio da Silva, que durante todo o
percurso me incentivou, encorajando-me atravs das trocas intelectivas e da abertura com
que tratou o texto em seus vrios momentos, bem como pela receptividade com que me
recebeu na capital Paulista.
Professora Maria Luisa Corassin com quem tive a oportunidade de conhecer um
pouco mais da literatura latina e do universo de vivncia da Roma Antiga. Experincia que
muito contribuiu para as anlises dos amantes no universo potico.
Ao Professor e amigo Jos Ernesto Pimentel Filho que esteve presente durante todo
o percurso, contribuindo com sugestes e criticas.
colega e Professora Maria de Lourdes Arajo (Lu) que, tanto em minhas estadas
na capital carioca quanto em suas vindas ao Cariri, incentivou-me e estabeleceu freqente
interlocuo.
Aos Professores: Paula Cristiane de Lyra Santos, Virgnia Soares, Roberto Marques,
Josinete Lopes, Titus Riedl, Jurandir Temteo, Cludia Rejane, pelo apoio, atravs da
cesso de materiais e interlocuo.
Ao Professor e amigo Orlando Arajo com quem pude intercambiar informaes
sobre o mundo clssico.
Aos funcionrios do PPLP, do LAELL, da FCRB e do BEHETORO, que facilitaram o
acesso aos folhetos.
minha famlia, sempre presente em todos os momentos, apoiando-me e
incentivando-me na consecuo de meus objetivos.
Francisco Brito que o destino enviou para junto de mim, dedicando-me afeto e
tendo tranqilidade para compreender os humores prprios s finalizaes das teses.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
5/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 5
Aos amigos mais constantes e aos passageiros com quem convivi ao longo da
pesquisa.
Por fim, aos amores imperfeitos combustvel inspirador.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
6/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 6
RESUMO
A tese analisa a forma como a morte, o morrer e os mortos so apresentados pela Literaturade cordel, estabelecendo aproximaes e distines entre as narrativas de temticas
diversas. Da anlise dos folhetos surgiu uma tipologia que levou em considerao, porvezes, os tipos de mortos versejados, e por outras, a forma pela qual se deu a morte,servindo de parmetro para as consideraes apresentadas. Foi observado, no corpusanalisado, que os mortos eram pranteados; a morte era temida e percebida comoacontecimento que a todos colocava em igual situao, ainda que houvesse uma formadistinta de tratamento para com os lderes carismticos. A conservao de todo um arsenalritualstico cristo em face do morrer e para com os mortos um ponto bastante enfatizadopelos poetas. Muitas de velhas crenas e prticas, atualmente preteridas, so lembradascomo indispensveis. O outro mundo uma instncia plenamente considerada para aconsecuo de objetivos no alcanados no plano terrestre. Alm destas questes, de
cunho mais especfico temtica central em tela, a tese, tambm, problematiza a naturezada fonte analisada, buscando compreend-la a partir de um olhar de desconfiana para como enquadramento desta enquanto uma produo da cultura popular, assim classificada apartir da transposio simplista das regras antinmicas utilizadas para se pensar o universoscio-econmico. Por fim, conclumos que h um amplo universo de possibilidades deestudo, no mbito da discusso sobre a morte na literatura de cordel, que merecem, ainda,ser estudadas.
PALAVRAS-CHAVES
Histria Cultural, Cultura popular, Representaes, Literatura de Cordel, Morte.
ABSTRACTIn this thesis we analyse how the dying and the defunts are presented by poets inpopular literature. We establish the similarities and the differences among distinctthemes. From the analysis of the popular books, it came out a typology which tookinto account, sometimes, the type of defunts described in verses, in addition, the wayhow people were dead, playing the role of a parameter for the presentedconsiderations. It was seen, in analysed corpus, that people cried in deathwatches;the death caused fear and it was a fact in which everyone is in the same foot,although some different treatment to religious leaders were applied. The tradition of
the Christian rituals related to the dying and defunts is an issue very much exploredby popular poets. Many old beliefs and practices, currently neglected, areremembered as fundamental rituals. The heaven is always recalled as a placewhere the people reach all their objectives. In addition to these specifics issues, westudy the nature of the popular books, trying to understand them from a criticalviewpoint. We mainly point out the difficulty of separating which is popular or eruditein popular culture. We conclude that there is a large universe of possibilities to bestudied in the realm of the dying presented in popular literature.
KEY WORDS
Cultural History, Popular culture, Representations, Popular literature, Death.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
7/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 7
NDICE
Apresentao ........................................................................................08
Introduo .............................................................................................12
Cap. I O lugar da morte: potica popular e representao do morrer
............................................................................................................... 38
Cap. II Do outro mundo: metamorfoses e santificao na poesiapopular ..................................................................................................65
Cap. III - O amor como a morte, que no separa ningum .............94
Cap. IV No plano de cima, como no plano de baixo: os polticos
............................................................................................... .............128
Cap. V - Concepo da morte e relao com os mortos (balano
conclusivo) ..........................................................................................171Bibliografia ..........................................................................................185
Corpusde folhetos ..............................................................................197
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
8/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 8
Os gestos do desejo no visam despertar o desejo do outro e
seu prazer, seno para convid-lo a explorar juntos um pas e
uma paisagem desconhecidos, como se se tratasse de
descobrir juntos os mistrios de uma floresta profunda.
(Marcel Conche)
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
9/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel 9
APRESENTAO
Nisto chega o sacerdoteQue o escravo foi buscarSentou-se pertinho delaMandou tudo se afastarLhe perguntou: minha filhaVoc quer se confessar?
O bom padre confessouCom muita calma e ateno
Depois de benzer ElziraLhe deu absolvioEm seguida ministrou-lheOs ritos da extrema-uno
(...)toda assistncia choravavendo Elzira se ultimando
O padre pegou a velaNas suas mos colocouE ali nos braos de Amncio
Elzira se liquidouCaiu um raio no terreiroQuando a donzela expirou1
Nestes trechos do romance Elzira, a morta virgem, de edio de Jos
Bernardo da Silva - tipgrafo do Juazeiro do Norte, polarizador da produo no
Nordeste nas dcadas de 50 e 60, e proprietrio da tipografia So Francisco2 -,
podemos observar vrias referncias da relao estabelecida com a morte no corpus
de cordis aqui destacados3.
A histria de Elzira tem como motivo central a proibio que seus pais
interpem ao seu relacionamento amoroso com Amncio, levando-os ao
afastamento e, por conseguinte, perda do desejo de viver por parte da donzela. A
1Joo Martins de Athayde, Elzira, a morta virgem, Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia So Francisco,1954, (vol.1), p.17; estrofe 04; p.18, estrofes 01 e 03, versos 05 e 06; p.22, estrofe 03,respectivamente.2Sobre a tipografia So Francisco e as atividades de tipgrafo de Jos Bernardo da Silva h um bom
levantamento na Monografia:A literatura de cordel em Juazeiro do Norte-Ce (1954-1970), escrita porLaura Pereira, defendida em agosto de 2002, junto ao curso de Especializao em Histria do Brasil Turma IV, ligado ao Departamento de Histria, da Universidade Regional do Cariri-URCA.3Ver: Corpus de folhetos, ao final do trabalho.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
10/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel10
interdio dos pais ao romance estabelece o processo de mortificao simblica,
que culmina com a morte biolgica da protagonista.
A narrativa, desenvolvida pelo poeta, apresenta um pano de fundo que nos
possibilita visualizar um quadro de morte em que tudo vai transcorrendo no recesso
da famlia. Trata-se de uma morte que se aproxima da candidata de forma
parcimoniosa. O contexto em que, a mesma, se desenrola retratado seguindo
certas etapas: o momento em que a jovem se torna moribunda; a preparao para a
morte pelo sacerdote, concedendo-lhe os ritos convencionais do catolicismo
(confisso e absolvio, extrema-uno, colocao da vela); os procedimentos da
assistncia; a despedida final da moribunda; e, ainda, a reao da natureza,
explicitada atravs do envio de um raio, demarcando o fatalismo que envolve omomento.
A idia de uma natureza a sinalizar o acontecimento funreo perpassa toda a
potica popular, independentemente, da relevncia scio-religiosa do envolvido.
Dessa forma, o tpos aparece tanto nos folhetos sobre a morte dos santos e dos
polticos, quanto do homem comum, como procuraremos demonstrar ao longo do
texto.
Nos cordis que constituem o corpus, do presente trabalho, a morte foitematizada de diversas formas, abarcando-a em suas representaes popularizadas
(a foice da morte, a morte terror, a morte como castigo, a morte personificada e
lograda, dentre outras); nas questes prticas do cotidiano humano face
inevitabilidade do fato, tais como a assistncia ao moribundo, a preocupao em dar
sepultura ao cadver, o luto, as prticas ritualsticas de distanciamento para com os
vivos; bem como, enquanto possibilitadora de realizaes frustradas no mundo dos
vivos, as quais so transferidas para o universo dos mortos, espao apresentadocomo o outro mundo4, definido, por vezes, a partir da relao de oposio com o
mundo terreno.
Observamos que o morrer, o carpir, o luto e a purificao do morto so
aspectos ressaltados pelos poetas, em quaisquer dos temas abordados,
4 Vale ressaltar que, para as histrias de Polticos e Santos h uma manuteno e, mesmo,hipertrofiamento do poder por estes assimilados no plano terreno. Assim, o outro mundo, idealizadopelos poetas, pode ser, em alguns casos, o lugar de soluo para os problemas dos oprimidos, pois
que atua no sentido de promover uma isonomia das personagens, mas, pode ser, como no caso datematizao da morte de lderes religiosos e polticos, um espao em que as estruturas solidificadasno plano terreno se mantm. Para um maior aprofundamento da questo veja os captulos em queso analisadas as obras sobre os santos, os polticos e os amantes.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
11/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel11
descrevendo detalhadamente as atitudes dos candidatos e dos sobreviventes, bem
como a forma de apresentao dos falecidos.
Tomamos as obras, aqui destacadas, dentro de uma compreenso que as
considera enquanto uma narrativa integrante da relao dos cordelistas com o
mundo scio-cultural de tradio crist, das influncias causadas por suas leituras5
e da capacidade inventiva de que o poeta faz uso.
Percebemos, atravs das anlises que empreendemos das obras,
contraposies ao discurso da morte negada, interdita que perpassa a
historiografia e as discusses tericas sobre a morte no Ocidente , visto que, os
poetas trabalham a morte em uma dimenso que a toma como momento
plenamente vivido e que, durante e aps o desfecho final do fato, em si, h todo umenvolvimento da assistncia (parentes, vizinhos, admiradores, fiis e, mesmo, a
natureza).
Os poetas constroem todo um universo de representaes e experincias
para com a morte que a pe como elemento catalisador das atenes, conduzindo o
leitor para uma cena de sentimentos plenamente expostos. As poesias trazem-nos a
morte em um momento de plenitude, apotetico. O contexto de experincia de
morte, a que temos acesso, atravs das poesias, caracteriza-se pela proximidadecom que vivos e mortos so postos. O falar da morte um dado comum, podendo,
at mesmo, vir a explicitar o grau de sentimento com que as pessoas esto ligadas,
como no caso das histrias de amantes, em que a separao trabalhada de forma
intensiva. A mortificao e o lamento dos amantes so apresentados no limiar entre
a vida e a morte, mesmo que o desfecho da histria estabelea, ao par envolvido,
um final feliz.
Lanamos mo de uma metodologia de estudo que se prope a realizar umareleitura da cultura popular a partir do campo conceitual da Histria Cultural,
considerando que as relaes entre distintos territrios sociais se desenvolvem a
partir de um constante movimento de interinfluncias. Questionamento que tem sua
justificativa no propalado enquadramento da Literatura de cordel, aqui nossa fonte
central, como uma produo associada ao universo da cultura popular, tendo sua
5 Colocamos o termo entre aspas com o intuito de chamar ateno para o sentido em que o
estamos empregando. O termo procura englobar, tanto a leitura realizada pelo prprio poeta,alfabetizado, quanto aquela em que o poeta toma conhecimento a partir da leitura realizada poroutrem. Tratamos desta questo, mais pontualmente, em nosso trabalho: Narradores do PadreCcero: do auditrio bancada, Fortaleza-Ce: Edies UFC, 2000, pp. 37-45.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
12/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel12
definio dada pelo espao scio-econmico de que se origina a grande maioria de
seus produtores.
Este texto, resulta, portanto, de duas preocupaes de maior grandeza, quais
sejam: a problematizao da Literatura de cordel enquanto manifestao cultural
associada s camadas populares, visualizadas em sua dimenso scio-econmica,
resultando na no contabilizao do jogo de influncias recprocas entre indivduos,
grupos ou produes culturais, coexistentes em uma dada sociedade. E, ainda,
associada a esta questo, problematizamos a compreenso dos produtores desta
literatura enquanto grupo em que os sujeitos se apresentam destitudos de suas
identidades em favor de um iderio nico, homogneo. Por outro lado, e com base
neste entendimento de nossa fonte principal, questionamos a assertiva dainominabilidade com que a morte tratada nas Sociedades Ocidentais da
atualidade, apresentando, a partir das anlises dos folhetos que versejavam sobre a
morte de personagens associadas aos mais distintos universos referentes, uma cena
em que aos ecos de um prantear, plenamente experienciado, que somos levados
a dar ouvidos.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
13/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel13
INTRODUO
Numa certa aldeia viviam dois camponeses, irmos de sangue, um era pobre
e outro era rico... O rico foi para a cidade e entrou para a corporao de
mercadores, o pobre manteve-se no campo, lutando como um peixe contra o
gelo... Vivendo um dos irmos miseravelmente e outro em demasiada riqueza,
ocorre que, um dia, o homem pobre decide-se por procurar o irmo e pedir-lhe
ajuda. O rico concorda em ajudar. Mas, primeiro, estabelece que o irmo dever
trabalhar em sua casa. Ao final de uma semana de trabalho lhe d um po como
recompensa pelo esforo empreendido. Muito agradecido o pobre recebe a
recompensa e, quando j vai se retirar para sua casa, o irmo lhe convida para sua
festa de aniversrio. A felicidade do pobre torna-se ainda maior, percebendo no
convite uma prova de grande considerao fraternal. Em casa, entrega o resultado
de seu trabalho famlia e anuncia, triunfantemente, que iro festa do irmo rico.
Durante a festa, aos demais convidados, serve-se bebida e comida vontade. Ao
homem pobre e a sua mulher, nada oferecido. Todos se retiram entoando cantigas
em plena demonstrao de alegria e refestelamento. O irmo pobre sugere esposa
que cante tambm, mas ela se recusa e o chama de burro, no vendo razo para se
alegrar. Mesmo assim o homem pobre canta. Uma voz baixinha comea a
acompanh-lo. Descobre tratar-se de Misria. Da em diante Misriao acompanha,
levando-o a uma situao de penria extrema. Faz com que venda tudo para beber,
desde sua carroa de carregar lenha at o vestido da esposa. Fica totalmente
depenado. Ao fim de que, Misria sugere-lhe que pea a carroa do vizinho
emprestada e o conduz at um lugar misterioso. Chegando l, ordena que levanteuma pedra. Embaixo da pedra, surge um imenso buraco repleto de ouro. O
campons tira tudo que tem no buraco e coloca na carroa. Manda que Misria
verifique se ainda restou alguma coisa dentro. Logra a companheira indesejada,
aprisionando-a. Em seu retorno constri uma linda casa de madeira e passa a viver
folgadamente em sua nova condio. Convida o irmo para comemorar seu
aniversrio e este fica surpreso. O camponsnarra ao irmo como conseguiu ficar
rico. O mercador fica enciumado da riqueza do irmo. Vai at onde Misria estaprisionada e a liberta. Misria pensa ter sido ele o responsvel por seu
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
14/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel14
aprisionamento e passa a segu-lo, levando-o a gastar boa parte de sua fortuna na
taverna. O mercadorpercebe que essa no era vida para ele e pensa numa forma
de se livrar de Misria. Atravs de um estratagema de esperteza consegue
aprision-la em um buraco de uma roda. Atira a roda no rio fundo, matando Misriae
voltando a viver como antes6.
Este conto nos chegou atravs da coletnea Contos de fadas russos,
organizada pelo pesquisador russo Aleksandr Afanasev, o que estabelece, a priori,
a origem da narrativa.
No entanto, este poderia ter sua origem ligada a outras nacionalidades,
respeitando-se algumas referncias internas especficas, tais como, as que pontuam
o tipo de clima (lutava como um peixe contra o gelo) , de vesturio (Estou vendoque voc tem uma pele de carneiro, devem ser mercadores com botas) e de
apetrechos de trabalho (pegou seu tren e sua carroa), que demarcam a
comunidade em seu carter geo-cultural. Nele, podem ser observados vrios
arqutipos que esto na base da construo narrativa dos contos de maneira geral:
A localizao espao-temporal imprecisa, a tematizao de questes universais,
pares antinmicos e estruturais, o sofrimento como condio para a premiao, o
castigo aos opressores, dentre outros.Ao analisar o conto maravilhoso, Vladimir Propp7, tomando a produo Russa
como fonte, ainda que estabelea comparaes e paralelos com contos de origem
diversa, se preocupa em compreender no apenas a estrutura morfolgica deste,
mas, tambm, em estabelecer as bases histricas implicadas na construo da
narrativa.
Em As Razes histricas do conto Maravilhoso, Propp procura estabelecer
as relaes entre a estrutura formadora dos contos e os aspectos mitolgicos eritualsticos das sociedades. Com esta preocupao que organiza suas anlises,
apontando elementos de aproximao e de distanciamento entre a narrativa do
conto e o universo cotidiano das sociedades em que o conto foi conservado, bem
como a manuteno de aspectos prprios a pocas eqidistantes, destoantes do
contexto em que, os mesmos, ainda so populares e popularizados. Acerca da obra
6cf. Aleksandr Afanasev, Misria, in:______(org.). Contos de fadas russos, Trad.: Dinah de AbreuAzevedo, So Paulo: Landy, 2002 (vol.1).7Vladimir Propp. Morfologia do conto Maravilhoso, Rio de Janeiro: Forense, 1984; Vladimir Propp.Asrazes histricas do conto maravilhoso, So Paulo: Martins fontes, 1997.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
15/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel15
de Propp, os tradutores do texto para a lngua portuguesa, Paulo Bezerra e
Rosemary Ablio, comentam:
Com uma concepo do folclore como processo sempre em movimento, analisa os
gneros e a potica do folclore nos diferentes estgios de sua evoluo, demonstra que
motivos surgidos em estgios histricos arcaicos esto presentes e so reformulados em
estgios mais tardios, mas no se limita ao simples registro da evoluo de baixo para
cima. Mostra, numa perspectiva dialtica, o que acontece com o velho folclore em
novas condies histricas, como se manifestam as novas formaes folclricas e como
estas interagem com formas mais arcaicas, reassimilando e reformulando os seus motivos
e vestgios, transformando antigas imagens em seus opostos ou fazendo o velho e o novo
conviverem at com certa harmonia. Demonstra que, uma vez criados, os vrios ncleos
narrativos incorporam da nova realidade elementos novos, que o desenvolvimento ocorre
por superposio de extratos, por substituio e reassimilao8.
Assim, o campo narrativo do conto percebido, por Propp9, enquanto
construdo a partir de uma relao de aproximao, distanciamento e
(re)interpretao do arsenal mitolgico e ritualstico, em um constante processo de
coexistncia de velhas e novas prticas e concepes.Propp, considera que as origens do conto no devem ser procuradas na
comunidade em que estes so veiculados, pois que nem sempre a tero como
referente, com a realidade histrica do passado que devemos confrontar o conto e
ali procurar suas razes10.
Nesse sentido, a partir da metodologia Proppiana, poderamos pensar o conto
Misria, tomando como comunidade referente um espao em que a economia de
base agrria comea a ser suplantada pelo universo citadino de lgica mercantilista,
provocando uma contraposio entre os dois principais personagens sociais
envolvidos neste processo modificador: o mercador e o campons.
Dentro deste processo, de redefinio do eixo de polarizao da economia, o
comrcio vai se tornando o plo econmico valorizado, sendo as possibilidades
scio-econmicas reorganizadas e redefinidas. O campo vai sendo visualizado como
8Comentrio extrado da Introduo da traduo brasileira da obra de Propp (As razes histricas do
conto maravilhoso), feito por Paulo Bezerra, que traduziu a obra juntamente com Rosemary CosthekAblio.9Vladimir Propp, 1997, op.cit.10Idem, ibidem, p.07.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
16/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel16
o lugar do atraso, da pobreza, do sofrimento, e a cidade como o lugar da promisso,
do avano, da vida farta e cheia de alegrias, havendo um aprofundamento da
distino entre um e outro espao. Os interesses citadinos, representantes do novo,
se chocam com o eixo de vida campestre, onde parece estar resguardada a
tradio.
Portanto, podemos pensar a narrativa enquanto atrelada ao momento
intermedirio, em que a balana econmica entre campo e cidade vai, cada vez
mais, se tornando favorvel ao segundo universo. No entanto, no campo psicolgico,
os emblemas da tradio so fortemente defendidos, como podemos inferir da forma
como o campons e o mercador so personalizados. Resultando que o auxiliar
mgico posto em auxlio do campons.Por outro lado, a fundamentao central deste conto, parece estar na
demonstrao da antinomia pobreza/riqueza, sendo a avareza questionada. A
nfase recai no fazer do homem pobre em sua luta cotidiana pela sobrevivncia.
Em busca de estabelecer um desfecho feliz ao homem pobre, o narrador, utiliza-se
da ajuda do auxiliar mgico, aqui representado pela personagem Misria, que
atua enquanto propiciador da utopia social. H, por um lado, como fundo moral, o
questionamento do apego riqueza e a tudo que dela advm, como a falta dehumanismo, o afastamento das questes espirituais e ticas e, mesmo, o pouco
caso feito ao parentesco de sangue. Como se ela (a riqueza) a tudo e a todos
tornasse insensvel. Por outro lado, questiona a acomodao do mais fraco,
perceptvel na caracterizao do homem pobre enquanto despreocupado com as
questes materiais - agradecendo por qualquer coisa a ele atribuda -, como sujeito
que se cerca de ms companhias representadas por Misria -, acabando o pouco
que tem em bebedeira, tendo portanto, a sina merecida. Mas, em sendoapresentado enquanto desprovido de estmulo para se sobressair das condies
impostas pelo contexto scio-econmico desfavorvel, est na sagacidade do fraco
a conquista do prmio merecido. Se, em um plano natural, a estrutura lhes
adversria, o narrador apresenta o auxiliar mgico como intercambiador na
consecuo dos objetivos mais imediatos.
Atravs destas ambigidades em latncia, que do estruturao ao conto
Misria, tem-se acesso, talvez, a um universo conceitual em transformao.
Ressalte-se que, aqui, a riqueza advinda pelo comrcio que posta em questionamento.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
17/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel17
Portanto, o conto provoca o vislumbre de fortes tenses incutidas na relao entre
campo e cidade e entre campons e mercador.
Esta historieta, associada a um cenrio geo-cultural eqidistante daquele
que servir de base narrativa veiculada pela Literatura de Folhetos ou Literatura de
cordel Brasileira11, distinta inclusive em sua forma de apresentao, consegue
estabelecer um forte eco para com ela.
Certamente que, em face da construo narrativa veiculada pelos folhetos,
temos diante de ns, o deslindar de uma srie de especificidades internas a esta
prtica, distanciando-a do conto, de maneira geral. Neste sentido, devem-se levar
em conta, tambm, os gneros de que se constituem os folhetos em sua forma de
apresentao e em sua estrutura interna. Preocupao que motivou umarepresentativa produo analtica por parte de estudiosos das mais variadas reas
do universo acadmico12. Donde resultaram classificaes temticas que visavam a
dar conta do conjunto da produo, estabelecendo trs grandes blocos com
subdivises especficas:
1. Temas tradicionais subdivididos em romances e novelas, contos
maravilhosos, estrias de animais, anti-heris: peripcias e
diabruras e tradio religiosa.
11Optamos por citar as duas expresses utilizadas para designar a poesia popular brasileira, pois quetanto utilizaremos uma como a outra enquanto sinnimas, ainda que outros pesquisadores tenhamquestionado o uso do termo Literatura de cordel para designar a produo potica popularizada noBrasil, tomando como justificativa o fato do termo ter sido empregado a partir dos anos 70 pelosestudiosos, que o importaram do universo portugus, influenciando a seguir os poetas que passarama utiliz-lo, mas que no incio da produo se referiam a ela como literatura de folhetos ou mesmofolhetos. Dentre os trabalhos que tiveram esta questo como preocupao, citamos: Mrcia Abreu,Histrias de cordis e folhetos, Campinas-SP: Mercado de letras: Associao de Leitura do Brasil,1999. Nesta obra a autora realiza um estudo bastante profcuo acerca da prtica de produo do
cordel portugus e da literatura de folhetos nordestina. Demonstra que, em suas caractersticasoriginais, no h possibilidade de se permanecer aceitando como ponto pacfico idia das origenslusitanas do folheto brasileiro, visto que l a soluo editorial vem a popularizar obras de origemvariada (autos religiosos, histrias tradicionais, dentre outras) tanto em prosa quanto em verso,respeitando a lgica da linguagem escrita, mas de carter livre, enquanto que no caso brasileiro hregras fechadas institudas a partir dos produtores, consumidores e leitores - para que se considerea obra como condizente com o universo do folheto, alm de manter-se dentro de uma linguagemprpria oralidade, mesmo quando de sua passagem para a forma escrita. No entanto,considerando-se que, atualmente, o termo portugus tornou-se to ou mais popular do que o termoutilizado inicialmente, sendo veiculado at mesmo nas capas dos livrinhos, este passou aestabelecer um claro significado para com a produo brasileira.12Para esta questo, ver a introduo de nosso trabalho: Narradores do padre Ccero: do auditrio bancada, Fortaleza-Ce: edies UFC, 2000 (originalmente dissertao de Mestrado em Histria
defendida em 1997 junto ao curso de Ps-graduao em Histria da UFPE), em que tivemos apreocupao de colocar um breve histrico sobre a Literatura de cordel no Brasil, discutindo algunsdos principais estudos, desde aqueles que se preocuparam por construir uma classificao daproduo at anlises mais pontuais e ideolgicas.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
18/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel18
2. Fatos circunstanciais ou acontecidos, subdividido em natureza
fsica: enchentes, cheias, secas, terremotos, etc; fatos de
repercusso social: festas, desportos, novelas de televiso,
astronautas, etc; cidade e vida urbana; crtica e stira; elemento
humano: figuras atuais ou atualizadas (Getlio Vargas, ciclo de
fanatismo e misticismo, ciclo do cangaceirismo, etc); tipos tnicos e
regionais, etc.
3. Cantorias e Pelejas13.
Porm, como todas as tentativas de classificao de materiais formados por
uma grande diversidade de intenes, nem sempre conseguem contemplar a
totalidade da produo. Mas, ainda assim, este tipo de estudo proporciona, aopesquisador, uma certa sensao de ordenamento temtico do material.
Consideramos que, em nvel geral, a base oral a que d sustentao tanto
produo do conto quanto da Literatura de folhetos, tendo suas origens
associadas vocalidade14 das cantorias15. Ambas tm na origem oral sua base,
estando permeadas de elementos prprios a esta prtica, conservados, em parte,
quando de sua transladao para a forma escrita16.
13Aqui optamos por seguir a classificao estabelecida por Diegues Jr. em virtude de considerarmosque esta conseguiu enquadrar as temticas da poesia popular com um maior grau de abrangncia.Sobre a questo veja: Manuel Diegues Jr., Literatura popular em verso: estudos, Belo Horizonte:Itatiaia; So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo; Rio de Janeiro: Fundao Casa de RuiBarbosa, 1986. Consultar, tambm, nosso texto citado anteriormente.14 Empregamos o termo no sentido atribudo por Paul Zumthor, A letra e a voz, So Paulo:Companhia das letras, 1993, pp. 20-21, que o prefere ao termo oralidade, considerando: No textopronunciado, no s pelo fato de s-lo, atuam pulses das quais provm para o ouvinte umamensagem especfica, informando e formalizando sua maneira aquela do texto (...) No momento emque ela o enuncia, transforma em cone o signo simblico libertado pela linguagem: tende a despojaresse signo do que ele comporta de arbitrrio; motiva-o da presena desse corpo do qual emana; ouento, por um efeito contrrio mas anlogo, com duplicidade desvia do corpo a ateno; dissimula
sua prpria organicidade sob a fico da mscara, sob a mmica do ator a quem por uma horaempresta a vida(...). Vocalidade a historicidade de uma voz: seu uso. Pois que, em sendo acantoria um momento em que um ou mais poetas, acompanhados por uma viola, entoam versos emestilo de improviso ou decorados, h que se considerar a voz (altura, ritmo, segurana) como um doselementos relevantes para se pensar a compreenso do auditrio do discurso veiculado, ainda queaqui no tenhamos tido a pretenso de tomar esta como questo de anlise mais acurada.Procuramos compreender os folhetos em sua relao com a oralidade. Visto que h poesias quepassaram para a forma escrita a partir da memorizao de um apologista ou dos freqentadores dascantorias, mas, mesmo que a poesia tenha sido, originalmente, pensada na forma escrita tem umagrande medida de oralidade que a caracteriza.15Sobre as cantorias e a relao entre poesia oral e escrita, ainda que a partir de perspectivas, porvezes, distintas, pode-se consultar as obras dos autores que constam da bibliografia deste trabalho:Luis da Cmara Cascudo, Manuel Diegues Jr., Maria Ignez Ayalla, Ruth Terra, Mrcia Abreu, dentre
outros.16No caso da origem oral da literatura de folheto, ver: Mrcia Abreu, Histrias de cordis e folhetos,Campinas-SP: Mercado de letras: Associao de Leitura do Brasil, 1999; Tambm sobre a questover Introduo de nosso trabalho, citado na nota 07. Em artigo indito, intitulado: Histria e poesia
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
19/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel19
Do universo temtico, de que se constitui a Literatura de cordel, consideramos
que so os temas tradicionais que mais podem ser pensados na relao de
comparao aproximativa para com os contos. Nos folhetos que tematizaram
histrias tradicionais, tambm, a definio espao-temporal se d de forma vaga.
Citemos algumas expresses, recortadas das obras consultadas, que so ilustrativas
desta questo: numa cidade17, o reino da maldio18, Nas terras de um
reinado19, No reino da pedra fina20, num reino misterioso21, para situar o lcus a
que se associa o acontecimento narrado e, para a figurao de temporalidade
vamos ter: Em tempos que longe vo22, Houve em tempos atrs23, Em uma noite
de maio24, No tempo do cativeiro25, dentre outros.
Mesmo que, por vezes, ao tematizarem histrias tradicionais, os poetas sepreocupem em estabelecer o espao geogrfico para seu versejar, no temos a
sensao de que esta definio tenha se tornado mais precisa, pois que, quando
utilizam a referncia a uma cidade em especfico, como em: Na cidade de
Madrid26, Verona antiga cidade27, Na corte da palestina28, Numa cidade da
Italia29, Houve no reino da Grcia,30Em uma vila de Frana31, Foi nos Estados
popular, texto subsidirio palestra proferida para os professores da rede pblica de Joo Pessoaem 1998, trabalhei a relao entre Histria e poesia popular, estabelecendo o percurso de surgimentoda forma escrita dos folhetos a partir do universo das cantorias do grupo do Teixeira, na Paraba,liderados por Agostinho Nunes da Costa e seguido por seus dois filhos Nicandro e Ugulino.17Joo Martins de Athayde, Histria de Zezinho e Mariquinha, Juazeiro do Norte-Ce: Abrao Batista,22 de novembro de 1990. Joo Martins de Athayde, Histria de Natanael e Ceclia, Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de Jos Bernardo da Silva, 15 de abril de 1982.18Expedito Sebastio da Silva, A bruxa da meia-noite e o reino da Maldio, Juazeiro do Norte-CE:Abrao Bezerra Batista, 26 de janeiro de 1976.19 Manoel de Almeida Filho, Os mistrios da Princesa dos sete palcios de metais, So Paulo:Luzeiro, 1979.20Arlindo Pinto de Souza, Histria da Princesa da Pedra Fina, So Paulo: Luzeiro, s/d.21Delarme Monteiro da Silva, Histria da Fada da Borborema, Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de JosBernardo da Silva, 06 de agosto de 1975.22Delarme Monteiro da Silva, op. cit.23Joo Martins de Athayde,A fada e o guerreiro, Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de Jos Bernardo daSilva, 20 de setembro de 1975.24Delarme Monteiro da Silva, O mistrio dos 3 anis,Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de Jos Bernardoda Silva,26 de maio de 1980.25 Joo Martins de Athayde, Histria da Princeza Eliza, Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia SoFrancisco, 02 de maio de 1858.26Jos Camelo de Melo, Entre o amor e a espada, Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de Jos Bernardo daSilva, 25 de maio de 1980.27Jos Martins de Athayde, Histria de Romeu e Julieta , Juazeiro do Norte-CE: Jos Bernardo daSilva (editor proprietrio), 21 de janeiro de 1957.28 Joo Martins de Athayde, A infelicidade de dois amantes, Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia SoFrancisco, 07 de outubro de 1952.29Joo Martins de Athayde,A condessinha roubada,Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia So Francisco,20 de abril de 1955.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
20/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel20
Unidos/ Na Virginia oriental,32no significa que o teor da narrativa estabelea uma
relao com o lugar citado, referindo-se a elementos de uma natureza, muito
comumente observvel, na regio Nordeste do Brasil. Em sua grande maioria, os
poetas, mantm a base central de construo da narrativa dos contos de maneira
geral, conservam o aspecto de no caracterizao de poca ou lugar definidos, e,
mesmo, o tom narrativo nos conduz a uma sensao de estar diante da maneira de
narrar dos contos. Pela expressividade com que constri, ao nosso ver, esta
sensao, nos permitimos citar duas estrofes de folhetos da autoria de Joo Martins
de Athayde:
Esta historia meus leitoresNo me refiro a ningumPassou-se a 50 anosFoi contada por algumDum homem muito orgulhosoPeor do que Pedro cem33
Na pennsula escandinaviaUm grande reino existiuSua bela arquiteturaO tempo j destruiuComo tambm o seu povo
A muito j se extinguiu34
As histrias, de que tratam os folhetos de temas tradicionais, tendem a
discorrer sobre questes de ordem moral, em que o bem e o mal esto em constante
conflito. Muitas destas histrias so (re)elaboraes de narrativas veiculadas no
cenrio europeu, aqui chegadas, ainda no perodo colonial, atravs dos cordis
portugueses enviados junto aos livros para c destinados35. O que implica dizer que,
nesse processo de apropriao, ganharam um sentido distinto do que fra dado
inicialmente, visto que prtica comum a adaptao de narrativas oriundas de
30 Joo Martins de Athayde, Histria da princeza Eliza, Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia SoFrancisco, 02 de maio de 1858.31Joo Martins de Athayde, O prmio do sacrifcio ou os sofrimentos de Lindia,Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia So Francisco, 15 de fevereiro,1957.32 Joo Martins de Athayde, Mabel ou lgrimas de me, Juazeiro do Norte-Ce: Tipografia SoFrancisco, 06 de junho de 1951.33Joo Martins de Athayde, O triste fim de um homem orgulhoso, Juazeiro do Norte-Ce: TipografiaSo Francisco, 07 de novembro de 1955.34 Joo Martins de Athayde, A prola sagrada, Juazeiro do Norte-Ce: Filhas de Jos Bernardo da
Silva, 30 de janeiro de 1976.35Sobre a questo da leitura no Brasil colonial ver: Luiz Carlos Villalta, O que se fala e o que se l:lngua, instruo e leitura, in: SOUZA, Laura de Melo e (org.). Histria da Vida Privada no Brasil:cotidiano e vida privada na Amrica portuguesa, So Paulo: Companhia das Letras, 1997.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
21/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel21
outras tradies para o interior da Literatura de folhetos36. Processo de recriao
que se deu e se d a partir da adaptao ao estilo prprio dos cordis brasileiros,
em que todo um jogo, entre rima, mtrica e orao, deve ser respeitado,37em que o
leitmotiv da mudana de condies que possibilite o desfecho feliz para os
protagonistas, representantes do bem, em detrimento dos antagonistas, apresenta-
se com grande relevncia. Motivao que, a partir do que coloca Mrcia Abreu38
sobre a lgica discursiva dos cordis portugueses, em nossa opinio, mais parece
se associar narrativa do conto, apresentada por Propp, do que desses outros.
Estando, ainda, o cordel brasileiro em maior aproximao para com certos aspectos
do conto do que o cordel portugus.
Acerca dos folhetos de temticas circunstanciais, que versejam sobreacontecimentos cotidianos, de caracterizao jornalstica, pode-se observar que a
preocupao com a preciso do aspecto espao-temporal muito respeitada.
Chegando, mesmo, a explicitar a cidade, ou localidade em que a cena transcorreu,
como, tambm, o dia, ms e ano, levando em conta a constante preocupao em
no cometer equvoco. Neste caso, h uma grande variedade de questes tratadas,
atravs das temticas recorrentes no conjunto de folhetos conservados, conforme
procuramos sintetizar, anteriormente, ao remeter ao leitor a classificaosistematizada por Digues Jnior39.
Percebemos, tambm, no processo de ordenao dos folhetos, de que
fizemos uso neste trabalho, a necessidade de levar em conta a temtica analisada
em sua especificidade. Assim, que distinguimos tratamentos diferenciados na hora
de se versejar sobre a morte de uma personalidade da cena poltica nacional em
relao com a narrativa de morte de pessoas comuns, por exemplo. Mesmo que
determinadas referncias se tornem unificadoras da percepo e relao que ospoetas veiculam sobre a morte, independentemente do morto e tipo de morte em
questo. Buscando melhor aprofundar os aspectos internos distintivos desta relao,
estabelecemos uma espcie de cartografia da morte no universo da Literatura de
cordel, que tomou as temticas enquanto eixo de sistematizao.
36Mrcia Abreu, op.cit.p.129.37Sobre a questo veja: tila Almeida, Notas sobre a poesia popular, Campina Grande, s.n.t., 1984;Rodolfo Coelho Cavalcante, Como fazer versos, in: Correio Popular, Campinas, agosto de 1982;Mauro William Barbosa de Almeida, Folhetos (a literatura de folhetos no Nordeste. Brasileiro), So
Paulo: USP, 1979 (dissertao de mestrado em Cincias Sociais); Maria Ignez Novais Ayala, Noarranco do grito: aspectos da cultura nordestina, So Paulo: tica, 1988; Mrcia Abreu, op.cit.38Mrcia Abreu, op.cit.39Diegues Jr. op.cit.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
22/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel22
No que diz respeito ao estabelecimento de um elemento aglutinador das
temticas tratadas pelos poetas, talvez, se possa tomar como chave para a
compreenso, algumas das questes apontadas por Lgia Vassalo40, que, ao
analisar a esttica do teatro de Ariano Suassuna, aponta para a existncia de uma
realidade cultural no Nordeste em que se pode visualizar a conservao de prticas
europias do perodo dos descobrimentos. De um medievo em seu outono.
Cenrio privilegiado de fomentao e conservao de uma cultura oral, advinda do
romanceiro ibrico e aqui modificada a partir da insero de elementos do cotidiano
local. Sobre a base de fundamentao a que, Ariano Suassuna, lana mo em sua
obra, Lgia Vassalo, pontua:
Ariano Suassuna aproximou suas recordaes de Tapero (cidade paraibana do Serto dos
Cariris Velhos e epicentro de toda a sua produo literria) das criaes cmicas do
teatro cristo, encontrando profundas ligaes entre aquelas e as do povo nordestino.
Desse amlgama saem o hibridismo e a originalidade do seu teatro, cujo tom
essencialmente jogralesco ressaltado na moralidade final, correspondendo hora da
morte de um cristo certo da vinda da verdadeira justia.(...). O texto teatral escrito com
todas as marcas da oralidade prprias do dilogo e da encenao do mesmo modo que o
folheto de cordel guarda todos os traos de oralidade e da retrica da voz.
A medievalidade imprime a marca mais especfica ao seu teatro, recortando
transversalmente os temas, os textos e os modelos formais. Ela decorre de imediato de
suas fontes populares, que retiveram o modelo medieval e o transmitem por via indireta
[grifo nosso]; e, mediatamente, das fontes cultas catlicas de seu teatro. Suas estruturas
semntico-formais abstratas (ou arquitextos) so escolhidos entre as prticas mais antigas
da cena ibrica, de que o romanceiro tradicional nordestino guarda muitas consonncias
nas tcnicas e nos temas41.
Portanto, na obra de Suassuna42, que vai buscar seus temas no romanceiro
ibrico e na Literatura de folhetos brasileira, so valorizados os aspectos de fundo
moral e religioso de origem bero-medieval. Aspectos que balizam as narrativas dos
poetas no trato das mais distintas temticas versejadas. Premissa de grande
40Lgia Vassalo, O serto medieval: origens europias do teatro de Ariano Suassuna, Rio de Janeiro:Francisco Alves, 1993.41Idem, ibidem, pp.28-29.42Aqui nos interessou, apenas, citar elementos da anlise da autora que dizem respeito ao pano defundo que d base elaborao do teatro do dramaturgo nordestino. No captulo 1 voltamos a discutirquestes da obra de Suassuna que tem uma implicao maior na construo da idia de uma culturabrasileira fundamentada no romanceiro popular, me refiro ao Movimento Armorial.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
23/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel23
relevncia para a compreenso da viso que sobressai do tratamento dirigido, pelos
poetas populares, morte, ao morrer e aos mortos. Consideramos que o carpir
cordelstico tonificado por preocupaes e prticas de fundamentao crist.
Nosso interesse pela temtica da Morte, de maneira geral, tem como
substrato motivador duas vertentes: uma que se liga diretamente s experincias
pessoais de perdas irreparveis Morte de minha tia e de minha me em um curto
espao de tempo e outra, de carter acadmico, delineada durante a pesquisa e
redao da dissertao de mestrado43.
Naquele momento, nossa preocupao central era observar como se
construam as representaes dos poetas populares (englobando cantadores e
cordelistas) sobre o Padre Ccero. A leitura dos folhetos nos colocou diante de uma
grande quantidade de obras criadas aps a morte do sacerdote ou tendo-a como
elemento principal da narrativa.
Portanto, percorrendo a trilha que levava ao encontro de um perfil do Padre
Ccero na Literatura de cordel, podemos vislumbrar a temtica da Morte. Do corpus
analisado, emergia um padre Ccero que se queria conselheiro, profeta, milagreiro,santo e que aps sua morte, passou a viver um processo de redefinio de sua
atuao, garantindo sua permanncia junto s foras celestiais atravs da
transcendncia. Do outro mundo, espao para o qual fora deslocado, emanava o
fortalecimento das crenas dos fiis, que seriam popularizadas atravs das
narrativas dos cordelistas.
A morte do sacerdote funcionara enquanto elemento purificador e eliminador
das possveis mculas terrenas, promovendo-o condio de santo. Atranscendncia da morte lhe permitira interceder por seus fiis junto s foras
celestiais.
Dessa forma, a Morte no era o fim de sua atuao junto aos fiis, mas uma
redefinio dessa atuao e, at mesmo, a matriz de histrias de f e crena que lhe
cercaram e cercam. Se, enquanto vivo, lhe eram creditados poderes sobrenaturais,
43Marinalva Vilar de Lima, op.cit.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
24/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel24
depois de morto, estes foram ampliados, pois o morto, nas representaes44 do
homo religiosus45, atinge uma dimenso superior em relao quela em que habitam
os vivos. A Morte santifica.46
Da anlise das obras, que versavam diretamente sobre a Morte do sacerdote,
um fato despertou nossa ateno: a forma como os poetas metamorfoseavam os
elementos da natureza cu, vegetao, vento, clima, animais, dentre outros , a
fim de construir o cenrio em que o acontecimento teria seu desfecho; tudo
convergindo para prenunciar o fato trgico e indesejado, forjando um universo
discursivo que se diferenciava de algumas leituras que conhecamos sobre a
problemtica da morte nas sociedades Ocidentais. Dessa forma estvamos diante
de uma morte pranteada e nominvel, que se contrapunha morte negada einominvelvisualizada, por estudiosos como Philippe Aris47e Michel de Certeau48,
enquanto modeladoras das atitudes do homem para com seu momento de
passagem49nas sociedades do Ocidente contemporneo.
Phillippe Aris50, ao analisar as atitudes do homem diante da morte,
utilizando-se da longa durao, remonta Antigidade para construir a teia que se
forma em volta das posturas adotadas. Encontra uma morte de carter familiar.
Descreve os moribundos antigos no leito de suas moradas, rodeados por parentes,visitantes, crianas, num ritual cujo mestre de cerimnia era ele prprio. O
moribundo, tranqilamente, tomava todas as providncias necessrias para que o
ritual tivesse o desfecho adequado. Tudo transcorria em completa paz e
44 Aqui fazemos uso da expresso a partir do sentido atribudo por Roger Chartier, A HistriaCultural: entre prticas e representaes, Bertrand Brasil, 1990. Sobre a discusso em especfico,voltamos a tratar no captulo 1.45 Expresso emprestada de Mircea Eliade, O sagrado e o profano: a essncia das religies, SoPaulo: Martins Fontes, 1996.46A santificao tem, aqui, dois sentidos: o de purificar o passado do indivduo morto, o que se aplicaao mortal comum, no sentido de que no cabe no momento de velar o morto remeter s lembranasnegativas, mas, ao que pode lhes limpar toda e qualquer mancha; e o de aureolar o morto comcaractersticas messinicas, traando o caminho de volta sua primeira e ltima morada, o que seaplica aos santos.47 Ver: Philippe Aris, O homem Perante a morte, Portugal: Publicaes Europa-Amrica, 1988.Philippe Aris, O homem diante da morte, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. Philippe Aris,Sobre a Histria da Morte no Ocidente desde a Idade Mdia, Lisboa: Teorema, 1988.48Michel de Certeau, O inominvel: morrer , in: ____. A inveno do cotidiano, Petrpolis: Vozes,1994.49Expresso utilizada por Joo Jos Reis, O cotidiano da morte no Brasil oitocentista, in: Luis Felipe
de Alencastro, Histria da vida privada no Brasil: Imprio, So Paulo: Companhia das Letras, 1997,pp.95-141, ao se referir ao momento em que o sujeito morre. A idia de que o mesmo passou destepara o outro mundo.50Philippe Aris, op.cit.,1988.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
25/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel25
simplicidade, sem exageros de emoes. Era, no dizer de Aris, uma morte
domesticada.
Para a segunda metade da Idade Mdia, Aris, observa sutis transformaes
nas atitudes, mais especificamente, no que diz respeito emoo. Um carter
dramtico e pessoal adotado em coexistncia com muitas das demais prticas
precedentes. Entende que com o Cristianismo51 que vivos e mortos passam a
conviver, em virtude do culto aos mrtires52.
No que tange sociedade ocidental atual, tanto Aris quanto Certeau
percebem que a morte tornou-se inominvel. Assim, coloca Aris: (...) a morte
tornou-se inominvel. Tudo se passa, a partir de agora como se nem tu nem aqueles
que me so queridos, como se as pessoas, enfim, j no fossem mortais (...).53Porseu lado, afirma-nos Certeau: (...) a morte porm no se nomeia. Escreve-se no
discurso da vida, sem que seja possvel atribuir-lhe um lugar particular54.
Portanto, observam, os autores citados, que as sociedades contemporneas
do Ocidente cobrem a morte com um atroz manto de silncio.
A instituio hospitalar, por exemplo, olha o moribundo de forma suspeita,
visto que os moribundos so proscritos (outcasts) porque so os desviantes da
instituio por e para a conservao da vida55
. O ritmo, com que so empregadasas prticas de tratamento no hospital, tem como premissa manter a lei do silncio,
que visa a encastelar o moribundo para que ele no pense, no fale, no gesticule,
no sinalize incitando a adversria negada.
Para Certeau56, o explicitamento da chegada da morte ao moribundo passa a
ser visto como uma blasfmia contra uma instituio que visa conservao da vida.
Tal opinio corroborada por Maranho, quando analisa a morte na sociedade
capitalista, conforme explicita: Numa sociedade como a nossa, completamentedirigida para a produtividade e o progresso, no se pensa na morte e fala-se dela o
menos possvel57.
51Sobre esta discusso ver: Peter Brown, Antiguidade Tardia, in: VEYNE, Paul (org.). Histria davida privada: Do imprio Romano ao ano mil, So Paulo: Companhia das Letras, 1990, pp.225-299,realiza uma comparao entre a atitude pag e crist diante da morte, demonstrando como ocristianismo vai assumir o culto dos mortos e estabelecer uma hierarquia distintiva nos cemitrioscristos.52Philippe Aris, op.cit.1988, pp.26-31.53Idem, ibidem, p. 66.54Michel de Certeau, op.cit.p.302.55Idem, ibidem, p.293.56Idem, ibidem.57Jos Luiz de Souza Maranho, O que morte, So Paulo: Brasiliense, 1992, p.11.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
26/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel26
Assim que, no discurso mdico, evita-se a crua expresso morte. Utiliza-
se de termos tcnicos, tais como: expirar, perder-se na mesa, ir a bito, dentre
outros, escamoteando e negando o acontecimento.
De acordo com os autores referendados, a morte na sociedade ocidental da
atualidade apresenta-se envolta num aspecto de inominabilidade; de completo
afastamento do cotidiano dos indivduos. Portanto, enquanto dado no existente ou
relevante do vivido.
As perspectivas, acima apresentadas, repousam na anlise do centro
nervoso das sociedades do ocidente atual, que tm suas bases fincadas na lgica
do trabalho e da produo, portanto, um universo de visvel inexistncia de espao
para o que representa inrcia.Com o objetivo de discutir dados que possibilitem uma maior compreenso da
lgica, instituda nas sociedades atuais, para com a doena e a morte, Norbert
Elias58, a partir do enfoque da solido dos moribundos, demonstra o processo de
transformao por que passaram as sociedades, at atingirem o grau de
desenvolvimento atual, e sua ressonncia no universo mental. Correlaciona
modificaes sociais com prticas cotidianas realizadas nos mais diversos territrios,
como a sexualidade, a doena, a morte, dentre outros.Contudo, distintamente de Aris e Certeau, Elias percebe uma mudana no
no campo das atitudes ou dos sentimentos, na relao com a morte, mas nos
aspectos relativos forma de morrer, s prticas morturias e aos espaos
destinados ao moribundo nas ditas sociedades desenvolvidas, ou industriais, da
atualidade.
Elias acredita que teve grande parcela de interferncia, nestas
transformaes, o desenvolvimento de uma concepo mdico-cientfica queinstituiu suas marcas, visando a um maior controle das epidemias, atravs de um
largo processo de higienizao, que proporcionou o afastamento dos sobreviventes
para com os leitos dos moribundos. Porm, no percebe este dado como definidor
de aceitaoou desespero face proximidade da morte, por parte do candidato a
esta ou, mesmo, de seus prximos. Pois, para Elias, o fato de se dispensar grande
58Norbert Elias, La soledad de los moribundos, Mxico: Fondo de cultura econmica, 1987.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
27/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel27
assistncia aos moribundos na Antigidade no , por si s, prova de tranqilidade
ou aceitaoharmnica59da inevitabilidade inerente ao morrer.
Elias no nega que, atualmente, a solidodos moribundos seja visvel, mas
este fato no , para ele, a pedra de toque para se compreender o
desencadeamento do sentimento humano para com a morte, considerando o medo
da morte como visvel, independentemente de se falar dela ou, de sobre ela,
silenciar-se.
Portanto, de acordo com Elias, no estaria na proximidade ou distanciamento
dos vivos para com os ltimos momentos de um indivduo o elemento de
compreenso dos sentimentos em jogo.
A reao do homem diante da morte, prossegue Elias, varia de acordo com ogrupo de que faz parte, bem como com o credo que comunga60. A morte , por ele,
percebida como a questo central de inquietao da humanidade, desde as mais
remotas civilizaes, exemplificando atravs da rememorao de alguns mitos
sumrios. Dessa forma, no vislumbra poca ou sociedade em que os homens
tenham tido uma relao harmnica com o que, de antemo, um fato consumado -
a Morte.
Mediante essa perspectiva de anlise, depreende-se que a relao institudapelos indivduos diante da morte leva em conta o contexto social e religioso de que
este faz parte.
Atravs das reflexes de Elias e de outros autores61que atribuem importncia
ao contexto scio-religioso, entendendo-o, mesmo, enquanto dado de
fundamentao mental dos indivduos, que buscamos (re)construir o percurso feito
pelos poetas, no que diz respeito morte e a tudo que a ela se relaciona.
Ressaltamos que os poetas, cujas obras tomamos como referncia, em sua maioria,tm uma relao de crena religiosa ativa. Observamos, tambm, que, a quase
59 Sobre a questo ver: Peter Brown, op.cit.; Keith Hopkins, Death and Renewal, Cambridge:Cambridge University Press, 1983, vol 2; Luciano de Samsata, Dilogos dos Mortos, So Paulo:Hucitec, 1996.60 Ao utilizar a idia de grupo, Norbert Elias, no deixa de levar em conta os elementos daindividualidade. Conforme coloca: A Histria sempre histria de uma sociedade, mas, sem a menordvida, de uma sociedade de indivduos (p.45). Donde no se pode pensar a sociedade sem tercomo base de referncia os indivduos, a individuao, sem o constante reflexo do universo desociedade resultante da inferncia das vrias formas de pensar dos indivduos e, ainda, cadaindivduo e cada sociedade em suas formas historicamente apresentadas. Sobre a questo ver:
Norbert Elias,A sociedade dos indivduos, Rio de Janeiro: Zahar, 1994.61Ver: Roberto Damatta,A casa & a rua: Espao, cidadania, mulher e morte no Brasil, 5a.ed., Rio deJaneiro: Rocco, 1997; Mircea Eliade, op.cit.; Carlos Rodrigues Brando,A cultura na Rua, Campinas-SP: Papirus, 1989.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
28/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel28
totalidade das narrativas analisadas, tem como substrato psicolgico um teor bblico
vulgarizado.
Neste estudo tomamos como ponto de partida a anlise da forma com que
versejavam/carpiam a morte do padre Ccero, o que nos estimulou a problematizar a
relao estabelecida, pelos poetas, para com os outros mortos por eles pranteados.
Resolvemos, portanto, investigar com que freqncia a temtica era trabalhada na
Literatura de cordel.
Da consulta feita aos dicionrios de obras e poetas populares, de autoria de
tila de Almeida e Jos Alves Sobrinho62, resultou uma estatstica de mais de 160
poetas e 300 ttulos, que tratavam diretamente da morte de personagens variados,
desde taumaturgos, cangaceiros, bandidos, amantes, polticos, artistas, dentreoutros, constituindo-se num amplo universo de mortos.
Aps a consulta ao dicionrio, passamos para a pesquisa nos acervos de
Literatura de cordel. Da leitura e fichamento de cerca de 1.500 cordis, consultados
nos acervos do PPLP Programa Permanente de Literatura popular, UFPB/Campus
I, Joo Pessoa-PB -, da FCRB Fundao Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro ,
do LAELL Laboratrio de Estudos Lingsticos e Literrios, UFPB/Campina
Grande-PB -, BEHETOHO Ncleo de Literatura popular da UniversidadeRegional do Cariri-URCA, Crato-Ce-, e de nosso prprio acervo, uma tipologia de
mortos e tipos de mortes se fez visualizar. Os poetas destacaram personagens de
atuao religiosa, como o Padre Ccero, Frei Damio e os papas; poltica, como
Getlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Joo Pessoa, Castelo
Branco e Ulisses Guimares; social, como Antnio Silvino, Antnio Conselheiro, e
Lampio; e artstica, como Raul Seixas, Luiz Gonzaga, Dalva de Oliveira e Daniela
Perez. Aos amantes estabeleceram um lamento em que muitos dos arqutipos dapotica clssica foram adaptados, resultando que ao par romntico constroem sagas
que tm com a tragdia, promovida pela paixo proibida, grande referncia. Alm de
sobressair uma concepo de base s temticas, em que se enquadram os folhetos,
tambm, as situaes em que a morte ocorrera influenciaram nos roteiros narrativos.
Por ltimo, temos que a metfora da morte e a morte personificada estiveram como
centro de algumas das obras.
62tila de Almeida & Jos Alves Sobrinho Dicionrio Biobibliogrfico de poetas populares, CampinaGrande-Pb: UFPB, 1990, vol.2/Biografias; tila de Almeida & Jos Alves Sobrinho, DicionrioBiobibliogrfico de poetas populares, Campina Grande-Pb: UFPB, 1990, vol.3/Bibliografia.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
29/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel29
Estabelecemos um corpus de autores e obras que se tornaram referncias
centrais em nossas anlises. Seleo que levou em conta as histrias em que os
cordelistas se referiam a aspectos relevantes na elucidao das questes
problematizadas, dentre as quais, citamos:
1) o morrer descrio dos ltimos momentos da personagem,
referncias efetivao do ato de morrer, s vezes assistido, outras
no;
2) o carpir descrio da reao e sentimento dos enlutados (pessoas,
natureza), a relao estabelecida com o(s) morto(s);
3) a morte, narrando o acontecimento em si, distinguindo situaes
desastrosas daquelas em que o acontecimento ocorreu de formaesperada, no caso da morte por doena.
4) a morte personificada aqui, a prpria morte tornava-se elemento
central da narrativa, s vezes, como personagem de comdias,
stiras e mistrios, s vezes, em histrias que evocam uma
lembrana ou saudade.
5) As temticas direcionadas para a narrativa de morte de pessoas
ligadas religio, ao poder pblico, ao universo do banditismo oucangaceirismo e aos meios artsticos. Tambm narrativas de
amantes e pessoas comuns. Visto serem estas as temticas que
apresentaram-se com considervel freqncia.
Portanto, foi a partir destas situaes, observadas nas narrativas dos poetas,
que estabelecemos as idias aqui sistematizadas.
Muito embora o cordel seja um espao narrativo onde a morte ocupa umalarga dimenso, conforme evidenciamos, no h estudos especficos a esse
respeito. Pesquisadores como Slvio Romero63, Lus da Cmara Cascudo64, Ariano
Suassuna65Antnio Fausto Neto66, Ivan Cavalcanti Proena67, Maria Ignez Ayalla68
63Slvio Romero, Cantos populares do Brasil, Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo: Hucitec, 1975.64 Ver as seguintes obras de Luis da Cmara Cascudo, Literatura oral no Brasil, Belo Horizonte:Itatiaia, 1984; Vaqueiros e cantadores, Belo Horizonte: Itatiaia, 1984; Cinco livros do povo, JooPessoa-Pb: UFPB, 1994; Contos Tradicionais do Brasil, Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo: Hucitec,
1986;Anbis e outros ensaios mitologia e folclore, Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1951, dentre outros.65Ariano Suassuna, Manifesto do Movimento Armorial, Recife-Pe: UFPE, 1974.66Antnio Fausto Neto, Ideologia da punio, 1979.67Ivan Cavalcanti Proena,A ideologia do Cordel, Rio de Janeiro: Braslia/Rio, 1977.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
30/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel30
e Jerusa Pires Ferreira69abordaram o cordel sob diferentes prismas, demonstrando
ser essa manifestao cultural de grande relevncia para a compreenso da cultura
brasileira.
Com a consagrao doAuto da Compadecida, Suassuna reuniu nos anos 60
poetas, msicos e escritores com os quais fundou o Movimento Armorial, cuja
bandeira maior era erigir o folheto de cordel condio de maior expresso da
cultura popular nordestina e smbolo da brasilidade. Nos anos 70 e 80, em
conseqncia da expanso do marxismo no campo das Cincias Sociais no Brasil,
emergiu uma nova leitura da produo cordelstica, onde se colocava o paradigma
da Ideologia70. Outros como Maria Ignez Ayalla71 procuraram adentrar um pouco
mais nos detalhes da formao desta poesia. Ela estudou o mundo de cantadores,ainda vivos - como Oliveira de Panelas , em uma perspectiva que visou a
compreender todo o processo de formao de um Cantador, desde sua realidade
econmico-social at mecanismos que subsidiam a criao do chamado repente e
sua lgica de mercado.
Com esses e outros autores, possvel perceber que a Literatura Popular
constitui um campo de anlise fecundo e j relativamente desenvolvido.72
No entanto, apesar de esforos como os citados, tendo em Suassuna umexemplo de demonstrao da relevncia das temticas abordadas pelos poetas para
a construo de uma identidade brasileira, o cordel ainda uma fonte que merece
ser atentamente voyeurizada73para que se toque em esferas de difcil acesso, como
as que dizem respeito ao universo mental, s interinfluncias culturais, s
reminiscncias de velhas prticas em nossa sociedade; para que se possa penetrar
nos espaos de subjetivao desta. Pois, compreendemos, em consonncia com
68Maria Ignez Novais Ayala, No arranco do Grito: aspectos da cantoria nordestina, So Paulo: tica,1988.69Jerusa Pires Ferreira, Cavalaria em cordel: o passo das guas mortas, So Paulo: Hucitec, 1993 eFausto no horizonte(Razes mticas, texto oral, edies populares), So Paulo: Hucitec, 1995.70Antnio Fausto Neto, op.cit e Ivan Cavalcanti Proena, op.cit.71Maria Ignez Novais Ayalla, op.cit.72H diversas obras que verticalizam o estudo do cordel, abordando temas especficos. Entre elasgostaramos de citar: BATISTA (1982), BRADESCO-GOUDEMAND (1982), Mark J. Curran, Apresena de Rodolfo Coelho Cavalcante na moderna Literatura de Cordel, Rio de Janeiro: NovaFronteira, Fundao Casa de Rui Barbosa, 1987 e Histria do Brasil em Cordel, So Paulo: EDUSP,1998; , DAUS (1982), FERREIRA (1993), LIMA (1985), LOPES (1994), LUYTEN (1981,1992),MATOS (1986), SLATER(s/d), VIANNA & SANTOS(1989), TERRA (1983).73Expresso empregada por Ronaldo Vainfas, Moralidades braslicas: deleites sexuais e linguagemertica na sociedade escravista, in: Laura de Mello e Souza, Histria da vida Privada no Brasil:Cotidiano e Vida Privada na Amrica Portuguesa, So Paulo: Companhia das Letras,1997, ao sereferir ao trabalho do Historiador que a tudo espreita, espcie de Voyeur.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
31/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel31
Octvio Paz74, que a produo potica funciona como relicrio do esprito das
sociedades, visto que, neste particular, a Lira tem uma atuao que sobrepuja o
Arco.
Na potica popular, a percepo do outro mundo colocou-se como
elemento norteador, possibilitando desfechos interditados no plano terreno. Assim,
que os interesses, visualizados na esfera da vida, deste mundo, so transferidos e
atingidos no ps-morte, sem que haja, com isso, perda para os protagonistas das
histrias narradas.
Por outro lado, essa transferncia da realizao dos objetivos terrenos para o
plano do outro mundo e a conscincia de sua existncia funcionam como aspectos
fundantes de um lugar para a morte no cordel, o qual se constri na intermitnciaentre mundo natural e sobrenatural, numa relao permanente entre existncia
material visvel e o universo de invisibilidade sobrenatural, havendo toda uma
corrente de comunicao que liga mundo dos vivos e mundo dos mortos, uns e
outros tendo suas prticas, suas crenas, suas atitudes, definidas, em alguns casos,
pela alteridade e, noutros, pelo reflexo. Consideramos a percepo que os
cordelistas tm do outro mundo enquanto lugar ativo na consecuo dos desejos
terrenos.A coletnea organizada por Jos de Souza Martins,75 resultante de um
encontro sobre a morte realizado na USP, marca o debate sobre o assunto na
sociedade brasileira. A temtica tratada nas mais diversas perspectivas e
localidades. Apesar da heterogeneidade de abordagens, algumas bastante
embrionrias, percebe-se que as reflexes sobre a morte e o morrer (como fatos
socialmente vivenciados) conduzem a um maior entendimento das maneiras de ser
do homem e de sua relao com a vida. Nesta, so apresentados ensaios que sepreocupam com as prticas morturias, as formas de morrer, as idias sobre a morte
em pocas e sociedades distintas. Os autores lidam com fontes etnogrficas,
escritas e orais. Apontam para mentalidades e crenas diversas.
Joo Jos Reis76, em seu estudo sobre a resistncia, organizada pela
populao baiana no sculo XIX, transferncia dos mortos do mbito das Igrejas
74Octvio Paz, O Arco e a Lira, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.75 Jos de Souza Martins (org.), A morte e os mortos na Sociedade Brasileira, So Paulo: Hucitec,1983.76Joo Jos Reis,A morte uma festa: Ritos fnebres e revolta popular no Brasil do sculo XIX, SoPaulo: Companhia das Letras, 1991.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
32/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel32
para o cemitrio de Campo Santo, construdo para tal fim, centra sua anlise no que
diz respeito ao movimento conhecido comoA Cemiterada. Assim, que, faz todo um
debate sobre as ordens religiosas, suas formas de organizao em torno dos
funerais, as receitas, a quantidade de scios, o tipo econmico-social do scio, entre
outros aspectos que possibilitam compreender essas prticas, colocando-nos em
face de um rico arsenal de valores e atitudes da sociedade baiana para com a morte
e os mortos. Possibilita-nos compreender as reaes da populao poltica de
higienizao, ento em efetivao, em nvel mundial.
No corpusem anlise, podemos observar que os cordelistas demonstraram
preocupaes que tocam em muitos aspectos do cotidiano da morte na sociedade
brasileira.77 Em primeiro lugar, percebemos que eles evidenciam uma rede deprticas culturais78diante da morte e do morto79. Os poetas registram preocupaes
prprias das comunidades onde circula o cordel, dentre as quais podemos apontar:
dar sepultura ao corpo do morto, carpir e enlutar pesarosamente o defunto, purific-
lo, etc.
Em Os monstros da Paraba, de Manoel Camilo dos Santos, so narradas
histrias de crimes dos bandidos a quem o poeta chama de monstros. Este
totalmente contrrio aos cangaceiros e desordeiros, exaltando os corajosos que osaniquilam. Mas, o que focalizamos foi o fato dos vingadores preocuparem-se em dar
sepultura aos cadveres dos assassinos, independentemente destes no serem
indivduos apreciados pela comunidade, sobressaindo-se o carter cristo de
tratamento destinado ao morto.
Conforme coloca Brando, para o contexto cristo, os vivos devem cuidar do
corpo do morto, prepar-lo para o enterro e enterr-lo cumprindo, com ou sem a
presena de um sacerdote, os ritos religiosos, eclesisticos ou populares de
77Sobre o cotidiano da morte na sociedade brasileira veja: Jos de Souza Martins, op.cit. em queso apresentados estudos sobre comunidades indgenas, negras, tradicionais e modernas; RobertoDamatta, op.cit. que analisa a sociedade brasileira a partir da idia da relao entre trs aspectos: acasa, a rua e o outro mundo, numa perspectiva relacional, em que o terceiro aspecto umapossibilidade visualizada; Carlos Rodrigues Brando, op.cit. que ao analisar o rito de So Gonalo,apresenta diversos aspectos da relao entre vivos e mortos; Joo Jos Reis, op.cit. 1991 citado na
justificativa.78Roger Chartier, op.cit.79 Para DaMatta, op.cit., h sistemas que se preocupam com a morte modernos , negando omorto, e sistemas que invertem essa lgica seriam os tribais e tradicionais. Mais do que essasoposies entre o morto e a morte, interessa-nos em DaMatta sua reflexo sobre a sociedadebrasileira enquanto sociedade relacional.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
33/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel33
preceito80. Trata-se de uma prtica que visa a anular o poder malfico dos mortos
sobre os vivos, o que acontece mesmo quando se trata de um familiar ou ente
queridos: De alguma maneira at mesmo mais do que os vivos, os mortos
familiares, parentes, companheiros e amigos protegem e perseguem, ameaam e
rogam, ensinam e esperam81. Relao que tem em sua base as idias crists de
temor ao cadver, visto ser este impuro e poder contaminar todos aqueles que lhe
ficarem expostos82.
No plano das representaes criadas pelas histrias de mortos e sobre a
morte, vislumbra-se a imputao de uma conscincia ativa do outro mundo.
atravs de uma viso que leva em conta uma inter-relao deste com o outro
mundo que podem situarse esperanas para rupturas de quadros sociaisfortemente hierarquizados no mundo dos vivos: o outro mundo (...) um local de
sntese, um plano onde tudo pode se encontrar e fazer sentido. (...) tambm uma
realidade social marcada por esperanas, desejos que aqui ainda no puderam se
realizar pessoal ou coletivamente83.
Poderamos acrescentar ao raciocnio de Damatta, a partir do que
observamos nos cordis, que o outro mundo tambm pode ser pensado como
espao de aprofundamento de determinadas estruturas e de poderes terrenos.Portanto, ruptura e continuidade, dependendo da representatividade da personagem
ou idia versejada.
As histrias de morte de pessoas consideradas santas buscam ratificar esta
condio. A morte apresentada como um estgio transitrio, durante o qual lhes
inculcada uma purificao final que garante a continuidade da atuao. No outro
mundo, seus poderes tornam-se ampliados, pois que j habitam o paraso.
Em A lamentvel morte do Padre Ccero, Athayde nos coloca diante de umcenrio de choro torrencial protagonizado pelos fiis do sacerdote, bem como pela
natureza, que ganha uma aparncia enlutada, destacando a dor da perda e o grau
de poder do morto. A seguir, Athayde, constri uma narrativa em que o padre
atingido por uma morte-sono, distinta da morte comum, que o prepara para o triunfo
80Carlos Rodrigues Brando, op.cit. p. 207.81Idem, ibidem, p.191.82Sobre a impureza do morto, ver: Levtico, 21; Nmeros, 6,9, 19, 11-22, 31, 19-20; Ezequiel, 44, 25-27. Para todas as referncias bblicas consultamosA bblia de Jerusalm, So Paulo: Paulus, s/d.83Roberto Damatta, op.cit. p. 151.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
34/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel34
final: a entrada no cu, passando a habitar com a corte celestial, da qual,
subentende-se que passa a fazer parte.
Nesta perspectiva, tambm, que Joo de Cristo Rei personifica, em
Profecia, aviso e morte de padrinho Ccero Romo, uma natureza que se
metamorfoseia a fim de preanunciar o acontecimento funreo.
Dessa forma, a morte do padre Ccero serviu como coroao e garantia de
continuidade de sua atuao na comunidade de fiis. Pois se, quando vivo, j
gravitava em torno dele toda uma crena em poderes taumatrgicos, com a morte, o
elo se fortalece. Atribuda ao morto sua morte, abre-se a possibilidade de supor sua
imortalidade.84 O permanecer ou ficar, (...) significa tambm pelo menos em
tradies populares como a do catolicismo incorporar a memria do morto vidados vivos.85
De maneira geral, histrias de vises e sonhos, em que so recebidos avisos
e conselhos, so construdas, a partir da lgica que apresenta o morto, como
estando em posio de superioridade aos vivos, a fim de expor crticas polticas,
religiosas ou morais. Destas, podemos citar Carta de Tancredo ao presidente
Sarney, de Eugnio Dantas de Medeiros86, e O sonho do padre Amncio com o
padre Ccero no reino da salvao, de Antnio Balbino87
. Ou mesmo, no setratando de sonho ou viso, mas de resignificao de falas proferidas enquanto
vivos, que no caso do padre Ccero constitui mesmo um estilo, o das profecias e
avisos88.
A relao entre cu e terra - ou entre este mundo e o outro tem, nas
histrias de encontro entre fiel e santo no cu, o elemento atualizador da crena.
Nelas, o fiel tem uma demonstrao do espao de poder que Ele ocupa em meio s
divindades. O encontro entre Luiz Gonzaga e Padre Ccero no cu, de ApolnioAlves89, apresenta, na interferncia do sacerdote em favor do cantor diante de
Jesus, uma exemplificao visvel desta estratgia.
84Carlos Rodrigues Brando, op.cit. p.189.85Idem, ibidem.86Eugnio Dantas de Medeiros, Carta de Tancredo ao presidente Sarney, Crato-Ce: Academia doscordelistas do Crato.87Antnio Balbino, O sonho do padre Amncio com o padre Ccero no reino da salvao , Areia-Pb:
Tipografia Lopes, s/d.88Marinalva Vilar de Lima, op.cit.89Apolnio Alves dos Santos, O encontro de Luiz Gonzaga e Padre Ccero no cu, Campina Grande-PB: o autor, novembro de 1989.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
35/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel35
No universo do cordel, o outro mundo, tambm, o lugar em que dada a
possibilidade aos protagonistas de histrias de amores impossveis realizarem
seus afetos. atravs de uma viso que leva em conta uma inter-relao entre
mundos este e o outro mundo - que as esperanas para rupturas de quadros
sociais fortemente hierarquizados no mundo dos vivos podem ser situadas. Pois a
morte tambm pensada como promotora de isonomia, conforme explicita Enias
Tavares dos Santos, em A morte, o enterro e o testamento de Joo Grilo,
A morte o fim de tudo.Do boi, do burro e do rei(...) que a morte no perdoa;
Leva a velha encarquilhada,Leva a moa nova e boaPor mais sbio que algum seja,Marcha em sua canoa!90
Donde pode-se inferir que na morte, h um nivelamento e uma suspenso
das regras mundanas. Assim, o outro mundo torna-se um campo frtil para utopias.
Dessa forma que, por exemplo, Manoel Caboclo e Silva, em Alzenira e
Adalberto ou o casamento no cu91, constri uma histria de amor impossvel, que
de antemo tem na estrutura social de mando dos coronis o elemento central deantagonismo. Alzenira, filha nica do Coronel Leopoldo Pereira, apaixona-se por
Adalberto, rapaz pobre, filho de um morador das terras do pai da moa. Os jovens
enamoram-se s escondidas, mas to logo a me de Alzenira toma conhecimento
do fato, o romance entra em processo de interdio. Ao rapaz, estabelecida a
pena de retirar-se das terras do coronel, punio que visa a restabelecer na
conscincia dos jovens as convenes do universo em que habitam. O impedimento
externo aos amantes mas est colocado diante deles, a fim de promover oesquecimento da paixo, necessrio ao bloqueio dos amores impossveis e ao
restabelecimento das normas92. Entretanto, o distanciamento no vai atingir a meta
90 Enias Tavares dos Santos, A morte, o enterro e o testamento de Joo Grilo, p.03, estrofe 01,versos 01 e 02; p.03, estrofe 02, v. 02-06, respectivamente.91 Manoel Caboclo e Silva, Adalberto e Alzenira ou o casamento no cu, Juazeiro do Norte-Ce:Folhetaria Casa dos Horscopos, 07/09/1978.92Essa idia discutida por Igor Caruso, A separao dos amantes: uma fenomenologia da morte,
So Paulo: Cortez, Diadorim, 1989, que demonstra, atravs de toda uma reflexo sobre depoimentosde pessoas em processo de anlise clnica, que ao ocorrer a separao dos amantes, oesquecimento deve ser imposto deliberadamente a fim de afastar a possibilidade de morte biolgicados envolvidos. Cita um caso em que o esforo de esquecimento no teve sucesso e um dos sujeitos
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
36/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel36
desejada e a moa entra em profunda mortificao, resultando em sua morte
biolgica.
Se a histria de Manoel Caboclo finalizasse aqui, estaramos acrescentando,
talvez, mais um exemplo lista de amores impossveis, analisada por Caruso93,
especificamente no ponto em que o sucesso do esquecimento no atingido e a
vida posta em risco.
No entanto, a histria trabalha em planos que ultrapassam as abordagens em
que o advento da morte serve enquanto ponto de finalizao, deslocando-se para o
outro mundo. Eis que morre Alzenira e, aps um percurso labirntico e em situao
singular, Adalberto levado para o cu, onde se casam sob aprovao e beno da
corte celestial. O romance estabelece uma dinmica de vida/morte/vida,94permeadade elementos advindos do imaginrio cristo.
Nesse ponto, Brando coloca-nos uma afirmao que acreditamos til para a
percepo de mundo veiculada pelos cordelistas enquanto sujeitos que tm uma
estreita relao com a religio:
Se h entre todas uma antinomia bsica, irredutvel, entre vida e morte, uma religio
como o cristianismo procura no tanto negar sua evidncia natural(grifo do autor) quantodotar o segundo termo das caractersticas ampliadas do primeiro. (...) Pois a morte no
destri o morto, ainda que visivelmente extinga sua vida entre os vivos. Ela apenas o
desloca, isto , transporta-o para um outro mundo ou para uma sucesso de outras vidas
em outros corpos de outros planos de esprito e de matria, onde ao morto se garante a
sucesso de sua vida na passagem entre corpos e seres efmeros (...).95
Se o impedimento aos amantes repousa na diferena scio-econmica o
poeta tem clara conscincia de seus efeitos , o deslocamento da histria para umterritrio em que o poeta tem a imaginao liberada das amarras deste mundo
torna-se uma estratgia que, na medida em que possibilita um final feliz aos
personagens, aponta criticamente para os valores de hierarquizao social.
formadores do par de amantes se suicidou. Para ele, aps o afastamento, preciso que os amantesseparados vivam todo um processo de morte do outro para se auto-protegerem.
93Igor Caruso, op.cit.94 Mikail Bakhtin, A Cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de FranoisRabelais, So Paulo: Hucitec; Braslia: EDUNB, 1993.95Carlos Rodrigues Brando, op.cit.p.189.
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
37/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel37
Na histria de Manoel Caboclo, temos que, s adversidades advindas de um
universo scio-econmico estratificado, aponta a morte e o lugar dos mortos
mrtires como possibilidade de ruptura com o que, no plano terreno, est dado.
Interessa a Manoel Caboclo idealizar um lugar distinto do que est estabelecido na
sociedade dos homens, tendo sua fundamentao no poder da riqueza e da fora.
Neste sentido, a certeza da finitude humana lhe de grande utilidade, resultando
que o falar dela pode ter, tambm, o sentido de demonstrar a efemeridade do eixo
de sustentao mundana. O cu de Manoel Caboclo apresenta-se, em sentido
imediato, como sada para os amantes, mas no se restringe a esta compreenso. O
poeta, claramente, defende uma outra sociedade, pautada em princpios isonmicos
representados pelo discurso cristo, fazendo bom uso dele.No universo de narrativas sobre os amantes, em sua grande maioria, a morte,
ou a sua quase consecuo, utilizada como ttica que desfaz os antagonismos.
Mas, a voz de Joo Martins de Athayde, ecoa quase blasfematria. O poeta de
Areia-Pb faz opo distinta, ainda que, tambm, se resguarde no discurso cristo.
Como os demais poetas, Athayde, estabelece para seus pares romnticos um
universo estrutural que se lhes apresenta enquanto empecilho. No entanto, Athayde,
tem como marca distintiva a defesa de valores que do base a uma tradio cristem que a mulher, na dupla situao de esposa e filha, vista enquanto devendo se
submeter aos desmandos de um mundo de lgica masculina. Caracterizando um
teor misgino em seus folhetos. Neste sentido, as mortes das protagonistas servem
de exemplo da desobedincia com que se portaram para com seus pais.
Poderemos, se lermos os folhetos de forma ingnua, pens-los apenas pelo
imediatismo que, talvez, os ttulos explicitem. No entanto, no cmputo geral dos
folhetos vamos ter a veiculao de uma imensa diversidade de idias e intenes,ainda que possamos perceber fios aglutinadores. Ressaltamos que, tendo como
preocupao perceber as representaes, que perpassam as obras dos poetas, no
mbito da morte e a tudo que a ela se relaciona, procuramos estabelecer, nos
folhetos, caractersticas uniformizadoras que contriburam na compreenso das
questes citadas.
Neste estudo, pensamos a poesia popular, tambm, como uma espcie de
relicrio do tratamento estabelecido pela sociedade para com a morte, enquanto
preservadora do esprito humano, conservando sentimentos e prticas decorrentes
-
7/24/2019 A Morte Na Literatura de Cordel
38/205
Marinalva Vilar de Lima Loas que carpem: a morte na literatura de cordel38
do momento da morte e das exquias que estabelecem um eco na comunidade de
leitores/consumidores que lhes imprime suas marcas.
Guiados pelas preocupaes anunciadas, organizamos o trabalho de forma
que nos preocupamos, inicialmente, em discorrer acerca de nossa compreenso
sobre a Literatura de cordel, retomando algumas questes do debate, a ela
associado, pelo universo acadmico. Desta forma, sentimos a necessidade de
dedicar um captulo exclusivo para a discusso da idia de cultura popular, visto se
tratar de um conceito a que, tradicionalmente, os intelectuais vo associar
produo cordelista. Para esta discusso retomamos alguns pontos j anunciados
na investigao feita durante o mestrado, sendo estes