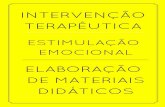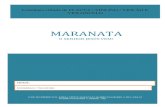Administração-Pública-e-Orçamento- Humberto-Cunha- · 2015-07-10 ·...
-
Upload
phungthien -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Administração-Pública-e-Orçamento- Humberto-Cunha- · 2015-07-10 ·...
Organização do Estado brasileiro
INTRODUÇÃO
O presente texto tem por objetivo apresentar a estrutura política essencial do Estado
Brasileiro, explicitando e correlacionando a forma federativa do Estado e a estrutura dos
poderes constituídos com a ideia de autonomia, esta que depende de recursos para a sua
materialização. Por isso, tópicos são dedicados às técnicas de obtenção e aplicação de tais
recursos, as quais necessariamente envolvem incursões nos temas da gestão e do
orçamento. O escrito se desenvolve no sentido de focar os interesses e as possibilidades de
participação das Organizações Não Governamentais na Administração Pública, sobretudo as
que lidam com temas culturais, a partir da exploração dos seguintes tópicos: Organização do
Estado brasileiro: pontos essenciais de história e teoria. A atual organização do Estado
Brasileiro – União, Estados/Distrito Federal e Municípios: federalismo cooperativista. A atual
organização dos Poderes no Brasil – Constituinte (originário e derivado), Legislativo,
Executivo e Judiciário: funções típicas e atípicas. Leis orçamentárias no Brasil: Lei de
Diretrizes, Orçamento Anual e Plano Plurianual: noções essenciais.
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO: PONTOS ESSENCIAIS DE HISTÓRIA E TEORIA
O Brasil foi fundado como país soberano no dia 7 de setembro de 1822; durante essa
existência, teve basicamente duas formas de organização: primeiramente, e durante quase
70 anos, foi um Estado unitário; depois, e até presente momento, ambicionou ser uma
federação, algo que independentemente da designação formal, de fato não conseguiu nos
momentos de ditaduras, tanto a do período Vargas (1937 a 1945), quanto a do regime
militar (1964 a 1988). Logo, praticamente se equilibram, em termos de tempo, nossas
experiências unitarista e federativa. Mas o que efetivamente significam uma e outra?
Um Estado unitário é aquele que centraliza os poderes; as diversas unidades que o formam
não têm autonomia, ou seja, não fazem as próprias leis, não escolhem livremente as
autoridades e não dispõem de fontes de recursos para custear as despesas; quando muito,
desenvolvem atividades delegadas pelo poder central, este que sempre prevalece, em
termos de decisão.
Já uma federação tem características opostas: nela também há uma gestão central que, no
entanto, convive com vários centros autônomos de poder, assim considerados porque, além
da capacidade de escolher as autoridades e dispor de fontes financeiras aptas a bancar suas
despesas, podem elaborar as próprias leis e constituições, sem o risco de as mesmas serem
revogadas ou modificadas pelo poder central, desde que respeitem os limites estabelecidos
pela Constituição Federal.
Destaca-‐se, assim, que uma das grandes importâncias de uma Constituição (carta jurídico-‐
política) para uma federação é a de distribuir as competências para fazer e executar as leis e
partilhar os recursos entre o poder central e os entes descentralizados.
Historicamente, uma federação surge de dois processos básicos; o primeiro deles é por
agregação (federalismo centrípeto) de países que deixam de ser soberanos e ficam apenas
autônomos, como aconteceu com as antigas colônias inglesas, que primeiro se tornaram
independentes e depois resolveram se juntar, formando os Estados Unidos da América do
Norte. O outro é o inverso, ou seja, por desagregação (federalismo centrífugo): decorre de
um Estado que era unitário e resolveu conceder autonomia às unidades políticas que o
compõem; esta é a situação do Brasil com relação às antigas Províncias, que hoje – e na
verdade desde 1891 -‐ chamamos de Estados.
Do mesmo modo que o Estado Unitário pode ser mais ou menos centralizador, o federalismo
pode ter características aproximadas, neste aspecto, podendo ser basicamente de dois tipos:
dual ou cooperativo.
O federalismo dual se caracteriza pela forte autonomia dos Estados-‐membros, uns em
relação aos outros, e destes para com a União (como geralmente é chamado o poder
central). Este tipo de federalismo gera curiosidades como a geralmente observada na
América do Norte (Estados Unidos da América), em que alguns Estados preveem e aplicam a
pena de morte, o que não ocorre em outros. Este exemplo lembra a grande autonomia nos
campos normativo e administrativo; mas ela também se estende ao campo das finanças, no
qual praticamente não há auxílios múltiplos. O Brasil já vivenciou uma experiência de
federalismo dual, durante a vigência da primeira Constituição Republicana de 1891, mas
cujos resultados deixaram como grande marca a formação de oligarquias nos Estados, os
quais se recusavam a cumprir leis de caráter nacional, até mesmo as que diziam respeito aos
direitos humanos.
O federalismo cooperativo ou cooperativista, como a expressão revela, opera-‐se por meio
de forte colaboração entre os entes públicos. Esta colaboração se dá basicamente em três
campos: na criação das leis, na execução das políticas e repartição das riquezas materiais.
Naquilo que é relativo à criação das leis, embora existam algumas que são privativas de cada
ente político, considerável parte delas é feita em colaboração, sendo que o poder central
define os contornos mais amplos (normas gerais) e os locais fazem a disciplina específica
levando em consideração a sua realidade (legislação suplementar).
Em termos de execução, no federalismo cooperativista abundam os chamados sistemas de
políticas públicas (de saúde, educação, segurança, cultura, etc), pelos quais são definidas as
responsabilidades e atribuições de cada um, visando racionalizar a utilização de recursos e
dar eficiência aos serviços. A distribuição das atribuições geralmente segue o critério da
afinidade: a administração central fica responsável pelos aspectos mais genéricos,
complexos e raros, e os demais entes com os mais específicos, simples e universalizados.
Sobre a repartição de riquezas, ela é efetuada com a indicação, pela Constituição e pelas leis,
de recursos necessários e pretensamente suficientes para que os entes políticos custeiem
suas despesas. Tais recursos vêm da exploração de bens e serviço e, principalmente, da
cobrança e partilha de tributos, seja na forma de impostos, taxas e/ou contribuições.
No quadro adiante, a síntese esquemática da teoria das formas de Estado:
No quadro abaixo, a síntese de como o Brasil foi designado e organizado em cada uma das 8
(oito) Constituições que adotou, desde 1824 até hoje:
A atual organização do Estado brasileiro
Enquadrando o Brasil na doutrina acima desenvolvida, nota-‐se que nosso país é, atualmente,
uma federação cooperativa e sui generis. Essas características, aliás, podem ser vistas no
primeiro artigo da Constituição, no qual se lê que a República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-‐se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o
pluralismo político.
O caráter sui generis, ou seja, diferenciado, da federação brasileira reside basicamente no
fato de que os entes que a formam não são apenas os Estados -‐ como de regra ocorre em
outros países-‐, mas também os Municípios, que aqui são autônomos, possuindo até mesmo
uma Constituição própria, a qual recebe a designação de Lei Orgânica, apenas por questão
de tradição, já que anteriormente havia uma única Lei Orgânica elaborada por cada Estado
para todos os seus Municípios; a partir de 1988, cada Município passou a elaborar sua
própria Lei Orgânica, respeitando os limites estabelecidos pelas Constituição Federal e a de
seu próprio Estado. Situação muito parecida ocorre com o Distrito Federal, onde fica a
Capital do país, também dotado de autonomia e configurado como um misto de Estado e
Município.
O setor cultural fornece exemplo muito forte pelo qual se materializa o federalismo
cooperativista, em nosso país. No que concene à criação das leis sobre o tema, o Art. 24 da
Constituição Federal determina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, bem
como sobre cultura, de uma maneira geral. Neste tocante, os municípios não ficam de fora,
apenas suas prerrogativas são tratadas em dispositivo específico, o Art. 30, no qual consta
que a eles compete promover a proteção do patrimônio histórico-‐cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual1.
No que concerne à execução de tarefas previstas para o campo cultural, a Constituição (Art.
23) determina ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: conservar o patrimônio público; proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos; impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; proporcionar os meios de acesso à
cultura. Em palavras simplificadoras, proteger e incetivar a cultura, a qual se torna
observável pelo patrimônio dela decorrente, cuja compreensão é justificadamente grandiosa
e integrada pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. São exemplos constitucionais dos mencionados bens,
que reafirmam o gigantismo da cultura: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e
viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-‐culturais; e os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (Art. 216).
A aliança dos entes públicos e demais atores sociais para o cumprimento de suas obrigações
e o exercício de seus direito relacionados à cultura ficou mais evidente a partir de um
acréscimo feito à Constituição Federal, pela Emenda nº 71/2012, que adicionou
expressamente o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de
forma descentralizada e participativa, o qual institui um processo de gestão e promoção
conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais . A mútua ação é
enfatizada, ainda, por princípios atribuídos ao SNC, tais como: cooperação entre os entes
federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; integração e interação
na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; complementaridade
nos papéis dos agentes culturais; transparência e compartilhamento das informações; e
descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações (Art. 216-‐A).
Para o exercício da autonomia, condições materiais são indispensáveis ; por isso, cada
unidade da federação tem o poder de cobrar os tributos que a Constituição permite. Por
outro lado, o regime de colaboração dos entes da federação brasileira se consolida,
adicionalmente, na mútua assistência, que se concretiza por meio do repasse de recursos
(preponderantemente financeiros) de uns aos outros; referidos repasses, quanto à
imperatividade, são classificados como voluntários ou obrigatórios.
A colaboração voluntária geralmente se materializa, em termos jurídicos, por meio de
convênio, no qual ficam ajustadas as obrigações das partes, para o desempenho de atividade
que seja do interesse e da responsabilidade comuns. Os repasses obrigatórios são os
determinados na Constituição Federal e se operam de forma automática na partilha de
tributos, com entrega direta ou por meio de fundos de participação, havendo um que é
destinado aos Estados e outro aos Municípios.
No quadro que segue, uma panorâmica muito simplificada, porém suficientemente
ilustrativa dos impostos arrecadados por cada ente da federação, bem como as destinações
obrigatórias:
1 Nota da coordenação: tal legislação e suas explicações foram estudadas na disciplina Educação para o Patrimônio – Educação Patrimonial, que abordou tanto os Artigos referentes ao assunto na Constituição Federal como as leis específicas do Estado do Rio de Janeiro.
A atual organização dos poderes no Brasil
Tanto em termos teóricos como especificamente no caso brasileiro, toda a distribuição das
tarefas e dos recursos, como visto, é feita pela Constituição que, por sua vez, é criada pela
mais forte força que pode surgir em um país, o Poder Constituinte Originário.
Ao fazer a Constituição, para operacionalizá-‐la, ou seja, materializar aquilo que ela
determina, são estabelecidas outras estruturas, genericamente conhecidas como poderes
constituídos, aos quais, dentro de certos limites, são atribuídos o exercício de certas
funções. Atualmente referidos poderes são :
-‐ Poder Constituinte Derivado: sua tarefa é modificar a Constituição, por meio de um
processo legislativo mais complexo e difícil que o usado para a criação das leis; sua limitação
está na impossibilidade de abolir valores considerados essenciais, a saber: a forma
federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes;
e os direitos e garantias individuais.
-‐ Poder Legislativo -‐ tem duas funções preponderantes : elaborar as leis e fiscalizar a sua
execução, o que é muito importante porque qualquer ato que o Estado de Direito pratique
deve estar previamente autorizado por uma norma e, ademais, ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em vitude de lei.
-‐ Poder Judiciário – sua função preponderante é solucionar os conflitos concretos, sejam
individuais ou coletivos, interpretando e aplicando a lei, atuando de forma imparcial
relativamente às pessoas e entidades envolvidas na disputa.
-‐ Poder Executivo – sua função é a de executar as leis, excetuando o que é atribuição do
Poder Judiciário. No Brasil, é um poder fortíssimo que, ademais, do ponto de vista interno,
controla a administração, as finanças e as forças armadas; externamente, representa o ente
público perante terceiros; na relação com outros poderes, participa da elaboração das leis,
com a iniciativa, o veto e/ou a sanção, bem como indica e nomeia autoridades.
Cada poder constituído, reitera-‐se, além de exercer suas funções próprias (as acima
mencionadas) também tem funções atípicas, precisamente as que são típicas dos outros
poderes, mas em dimensão idealmente mínima, apenas para resguardo de suas
indepedências. Exemplos: o Executivo e o Legislativo julgam seus servidores em processos
administrativos; o Judiciário edita nomas de seus regimentos internos.
O poderes, ademais, se materializam por meio de órgãos, que adotam e executam suas
deliberações; na complexa federação brasileira, os órgãos representativos dos distintos
poderes podem ser panoramicamente vistos no seguinte quadro :
Convém fazer comentários mínimos sobre comparações relativas às estruturas
apresentadas:
-‐ Sobre as casas legislativas: enquanto os Poderes Constituinte Derivado e Legislativo as dos
Estados Distrito Federal e Municípios atuam por meio de uma única câmara ou casa
(unicameral), os da União atuam pelo sistema é bicameral (duas câmaras ou casas), que são
a Câmara dos Deputados (representando o povo) e o Senado Federal (representando os
Estados);
-‐ Os órgãos de cúpula do Poder Executivo, em todos os entes da federação, são
monocráticos, ou seja, uma única autoridade adota as decisões finais em seu âmbito de
competência;
-‐ Quanto ao Poder Judiciário, os Municípios não o possuem; o Distrito Federal, mesmo o
possuindo, referido é instituído e mantido pela União; a União e os Estados o têm de forma
Leis orçamentarias no Brasil LEIS ORÇAMENTARIAS NO BRASIL: LEI DE DIRETRIZES, ORÇAMENTO ANUAL E PLANO PLURIANUAL: NOÇÕES ESSENCIAIS.
Viu-‐se, acima, que cada ente da federação brasileira, para efetivar a sua autonomia, tem
recursos próprios, resultantes das atividades econômicas que pratica, mas principalmente
dos tributos que institui e arrecada, e dos recursos que a ele são repassados, por
determinação constitucional.
O ingresso de tais recursos nos cofres públicos, bem como a aplicação dos mesmos na
aquisição de bens e pagamento de serviços e de pessoal, embora resultem de deliberações
políticas, devem ser feitos por critérios técnicos, que objetivam dar máxima eficiência e
transparência à Administração. Referidos critérios integram as chamadas leis orçamentárias,
que são em número de três, abaixo mencionadas e caracterizadas:
-‐ O plano plurianual (PPA): a lei que o instituir deve estabelecer, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública para:
• as despesas de capital -‐ assim consideradas as feitas com o propósito de criar bens
patrimoniais ou de uso da população, a exemplo da construção de prédios -‐, e outras
delas decorrentes;
• as despesas relativas aos programas de duração continuada (os que ultrapassam um
ano contábil).
O objetivo desta lei é controlar os planos e ações permanentes ou de longo prazo. A
importância dela pode ser mensurada pelo fato de que a Constituição determina a
tipificação como crime do ato de iniciar investimento (despesas) cuja execução ultrapasse
um exercício financeiro, sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a referida
inclusão.
-‐ As diretrizes orçamentárias (LDO): a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas
e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital (ver definição no
item acima) para o exercício financeiro (ano) subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. É, em síntese, o
instrumento por meio do qual o governo estabelece as principais diretrizes e metas da
Administração Pública para o prazo de um exercício. Ela estabelece um elo entre o Plano
Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, uma vez que reforça quais programas relacionados no
PPA terão prioridade na programação e execução orçamentária.
-‐ Os orçamentos anuais (LOA): É a lei que estima, ou seja, faz uma previsão dos valores da
receita e fixa os valores da despesa para determinado exercício ou ano contábil. É a partir da
LOA que o cidadão identifica a destinação dos recursos que o governo recolhe sob a forma
de impostos. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento.
Embora tecnicamente complexas, as leis orçamentárias precisam ser conhecidas, pelas
razões já mencionadas. Evidencia esta necessidade de conhecimento, por exemplo, algo do
ponto de vista prático: o repasse de recursos dos órgãos públicos às instituições do plano
privado, quer tenham ou não fins econômicos; convém dizer que, segundo o Art. 26 da Lei
Complementar nº 101/2000 -‐ a que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal-‐, somente é possível a destinação de recursos para, direta
ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas se
autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
Logo, uma militância cidadã deve focar a estratégia de fiscalizar e influenciar na elaboração
das leis orçamentárias, pois nas mesmas estão as balizas e limitações dos recursos que dão
sustentáculo às políticas públicas.
CONCLUSÃO
Conhecer minimamente a forma pela qual o país se organiza, os poderes, deveres e
competências dos entes que o compõem, é indispensável a um exercício seguro e
producente da cidadania, pois permite entender a mecânica de funcionamento do Estado e
de sua relação com a sociedade.
Saber de onde vêm e como devem ser aplicados os recursos públicos também segue a
mesma lógica de inserção das pessoas no âmbito das decisões que afetam a vida em
coletividade.
Tais conhecimentos geram como consequência política principal a possibilidade de
direcionar as forças de participação, reinvindicação e fiscalização aos canais adequados,
aprimorando substancialmente a própria democracia, que pode, por tais razões, migrar da
desgastada ideia meramente representativa para a desejada prática participativa.
Bibliografia
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15 ed. rev. e atualizada por
Dejalma de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Texto promulgado em 16 de
julho de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 jun. 2012.
CUNHA Filho, Francisco Humberto: A Utopia da Descentralização: o arremedo da
autonomia dos Estados na vigente Constituição Federal Brasileira; In: REVISTA DA OAB-‐CE –
Nº. 07 – JANEIRO-‐JUNHO/2002 Fortaleza: OAB-‐CE, 2002.
CUNHA Filho, Francisco Humberto: Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura:
Contribuição ao Debate. Fortaleza: Edições UFC, 2010.
GOMES, Ana Paula de Oliveira. Democracia, Qualificação dos Interlocutores e Orçamento
Participativo. In: Revista do Instituto Brasileiro do Direito: Ano 1 (2012), nº 11, 6687-‐6708 /
http://www.idb-‐fdul.com/
LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências Federativas: na constituição e nos precedentes
do STF. Bahia: JusPODIVM, 2012.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2010.