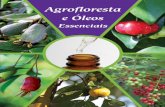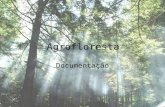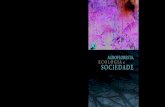Agrofloresta PROJ Referencial Corrigido Sirlei
-
Upload
api-26763370 -
Category
Documents
-
view
545 -
download
26
Transcript of Agrofloresta PROJ Referencial Corrigido Sirlei
pr efcioa questo ambiental, em busca de um desenvolvimento sustentvel, tornou-se um dos temas mais debatidos neste final de sculo. certamente, tambm ser um dos temas centrais de todo o grande debate poltico a respeito da vida dos homens no prximos sculo. no poder ser apenas tema de debate, ser, de fato, um dos maiores desafios, seno o maior, para a sobrevivncia do prprio homem. ns somos natureza, somos vida e dependemos para a nossa sobrevivncia do respeito natureza, vida. temos o direito inalienvel de exigir o respeito vida; temos o dever intransfervel de cuidar da vida, principalmente, sob o aspecto do direito dos outros, de modo especial, daquelas que viro aps, seja como nossos filhos ou geraes futuras. essa concepo se concentra especialmente, nos direitos e deveres do homem. no entanto, se ele os cumprir, estar aberto o caminho para o direito das plantas e animais, das guas e do ar. ser um longo caminho de amadurecimentos, mas dever ser comeado por cada um de ns. hoje j temos conhecimento suficiente para no aceitamos mais a falta de responsabilidade social da pessoas, no que diz respeito questo ambiental. preciso criar as condies para que todos possam assumir essa responsabilidade, sem a imposio de limites geogrficos ou das nacionalidades, com viso planetria e holstica. foi com essa preocupao que a direo da fidene/uniju iniciou os contatos com organismos de apoio e cooperao internacional, visando a parceria em projetos ambientais, especialmente de reflorestamento. vrias foram as organizaes contactadas, desde 1991, com o intuito de obter o apoio a projetos que permitissem alavancar atividades, voltadas questo ambiental e ao desenvolvimento sustentvel. os contatos com a e.z.e. central evanglica de ajuda para o desenvolvimento, iniciaram em 1992, aps a prestao de contas de projetos anteriores, voltados construo de infra-estrutura da uniju. seguiu-se um longo debate entre fidene/uniju, aipan (associao ijuiense de proteo ao ambiente natural), arfor (associao de reflorestamento obrigatrio regional), ibama (instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renovveis), drnr (departamento de recursos naturais renovveis), emater/rs (associao riograndense de empreendimentos de assistncia tcnica e extenso rural) de iju e ambientalistas sobre o projeto a ser desenvolvido. em 1995 obteve-se a aprovao do projeto de reflorestamento e meio ambiente, com o apoio de 57% de seu financiamento sendo custeado pela e.z.e. . com isso so dadas a s condies iniciais para a grande jornada de responsabilidade e compromisso com a defesa e a recuperao ambiental, com vistas a um desenvolvimento sustentvel. assim como todo o projeto dessa natureza, esse tambm exige vontade poltica dos dirigentes das entidades envolvidas e o esforo consciente e determinado por parte daqueles que devem, individualmente, assumir o reflorestamento em suas propriedades os agricultores. o projeto visa o incentivo ao reflorestamento ambiental e ao reflorestamento com finalidade de explorao econmica. alm do incentivo piscicultura e apicultura, que so atividades econmicas, por natureza, exigentes em termos de proteo a respeito natureza. o sucesso do projeto depende, acima de tudo, desses fatores polticos, culturais e econmicos. se no formos capazes de reverter a situao das condies ambientais, a partir do nosso esforo e iniciativa, no poderemos exigir que os outros cumpram a parte que lhes cabe nesse processo complexo e desafiador. o projeto regional de reflorestamento e recuperao ambiental traz em seu bojo a vontade poltica e o compromisso de muitos organismos e cidados com a luta por um desenvolvimento equilibrado e sustentvel. ele deve ser visto, conduzido e vivenciando como processo pedaggico onde todos temos a aprender fazendo, confrontando as informaes, as nossas prticas e os nossos conhecimentos com vistas construo das solues. os autores do texto referencial terico do projeto, como primeira contribuio ao processo, colocam nele a sua viso terica, a sua interpretao e percepo histrica do problema, as suas recomendaes tcnicas para o encaminhamento das solues, enfim, as suas expectativas de resultados. o caminho da construo coletiva comprometida, responsvel e aberta, elemento bsico do processo pedaggico que nos dever conduzir a novas concepes e atitudes diante das questes ambientais, especialmente, a do reflorestamento ecolgico. walter frantz presidente da fidene (fundao de integrao, desenvolvimento e educao do noroeste do estado) e reitor da uniju (universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul).
projeto regional de reflorestamento e recuperao ambiental
referencial terico
revisado 1999 engo florestal alexandre f. barnewitz ibama tco agrcola vito a. cembranel emater/rs
2
eze - central evanglica de ajuda ao desenvolvimento fidene presidente walter frantz saa secretrio csar augusto schirmer emater presidente caio tibrio da rocha drnr diretora marg guadalupe antonio ibama superntendente rs - nelton vieira dos reis aipan presidente benhur lenz csar mafra m a delegado estadual clvis a schwertner arfor iju presidente nilo rubem leal da silva santo ngelo presidente antnio warpechowski santa rosa presidente oscar btenbender trs passos - presidente joo pedro weiler giru presidente vazulmiro fernandes orientao raimundo paula diniz revisores tcnicos - osrio a. lucchese, geraldo ceni coelho. lio dreilich e nilo leal da silva criao /arte elias schssler e vilson maurio mattos agradecimentos a nossas esposas, filho e filhas pela compreenso e apoio que nos dedicaram. as equipes municipais da emater de iju, catupe e augusto pestana pelo apoio. aos departamento da unijui, irder, dbq, e reitoria pela colaborao prestada. ao doper-det- setor de multimeios da emater/rs pela orientao. ao ibama, drnr e arfors pelo apoio tcnico. dedicao aos secretrios de agricultura, aos colegas da emater e arfors, aos professores e extensionistas das comisses municipais do municpios comveniados que tero a nobre tarefa de levar aos agricultores, lideres e estudantes a idia de vivermos em um ecossistema mais equilibrado. os autores
3
indice apresentao...................................................................................................................5 1. objetivos.......................................................................................................................6 2. o grande problema.......................................................................................................6 3. causas...........................................................................................................................8 4. conseqncias.............................................................................................................8 5. solues......................................................................................................................9 6. reviso tcnica............................................................................................................11 6.1. porque do reflorestamento........................................................................................11 6.1.1. importncia da floresta..........................................................................................11 6.1.2. importncia da fauna e flora associado..................................................................13 6.1.3. influncia da floresta no micro-clima e no solo....................................................14 6.1.4. equilbrio ecolgico...............................................................................................16 6.2. porque reflorestar......................................................................................................19 6.3. onde reflorestar.........................................................................................................22 6.3.1. reas recomendadas para reflorestamento............................................................23 6.4. como reflorestar........................................................................................................26 6.4.1. qualidade da muda.................................................................................................26 6.4.2. sistemas de reflorestametno...................................................................................27 6.4.3. plantio....................................................................................................................36 6.4.4. tratos culturais........................................................................................................37 6.4.5. combate a pragas...................................................................................................38 6.4.6. manejo das florestas...............................................................................................39 6.4.7. problemas do reflorestamento...............................................................................43 6.5. descrio das espcies..............................................................................................44 6.5.1. exticas..................................................................................................................44 6.5.2. nativas....................................................................................................................494
7. resultados esperados....................................................................................................55 7.1. diagnstico................................................................................................................55 7.1.1. dados gerais dos municpios..................................................................................55 7.1.2. classes de capacidade de uso do solo.....................................................................56 7.1.3. dados sobre recursos florestais..............................................................................57 7.1.4. dados sobre apicultura e piscicultura.....................................................................59 7.1.5. dados sobre a utilizao da matria-prima florestal..............................................60 7.2. balano energtico e dficit florestal de iju.............................................................61 7.3. metas em dez anos....................................................................................................62 7.4. sugesto de plos de produo.................................................................................63 7.5. experincia que est dando certo..............................................................................66 7.6. isso 14.000................................................................................................................67 7.7. relao custo/benefcio.............................................................................................68 8. metodologia da soluo.............................................................................................69 8.1. o projeto....................................................................................................................69 8.2. estrutura do projeto de reflorestamento....................................................................70 9. benefcios.....................................................................................................................71 9.1. exemplo prtico........................................................................................................71 9.2. nosso projeto.............................................................................................................72 referencial bibliogrfico.................................................................................................74
5
apresentao o presente trabalho tem a finalidade de trazer contribuies, sobre o reflorestamento e recuperao ambiental, aos membros das comisses municipais do projeto regional de reflorestamento e recuperao ambiental , somando-se aos esforos locais. o mesmo faz parte do material instrucional da campanha regional de reflorestamento e visa nivelar conhecimentos e instrumentalizar os parceiros nas aes em cada municpio. estes produtos instrucionais em conjunto com o ensino forma, no formal e a mdia, buscam aumentar a abrangncia de forma eficiente e eficaz para atingir os rinces. so eles: referencial terico vdeo educativo vt 30 cartazes folder lminas para retroprojetor spot para rdio formulrio de curso e palestra kit demonstrativo
6
projeto regional de refloretamento e recupeo ambiental
referencial terico desenho? 1)objetivos conscientizao para o reflorestamento, visando promover uma mudana de mentalidade. promover o planejamento e utilizao racional do solo, visando elevar a qualidade de vida dos agricultores, populao em geral; aumentar a produtividade agropecuria e reverter o quadro de degradao do meio ambiente; implementar aes que levem o agricultor a efetivar estas mudanas; oferecer alternativa de produo, reflorestamento econmico, ecolgico e sistemas de produo onde a floresta venha a ser uma cultura complementadora da piscicultura e apicultura. viabilizar o reflorestamento ecolgico visando a recuperao dos recursos naturais (mata ciliar, por exemplo); produzir mudas de alta qualidade; ocupar com florestas, reas ociosas e improdutivas; melhorar o equilbrio ecolgico de modo a contribuir no controle biolgico de pragas e doenas; melhoria da qualidade de vida explorando racionalmente a atividade florestal, obtendo renda.
2)o grande problema reduo da rea florestal atravs do desmatamento, levando a uma m utilizao dos recursos naturais com agravamento da situao ambiental e econmica em nossa regio, bem como no estado. ***(ver mapa ibama (ibdf) as 3 situaes de cobertura florestais, original, 82 e 90) 3)causas colonizao pelos imigrantes europeus a partir do sculo xix;7
revoluo verde com implantao de uma agricultura agroexportadora a partir da dcada de 50; diviso das propriedades pelos herdeiros dos colonizadores levando derrubada de matas em reas inapropriadas para cultivo anuais e pastoreio; poltica governamental que incentivava os proprietrios a desmatar (financiamento), considerando rea de mata nativa como sendo improdutiva, inclusive com impostos mais elevados; m utilizao do solo com tcnicas inapropriadas de plantio e manejo; falta de formao de conscincia conservacionista do solo, da gua e dos recursos naturais; mecanizao excessiva da agricultura e implantao de sistema de monocultura, que levaram ao empobrecimento do solo, provocando a expanso da fronteira agrcola o gerou o desmatamento; 4)conseqncias reduo da cobertura florestal nativa para nveis inferiores a 2,6 % no estado; eroso gentica e seleo negativa das espcies florestais araucria e grpia ; aumento do impacto dos fenmenos meteorolgicos como as precipitaes elevadas, ventos, geadas, variaes de temperatura e de umidade do ar, acarretando enxurradas, temporais, secas e reduo de produtividade agropecuria; aumento do co2 na atmosfera, o que contribu para o efeito estufa; deteriorao do solo por: eroso, perda de fertilidade e estrutura, reduo de matria orgnica do solo; rebaixamento dos lenis freticos, irregularidade de vazo dos rios, reduo do nmero de fontes e de sua potabilidade, aumento da turbidez da gua, aumento de fertilizantes e agrotxicos nos mananciais hdricos, reduo da piscosidade dos rios, assoreamento de barragens e rios, aumento dos custos para potabilizar gua e produzir energia; perda de reas com florestas nativas, acarretando reduo da oferta de produtos florestais nobres com diminuio no nmero de empresas (empregos), e maior exportao de recursos financeiros com a compra de matria prima e produtos de outras regies; dependncia da produo de gros com conseqente descapitalizao dos agricultores levando a uma deteriorao econmica nos diversos segmentos da economia regional; aumento gradativo dos custos de produo das lavouras e o agravamento da desestruturao dos sistemas de produo, especialmente provocados pelo manejo incorreto e utilizao intensiva de insumos e agrotxicos, acarretando a perda de sustentabilidade destas unidades; diminuio da qualidade de vida da populao regional devido ao desequilbrio ambiental e econmico. 5)solues: a soluo da problemtica ambiental passa por dois aspectos importantes: - o controle8
do gs carbnico (co2) na atmosfera e a busca de alternativas energticas para o prximo sculo, baseada nos recursos naturais renovveis, com o incremento da cobertura florestal atravs do: reflorestamento econmico: com diferentes espcies, gerando alternativas concretas para viabilizar indstrias de transformao de produtos florestais; reflorestamento ecolgico: visando recuperar reas de preservao permanente (margens de rios, riachos e barragens), reas degradadas pela m utilizao do solo, reas de emprstimo (beira de estradas), como protetora de reas de lavouras e construes (quebra ventos) e em aterros sanitrios, contribuindo para o equilbrio agroecolgico; apoio a atividades complementares ao reflorestamento como apicultura e piscicultura, que so incompatveis com o uso indiscriminado de agrotxico; estmulo a preservao dos remanescentes de vegetao nativa, que mantm o equilbrio agroecolgico preservando tambm a biodiversidade; justificativa: o estado tem 42% de sua rea com aptido para o reflorestamento segundo as classes de capacidade de uso do solo (classes vi, vii, viii), podendo ser um grande fornecedor de matria-prima florestal para o pas, segundo rocha 1990. a regio noroeste tem esta aptido destacada porque originalmente era coberta de mata. no ano 2000 o brasil ter um consumo de 9,7 milhes de hectares igual a 95,4 milhes de metros cbicos conforme souza, aflovem (1987). grfico 1 capacidade de uso do solo para rio grande do sul (rocha,1990).uso do solo
58%
42%
6) reviso tcnica 6 1.)por que do reflorestamento: introduo: tendo em vista o grande problema do desmatamento, a diversidade de trabalhos que esto sendo executados e a necessidade de padronizar a linguagem , os conhecimentos e as aes dos extensionistas dos municpios conveniados ao projeto e considerando a grande importncia do reflorestamento e a complexidade do tema em questo, passamos a fazer a seguinte reviso tcnica . a flora, a fauna, o clima, o solo, a gua, a diversidade gentica, o plantio, a situao atual, a legislao e o manejo florestal so alguns dos tpicos a serem revisados. sobre tudo porque consideramos o reflorestamento como sendo a uma alternativa vivel para procurar melhorar a situao scio-econmica da propriedade rural e buscar resolver o problema ambiental da regio noroeste do estado, com vistas ao9
desenvolvimento sustentado e a garantira de melhor qualidade de vida. 6.1.1) importncia da floresta protege o solo que reveste. evita a eroso. promove a infiltrao das chuvas no solo, at a proporo de l40 mm por hora. regula o micro-clima e o ciclo das guas. fornece matria orgnica para o solo. enriquece o solo ao contrario de empobrec-lo. (retira os nutriente das camadas inferiores e os traz para a superfcie). fornece ao solo uma melhor textura e estrutura, pela acumulao de matria orgnica. um filtro natural da poluio, reciclando o co2. recupera reas deterioradas e erodidas. serve de quebra vento e abrigo para animais. serve de refgio para fauna e inimigos naturais. protege o solo em margens de rios, fontes dgua, reas declivosas e topos de morros (reas de preservao permanente). fornece bens de consumo (renda em dinheiro) **figura
figura no 2: a floresta ameniza os fenmenos meteorolgicos. fonte: ibdf,1986
resumindo serve para preservar o solo, gua, ar, diversidade da flora e fauna; gerando equilbrio ambiental fundamental para a perpetuao das espcies vivas inclusive a dos homens. este equilbrio somente ser atingido se tivermos 25 % da rea coberta de floresta segundo a onu e fao (citada por rocha l990). 6.1.2) importncia da fauna e flora associadas na natureza as florestas sempre estiveram associadas aos animais e vice-versa. a floresta fornece abrigo e alimento para a fauna que controla as pragas com seus inimigos naturais. a fauna ainda contribui na disseminao das plantas. os animais alimentam-se de vegetais e de outros animais formando a cadeia alimentar, e controlando as populaes naturalmente . os animais herbvoros alimentam-se da vegetao e por sua vez passam a ser o alimento dos animais carnvoros, e estes, juntos com seus dejetos, so alimentos dos10
decompositores que devolvem elementos nutritivos ao solo, beneficiando os vegetais e completando a cadeia alimentar . o homem no pode destruir a cadeia alimentar e causar desequilbrio nos ecossistemas. por exemplo: destruindo os animais que comem os insetos, esses aumentam at se constiturem em pragas para a agricultura, (cada morcego come 500 insetos por dia, conforme rocha, 1990). a destruio da cadeia alimentar responsvel pelo desaparecimento de muitas espcies. desde o ano l600 j desapareceram no mundo 360 espcies de animais e nos ltimos 2000 anos desapareceram l00 espcies de mamferos (rocha 1990). hoje so catalogados 300 espcies de animais brasileiros em via de extino. a maior concentrao de fauna encontra-se nos ecossistemas de banhados, por exemplo: peixes, crustceos, aves, rpteis, mamferos, uma infinidade de insetos e microorganismos. a alterao desses ecossistemas, atravs de drenagens no propsito de tornar agricultveis, no recomendada sob pena de causar srios desequilbrios ecolgicos. esta prtica tem influncia na ocorrncia de espcies vegetais e animais e causam rebaixamento no lenol fretico gerando danos catastrficos. uma das principais funes da fauna associada a flora diz respeito a polinizao feita por insetos e pequenos animais, alm claro, da disperso de sementes por aves e mamferos (por exemplo o pinho que a gralha azul planta e as sementes de palmeiras que os esquilos disseminam ao esconder estas frutas para com-las mais tarde). 6. 1.3.) influncia da floresta no micro-clima e no solo ***(usar desenho esquemtico do ciclo da gua ou ciclo das chuvas)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
precipitao (chuvas) intercepo (em culturas, rvores, solo, etc.) gotejamento de copa (gua goteja da copa) fluxo de caule (gua escorre pelos caules) infiltrao(gua penetra no solo) interfluxo (fluxo subsuperficial) escoamento superficial ( enxurrada) armazenagem deprecional ou superficial (reteno) percolamento ou fluxo de base evapotranspirao deteno superficial
figura no 3: componentes do ciclo hidrolgico. fonte: epagri, 1994.
a floresta sinnimo de preservao de gua e regularidade do micro-clima. o cho das matas funciona como uma esponja, retendo a gua das chuvas e liberando-a aos poucos, para os lenis freticos que mantm as fontes e cursos dgua. a evaporao e a transpirao aumentam a umidade relativa do ar, evitando11
mudanas bruscas de temperatura, formando nuvens e depois novas chuvas sucessivamente. a regularidade do micro-clima e do regime de chuvas est condicionando a manuteno da floresta. a mata oferece condies ideais para que a gua da chuva se infiltre rapidamente no solo e assim evite a eroso, permanecendo mais tempo no local em que cai e passando a abastecer as fontes e a alimentar as plantaes. retornando atmosfera, aumenta a umidade do ar, criando condies para novas chuvas. a umidade do ar tambm evita mudanas bruscas de temperatura. a floresta reduz a velocidade dos ventos, agindo como refrigeradora das massas de ar quente, que provocam vendavais, e tambm atuam como quebra ventos. da gua das chuvas que caem sobre florestas, 80 % retornam atmosfera atravs da evapotranspirao, aps passarem as chuvas.
figura n 4: esquema de intercepo da gua da chuva segundo maixner).
uma rvore do tipo sibipiruna sozinha, transpira no vero cerca de 400 litros de gua por dia. isto eqivale ao efeito refrescante proporcional a 4 aparelhos de ar condicionado ligados durante 24 horas por dia (revista natureza, edio especial rvores ornamentais, editora europa, 1996). as concentraes mundiais de co2 (gs carbnico),na atmosfera, antes da revoluo industrial era de 290 ppm. atualmente com a queima dos combustveis fsseis, chega a nveis de 345 ppm, estas situao necessita ser revertida no prazo de 20 a 30 anos para evitar o efeito estufa prejudicial a vida do planeta. segundo ab saber, a.12
et alii, 1990, citado por schreder (1992). para reduzir os nveis de co2 na atmosfera, impe-se duas linhas: fixar rapidamente o excesso de carbono e pesquisar fontes de energia que reduzem a emisso de co2. transformando assim o modelo energtico atual, (hoje cerca de da energia primria no mundo so derivados de combustveis fsseis), para minimizar o efeito nocivo do excesso de co2 na atmosfera e contribuir decisiva e economicamente justificada, a forma recomendada o reflorestamento, segundo schreder (1992). a floresta fixa de 20 a l00 vezes mais carbono por unidade de rea do que plantaes ou pastos. isto nos revela alm da alta fixao de co2 da floresta, as propores que podem nos levar o desmatamento indiscriminado, conforme pacheco & helene,1990, citado por schreder (1992). 6.1.4) equilbrio ecolgico um ecossistema natural sem sofrer agresses fortes tanto naturais como humanas, tende a apresentar a capacidade de manter suas condies fsicas, qumicas e biolgicas em equilbrio. isto se deve em boa parte diversidade de espcies que o compem. pela observao de espcies como a erva-mate que tem grande diversidade gentica, e o trigo, com uniformidade gentica acentuada, podemos concluir que existe um desequilbrio e uma susceptibilidade variaes climticas e ao ataque de pragas, causados pela uniformidade ou falta de variabilidade gentica gerada pelo desmatamento e monocultura. esta fragilidade no equilbrio dos ecossistemas, criada pelo homem, est perto de comprometer o abastecimento de gua, alimentos e a sobrevivncia das espcies e do homem. para tentar reverter este quadro propomos o projeto regional de reflorestamento em sua corrente de recuperao ambiental. desta forma as prticas abaixo listadas so de fundamental importncia para manter o equilbrio agroecolgico. cultivo de lavouras em policultura e com cultivares primitivos: preservao de vegetao nativa e reflorestamento em reas contnuas formando corredores de trnsito para fauna; atenuao dos fatores micro-climticos como ventos, precipitao e temperatura.
13
auto-ecologia de espcies florestais
(corrigir conforme rascunho)???
figura no 5:
inter-relaes entre uma rvore e outros elementos do seu ambiente prximo. relaes cooperativas em retngulos, negativas em elipse branca e neutras em elipse achurada (coelho, 1996, no publicado).
segundo a figura no 5, verificamos que uma rvore possui relaes diversas com os elementos fsico-qumicos e biolgicos da floresta a sua volta. cabe explicar mais detalhadamente cada grupo de (micro) organismos. algas e bactrias na superfcie das folhas: pequenos organismos microscpicos sobre as folhas que vivem como epfitas sem causarem danos s folhas, nutrindo-se de elementos liberados pelas folhas ou carregados pelo vento e a chuva. podem ser diferentes formas de vida inter-relacionadas de forma intrincada e cooperativa por vezes. fungos parasitas: especialmente ascomicetos e bacidiomicetos, que atacam as folhas destruindo clulas. fungos decompositores: a maioria so saprfitas, que alimentam-se de matria orgnica em decomposio. aguardando o momento de decompor as folhas velhas e mortas. dispersores: na floresta nativa, os dispersores apresentam muitas vezes para espcies de rvores14
uma condio especial para a sua perpetuao. animais maiores dispersam sementes grandes e frutos carnosos e animais pequenos dispersam sementes menores. epfitas: so plantas que crescem em cima de outra planta, com razes sem contato com o cho. so as samambaias, bromlias e orqudeas. no so prejudiciais planta hospedeira, em sua maioria. microorganismos mutualistas: a maioria das rvores possuem associaes com fungos em suas razes denominados de micorrizas. absorvem aucares das razes e fornecem nutrientes minerais como o fsforo e nitrognio atravs de bactrias fixadoras associadas s leguminosas e outras famlias. polinizadores: so insetos, pssaros e morcegos que, visando as flores em busca de nctar e plen, fazem a polinizao. (coelho, 1996 no publicado) 6.2) porque reflorestar existe uma lei que diz que cada propriedade deve ter, no mnimo, 20% de sua rea coberta com florestas. essa lei, se for bem analisada, traz muitas vantagens para o produtor. a mata, quando existente na propriedade, traz os seguintes benefcios: a floresta controla a eroso em terra com mato a gua da chuva escorre menos. menos terra arrastada para as baixadas e rios, evitando o atulhamento. (ferreira, 1993). no rs perde-se anualmente 242,4 milhes/ton. de terras frteis igual a 2 % da rea cultivada. (rocha, 1990). protege as nascentes dos rios e mantm o nvel das guas o mato na beirada dos rios evita o atulhamento dos mesmos com a terra que vem das ladeiras e dos morros. o mato diminui a correnteza das guas, evita as grandes enchentes e a poluio da gua, pois, sabemos que a quantidade de gua doce disponvel para homens e animais em todo o planeta apenas 0,06 % do total da gua e ainda vem sendo poluda e contaminada. protege os animais selvagens as rvores oferecem sombra, abrigo e alimentao aos animais silvestres. e estes so importantes para manter o equilbrio da natureza.
15
o mato enriquece o solo as folhas que caem das rvores deixam o solo mais frtil. as matas diminuem a eroso provocada pelos ventos um solo coberto com rvores menos varrido pelos ventos. as matas purificam o ar alm de fornecer inmeros produtos, as florestas so produtoras de oxignio, filtram o ar e tem efeito refrescante. uma rvore de grande porte transpira cerca de 400 litros de gua por dia, no vero, equivalente ao efeito de 4 aparelhos de ar condicionado funcionando 24 horas por dia.. as florestas embelezam e valorizam a propriedade uma propriedade com matas tem mais valor que uma que no tem. garante o abastecimento de madeira a madeira pode ser usada para lenha, carvo, madeira serrada, postes, tramas e moires etc. mais mato menos impostos plantando rvores ou mantendo as matas da propriedade, menor ser o imposto territorial rural a ser pago (lei federal n. 8171/91). reflorestar permite aumentar a renda as rvores fornecem madeira, para lenha, construes, mveis, celulose, laminados, papel, dormentes e uma infinidade de outros produtos. fonte: plante rvores, emater - rs, 1993. o projeto floram elaborado por cientistas da universidade de so paulo, citado por schreder (1992) enfatiza a importncia e necessidade de implantar reflorestamentos industriais pela importncia da madeira no balano energtico nacional (siderrgicas) .tambm pelo significado do setor florestal para a economia nacional: em 1988 gerou 250.000 empregos, 400milhes de dlares em impostos e 3,4 bilhes de dlares de faturamento no mercado interno e 1,0 bilho de dlares de exportaes. tambm porque no se nega a experincia e o conhecimento brasileiro na implantao de florestas de rpido crescimento, necessrio, dada a premncia de iniciar o processo de fixao do co2 excedente na atmosfera. o projeto floram prev para o noroeste do rio grande do sul uma taxa de ocupao de 30 %, com rea a reflorestvel de 1.350.000 ha o projeto uma contribuio para discusso nos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, aponta os caminhos para a problemtica ambiental nos aspectos do controle do co2 na atmosfera e a busca de alternativa energtica para o prximo sculo, como o caso do uso do lcool andro adicionado gasolina. aptido florestal: o nosso pas, e por conseqncia, o nosso estado, tem um16
potencial produtivo superior a muitos pases que so tradicionalmente exportadores de madeira. tabela 1 - vantagem comparativa em crescimento florestal
local brasil brasil brasil chile nova zelndia usa frica do sul escandinvia canad sucia
espcie pinus taeda eucaliptus pinus tropical pinus radiata pinus taeda pinus patula picea, abies diversas conferas
m3/ha ano 25 40 60 35 25 12 19 5 1 3
rotao anos 20/25 7/15 20 20/25 30 19 60 indefinida 60 a 100
fonte: ferron, roberto magnus. viabilidade da floresta social. erechim rs.
6.3) - onde reflorestar numa propriedade as coisas devem ficar nos lugares apropriados nos lugares planos, onde h menos perigo de eroso, devem ficar as lavouras. as pastagens e as rvores devem ficar onde o terreno for mais dobrado. em topos de morro, ladeiras, margens de rios, lagoas e barragens, devem ser conservadas as matas existentes ou ento deve ser feito o reflorestamento. o mato no alto do morro, forma um solo muito fofo que, quando chove, funciona como uma esponja. a chuva que cai penetra nesta esponja, vai para as camadas profundas. nos lugares mais baixos surgem as vertentes. ao redor das vertentes, o mato deve ser mantido ou, quando no tem, deve ser plantado. no tendo mato no alto do morro e nas ladeiras, o solo no fofo e no funciona como esponja. ento a gua da chuva, ao cair, no penetra na terra, mas escorre ladeira abaixo .a, ocorrem a eroso e as enchentes. devem ser plantadas rvores, ainda, em terras inaproveitveis, fracas, acidentadas e onde no vinga mais nada (plante rvores, emater - rs,1993).
17
***figura do perfil do rio, morro, encosta reflorestados
figura no 6: perfil do rio, morro, encosta reflorestados.
6.3.1) reas recomendadas para reflorestamento reas deterioradas, morros e encostas: segundo tabela de classes de uso do solo todas as reas com declividade superior a 16% so recomendadas para preservao da mata nativa , reflorestar ou cultivos perenes, sofrendo restries para cultivos anuais. reas com declividade superior a 30% so exclusivamente recomendados para reflorestamento ou conservao da mata nativa. sua explorao no recomendada ecologicamente, para cultivos anuais. nas reas deterioradas a recomendao que se use espcies da famlia das leguminosas que so recuperadoras do solo por excelncia, alm da fixadoras de nitrognio. reas com 45o de declividade ou mais so consideradas de preservao permanente por lei tabela 2 - espcies recomendadas: espcies accia negra araucria bracatinga canafstula cabreva camboat erva-mate eucaliptos guatambu ip e louro fonte: plante arvores, emater rs,1993. banhados: nestes locais h uma vegetao caracterstica, prpria de reas inundadas. so ecossistemas ligados ao lenol fretico de uma regio e dependem do regime de chuvas. so ricos em variedades de animais e vegetais. nossa recomendao que no se altere mais que 20% destas reas sob pena de deteriorao do banhado, devido as espcies da flora e fauna que s ocorrem nestes locais, no recomendado o plantio de eucalipto nem a drenagem (silveira,1989). topos de morros e reas declivosas: nestas reas devem ser preservada a floresta18
finalidade lenha e tanino madeira nobre lenha madeira para assoalho madeira para construes e mveis lenha e palanque erva para chimarro lenha ,carvo, postes, palanques, serraria madeira para assoalho madeira para carpintaria e construes
nativa ou reflorestar devido a importncia da cobertura florestal para absorver o impacto da chuva e promover infiltrao da gua, abastecendo o lenol fretico e evitando eroso. ***inserir figura no 7 e 8
figura no 7 e 8:encosta declivosa e topo de morro. fonte:ibdf,1986.
margem de rios e barragens: segundo a legislao, qualquer curso dgua com at 10 m de largura deve ter uma mata de preservao permanente de 30 metros em cada margem. em rios com largura de 10 a 50 metros a margem florestal deve ser de 50 metros. nos rios com largura de 50 a 200 metros, deve ser de 100 metros a margem florestal. em rios de largura de 200 a 600 metros a margem florestal deve ser de 200 metros, e de 500 metros de margem florestal para rios com largura superior a 600 metros. ao redor das lagoas, lagos ou reservatrios naturais ou artificiais, nascentes e olhos dgua deve ter um raio mnimo de 50 metros de cobertura florestal. (cdigo florestal brasileiro - lei 4771/65). ***inserir figura 9 e 10
figura no 9 e 10: margem de aude e rio. fonte: ibdf, 1986.
para estes locais recomenda-se: aoita-cavalo araticum goiabeira pitangueira araa angico canela do brejo guabiroba ing cerejeira tarum canela preta guabij branquilho cambuim sete capote uvaia guajuvira agua pessegueiro brabo
fonte: plante rvore, emater - rs ,1993.
obs.: em margens de cursos dgua , lagos e fontes no se recomenda o plantio de espcies exticas de grande porte como por exemplo eucalipto e pinus, em funo do risco de rebaixamento do lenol fretico.
19
6.4) como reflorestar 6.4.1) - qualidade da muda o primeiro passo para se ter mudas de boa qualidade a obteno de sementes superiores. o projeto vai adquirir sementes das melhores procedncias fornecidas pela fepagro e.e.s. santa maria rs e embrapa/cnpf, inclusive de algumas espcies exticas sero importadas sementes do pais de origem. exemplo: as sementes do gnero eucaliptus devero ser oriundas de reas de produo de semente, pomares clonais e importadas da austrlia, garantindo a qualidade gentica da semente e a identidade das diferentes espcies do gnero, bem como seu potencial produtivo. as nativas sero produzidas a partir de matrizes especialmente selecionadas, garantindo a qualidade e produtividade. outro passo importante na qualidade das mudas ser a tecnologia de ponta implantada no viveiro regional que possui casa de vegetao com as condies ambientais controladas, sistema de irrigao e nebulizao automatizados e utilizao de tubete plstico, que o mais novo tipo de embalagem para produo de mudas, proporcionando um sistema radicular perfeitamente desenvolvimento. *** inserir desenho do tubete no 11
figura no 11: muda em tubete. 6.4.2) sistemas de reflorestamento semeadura a lano - este sistema consiste em plantar em local definitivo as espcies de sementes grandes, diretamente sem a produo de mudas em viveiro. exemplo: pinheiro brasileiro, bracatinga e timb que podem ser plantadas diretamente no local definitivo. plantio heterogneo - consiste no plantio conjunto de diferentes composies mais parecidas com as nossas florestas nativas. indicado para enriquecimento de matas e na recuperao de florestas de margens de rios. plantio homogneo - consiste na formao de macios florestais com uma nica espcie, como os reflorestamentos implantados com eucalipto, accia negra, uva do japo, pinus sp, sendo indicado para fins econmicos e energticos. plantio consorciado - nesse sistema aproveita-se os espaos entre as linhas de reflorestamento para o plantio de culturas anuais como: soja, milho, mandioca nos primeiros anos do reflorestamento. esse sistema alm de custear as despesas com a implantao do reflorestamento, pode produzir cultura de subsistncia, bem como, proporcionar uma melhoria nas propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do solo, com o uso de leguminosas fixadoras20
de nitrognio e facilitar os tratos culturais do reflorestamento. sistemas agroflorestais - estes sistemas consistem na associao entre cultivos de florestas, culturas agrcolas, e ou pastagens, visando produo auto sustentvel na propriedade rural. projetos agroflorestais, em reas ocupadas apenas com lavouras, pastagens ou florestas plantadas constitui alternativa fundamental para o aumento da produo de alimentos, madeira e energia, constituindo-se em uma prtica aperfeioada, pois a ocupao excessiva do solo j no permite a sustentabilidade da produo, (carvalho 1994). exemplo: sistemas agroflorestais com a erva mate: a erva mate se presta muito bem para diferentes sistemas silviagrcolas e silvipastoris, associada com cultivos de mandioca, milho, feijo ou com ovinos, gado de leite e novilhos precoces. o sistema agroflorestal associa os componentes rvore-pastagem-animal-lavoura, de forma simultnea ou seqencial, no tempo e no espao, promovendo interaes entre eles, podendo haver competio por nutrientes, gua, luz, espao, quando existe exigncias similares, por outro lado pode haver interaes de favorecimento entre os componentes do sistema. exemplo: - forrageiras leguminosas fixam nitrognio beneficiando a erva mate .- a bracatinga fixa nitrognio para o feijo e milho. - o esterco dos animais no sistema inoculam microorganismos e fertilizam o solo beneficiando as culturas. sistema de abandono de rea - neste sistema a natureza se encarrega de fazer a regenerao da vegetao anteriormente existente na regio, bastando ao homem simplesmente abandonar a rea. isto vai ocorrer dependendo das condies existentes no local tais como: banco de sementes armazenado no solo, matrizes fornecedoras de sementes, dispersores e condies climticas e fertilidade. nestas condies inicialmente desenvolvem-se as gramneas, as vassouras entre outras, criando condies de surgimento de pioneiras arbreas, secundrias, secundrias tardias e as espcies clmax, ou reprodutoras a sombra. sistema de sucesso natural (recomposio da mata nativa similar original) consiste no homem ajudar a natureza a se recompor, reflorestando com espcies nativas tanto em reas de preservao permanente como em outras reas que se deseje implantar floresta nativa. segundo longhi, (1995) na utilizao desse sistema imprescindvel observar as caractersticas especficas de cada uma das espcies, como a regenerao, disperso, formao e longevidade. para haver a reconstituio da mata natural importante que se use no mnimo duas espcies e que sejam complementares entre si quanto a seu hbitos e situao. se utilizarmos espcies pioneiras secundrias e clmax, o plantio pode ser simultneo ou obedecer a seqncia natural, que pode ser aleatria ou atravs de esquema (a ou b) entre outros. a) implantao de bosques com 2500 plantas por hectare. 625 pioneiras21
625 secundrias (no mximo 50 exemplares por espcies) 625 secundrias tardias (idem secundrias) 625 clmax b) implantao de bosques com 2000 plantas por hectare. l.625 pioneiras 250 secundrias l25 clmax *** inserir desenho das formas geomtricas. fig. 12.
figura no 12 deve-se observar que a formao seja sempre um mosaico como ocorre naturalmente. o surgimento das espcies nativas seguem uma seqncia lgica a qual devemos observar quando da implantao de bosques nativos segundo longhi, (1995). a formao da diversidade de espcies florestais nativas tropical e subtropical de mais de uma centena de espcies arbreas klein, (l982), citado por longhi (1995) no publicado, com densidade baixa para cada espcie por ha, formando um mosaico arbreo natural, onde cada ponto diferente na estrutura e composio segundo kageyama citado por longhi (1995) no publicado. para que esta formao possa seguir sua reproduo essencial a presena de animais, porm essa relao altamente especfica para com as espcies florestais. importante que o reflorestamento que se pretende implantar deve ser de mltiplas espcies para que possa se auto renovar sem a interferncia humana. segundo budowski citado por longhi (1995), as espcies nativas comportam-se de modo diferente quanto ao crescimento a pleno sol, a sombra ou independem destes fatores. a separao de espcies florestais tropicais em grupos ecolgicos pode ser feita por diferentes critrios, conforme demostra a tabela 3, por isto gerando confuso na literatura segundo kageyama & viana, (1989) citados por coelho (1996) no publicado. no sul do brasil, algumas espcies apresentam caractersticas mistas, dificultando sua incluso em categorias. especialmente na formao florestal denominada mata de pinhais, observamos espcies com caractersticas mistas. a araucria (araucaria angustifolia) um exemplo, pois apresenta sementes recalcitantes (de curta longevidade), crescimento mediano e folhas com alta longevidade, apresentando-se como helifita em qualquer fase, muitas vezes atuando como pioneira sobre reas de campo. tabela 3 - caractersticas biolgicas das espcies conforme as categorias ecolgicas, em grau decrescente de importncia. baseado em budowski(1965), blackman & wilson22
(1951), kageyama & viana (1989), gonalves et al., poggiani et al.,(1992).pioneiras necessidades de luz intensa durante as fase do desenvolvimento. longevidade das sementes tipo de dormncia germinao, crescimento, reproduo longa curta (semanas alguns meses) quebrada por luz (fotoblsticas) ou por calor pereniflias por animais, sem especificidade, ou autocoria baixa grandes desenv. (massa crescim. em profundidade velocidade de crescimento) alta baixa no germinao apenas com embebimento de gua dormncia tegumentar caducifias fatores fsicos (gua, chuva) ou animais, ou autocoria baixa desenvolvimento mediano dormncia tegumentar variada secundrias iniciais crescimento, reproduo secundrias tardias reproduoreprodutoras sombra
pouca necessidade de luz intensa mediana ou curta
mediana
fenologia tipo de disperso das sementes tolerncia sombra razes
varivel animais ou autocoria
pereniflias animais especficos ou generalistas alta tolerncia desenvolvimento reduzido
tolerante em estgio juvenil desenvolvimento reduzido
produo de galhos e folhas longevidade das folhas aumento da produtividade em regime de sombra porte
varivel baixa varivel
baixa baixa mdia varivel
baixa alta sim
mediano (estrato intermedirio) 10 a 30 (-50) alto alta variao local lenha, celulose, alimentao animal
mediano a emergente
mediano a emergente
estrato inferior (subbosque) ou intermedirio varivel baixo mdias a altas madeira, frutos, folhas, ornamental
ciclo de vida anos concentrao de nutrientes nas folhas densidade(p|ha) principais usos
50 a 500 (-1000) mediano baixa (raras) a mdias frutos, madeira de mdia e alta qualidade
50 a 500 (-1000) mediano baixa (raras) a mdias madeira de mdia e alta qualidade
timb (ateleia glazioviana), outra espcie que apresenta caractersticas mistas. possui frutos alados (disperso pelo vento), sementes recalcitantes e caduciflia. por outro lado, apresenta enraizamento agressivo, e rpido crescimento em reas abertas (helifita). o timb no uma espcie florestal caracterstica, mas sim, ocupa reas de transio entre a floresta e campo, (rambo, 1994, conforme tambm vasconcellos et alii, 1992) citados por coelho 1996 no publicado. este ocorria nas bordas da floresta. hoje o timb invadiu reas, tornou-se uma planta ruderal, ou seja, especializada em ocupar ambientes perturbados pelas transformaes humanas podendo ser classificada, na prtica de manejo florestal como pioneira antrpica, desde que considerando-se a sua inibio ao desenvolvimento de outras espcies. (coelho, 1996, no publicado)
23
conceito de categorias sucessionais ou categorias ecolgicas ou ainda categorias de sucesso vegetal ou florestal: longhi, (1995) no publicado, faz uma conceituao das categorias sucessionais como segue: pioneiras: de ciclo curto em mdia 5 a l5 anos podendo durar at 50 anos, formadoras do estrato arbustivo,(nessecita luz em todas as fases, dormncia fotoblstica ou por calor) disperso por animais no especficos. ex.: grandiva, aroeira-brava, ch de bugre. secundrias iniciais: ciclo 15 a 30 ano em mdia, formadora do estrado subarbreo, sementes dispersas pelo vento com poder germinativo curto, aparecem nas clareiras. ex.: ip amarelo. secundrias tardias: ciclo de 30 a 50 anos formao do estrato arbreo, sementes dispersas pelo vento, surgem depois das secundarias iniciais, sementes com dormncia mecnica. ex.: grpia e alecrim. clmax: ciclo superior a 50 anos podendo chegar a 500 anos, formadora do estrato arbreo superior a disperso das sementes feita por animais especficos reprodutora sombra. ex.: grpia, canafstula. segundo coelho, em ecologia florestal, 1996, no publicado), conceitua a categoria de reprodutoras sombra no lugar da categoria clmax. outros conceituam simplesmente, que espcies clmax so as mais altas e dominantes na floresta o que no de todo verdadeiro. tampouco verdadeiro que a floresta sempre o pice de qualquer processo sucessional, ou o pice de qualquer escala de valores, mesmo porque estes valores so criados pelo homem com forte influncia econmica. a natureza nem sempre se comporta segundo valores estabelecidos pelo homem. exemplos: vegetaes de banhados, campos, cerrados, campos sujos, conforme condies de solo e clima disponveis podem ser considerados ecossistemas clmax. reprodutoras sombra: categoria equivalente a clmax , porm diferindo do seu conceito clssico. caracterizada pela presena de espcies com pouca necessidade de luz intensa, longevidade de sementes de mediana a curta com dormncias variadas. ex.: erva mate que surge em um estgio avanado da sucesso florestal na floresta latifoliada mista. outros exemplos: agua-da-serra, cerejeira, manac ou primavera e guassatonga. exemplos de cada categoria para a regio noroeste do rs. pioneiras: bracatinga ch-de-bubre fumo-bravo mandioco
mimosa scabrella, leguminosa casearia silvestris, flacourticea solanum erianthum, solancea didimopanax morototoni, aralicea
secundrias iniciais de fruto alado cedro cedrela fissilis, melicea cabreva myrocarpus frondosus, leguminosa24
angico - vermelho parapiptadenia rigida, leguminosa
ip-branco
tabebuia alba, bignonicea
secundrias iniciais de fruto carnoso ou sementes com arilo ariticum rolinia salicifolia, anoncea guabiroba batinga vermelha ings campomanesia xanthocarpa, mirtcea eugenia rostrifolia, mirtcea inga sessilis, inga virescens, leguminosas
secundrias tardias ou tolerantes sombra alecrim holocalyx balansae, leguminosa camboat-vermelho cupania vernalis, sapindcea
reprodutoras sombra erva mate ilex paraguariensis, aquifolicea agua da serra manac ou primavera cerejeira guassatonga chrysophyllum gonocarpum, sapotcea brunfelsia uniflora, solancea engenia rostrifolia, mirtcea casearia decandra, flacourticea (coelho, 1996, no publicado) sistema enriquecimento de matas secundrias - enriquecimento de florestas, capoeiras pouco produtivas ou florestas semi-devastadas podem ser adensadas com espcies mais nobres. o plantio pode ser feito em linhas ou mesmo aproveitando pequenas clareiras. as espcies devem ser adequadas para crescerem sem a insolao direta. a araucria, o sobragi, a canafstula, as canelas, os ips, o palmiteiro, a uva do japo e mesmo o eucalipto so espcies adequadas para este tipo de plantio. este plantio mais indicado quando se deseja rvores de troncos retos e altos. o mtodo de plantio de enriquecimento visa aumentar o nmero de espcies de maior valor comercial e facilitar a explorao. no trabalho de abertura do sub-bosque, as mudas das espcies florestais desejveis devem ser mantidas. mesmo aps o plantio necessrio manter a rea limpa, pelo menos nos dois primeiros anos. a falta de tratos culturais pode condicionar uma elevada percentagem de mortalidade das mudas plantadas. este sistema pode ser utilizado no manejo sustentado. sistema bracatinga - consiste na implantao de povoamentos homogneos de bracatinga ou de outras espcies em talhes implantados um a cada ano. o nmero de talhes deve ser igual ao nmero de anos da rotao da cultura, a fim de se explorar um talho por ano, obtendo-se renda anualmente. aps a implantao do ltimo talho iniciar-se- a explorao do primeiro talho, at o ltimo, quando o primeiro novamente estar pronto para nova explorao. espcies recomendadas: bracatinga, accia negra, eucalipto inclusive para a regio25
este sistema se adapta como mtodo de explorao racional do timb. exemplo: agricultores do paran usam este sistema associado a cultivos de feijo e milho. eles implantam os talhes de bracatinga um a cada ano, no final do stimo ano fazem a colheita do primeiro talho, e como a bracatinga fixa nitrognio proporciona o cultivo do feijo e milho com bons rendimentos. como a bracatinga j produziu sementes, ressemea novas plantas da espcie que devem ser raleadas. assim que as duas culturas so colhidas, est reimplantado este talho, e assim sucessivamente. deste modo tem-se uma colheita de lenha, milho e feijo todo ano na propriedade rural. este sistema se presta muito para recuperao de reas deterioradas. quebra ventos - estas estruturas tem a finalidade de reduzir a velocidade dos ventos em at 80%. estes devem ser localizados perpendicularmente ao sentido dos ventos dominantes da localidade. este formado por 3 a 8 fileiras de rvores de diferentes espcies e alturas. o quebra vento protege at 22 vezes a sua altura em distncia, alm da vantagem de abrigar inimigos naturais das pragas de lavouras, abrigar gado e favorecer polinizao das lavouras abrigadas por uma srie de quebra ventos, bem como dificultar a disseminao de pragas e doenas. espcies recomendadas para quebra ventos: ciprestes, calistemon (choro da praia), accia trinervis, eucalipto, grevilha, pinus, pltano, tipuana, guajuvira, bracatinga. ex.: 1 fileira calistemon 2 fileira accia trinervis 3 fileira accia trinervis 4 fileira cipreste 5 fileira eucalipto 6 fileira eucalipto 7 fileira eucalipto 8 fileira accia trinervis 6.4.3) plantio o preparo do solo vai depender de cada situao, porm o ideal deve ser semelhante ao preparo do solo para culturas anuais, tais como subsolagem e outros. aps a limpeza do terreno ou das clareiras prepara-se o local das covas para o plantio, fazendo pequenas coroas. muito importante que o plantio seja efetuado quando o solo estiver com umidade recomendada, dando preferncia a dias nublados. isto possibilitar melhores condies para que as mudas plantadas sobrevivam. a profundidade do plantio deve ser a mesma em que a muda se encontra no tubete, isto , no se deve enterrar demais nem deixar a raiz sobrando sobre a superfcie do solo, devendo formar uma pequena bacia para captar gua. deve-se abrir a cova e misturar a terra da superfcie com adubo orgnico e ou qumico, conforme a anlise do solo.26
algumas espcies suportam bem a semeadura direta a campo, podendo ser feita a lano, sem a produo de mudas em viveiro exemplo: pinheiro brasileiro, bracatinga e timb podem ser semeadas diretamente no local definitivo. 6.4.4) tratos culturais a manuteno da rea reflorestada limpa, livre de ervas invasoras na fase inicial de implantao, contribui decisivamente para o bom desenvolvimento das plantas, consequentemente aumentando sua produtividade. em casos de manejo da regenerao natural, a roada na forma de coroamento suficiente. . consorciao - plantio com outras culturas, conforme descrito anteriormente onde os tratos culturais efetuados para a cultura anual auxiliam a cultura principal que o reflorestamento. . coroamento - consiste na capina ao redor da planta, at l m de dimetro, aproveitando esta oportunidade para readubar plantas deficientes. a coroa deve ser mantida limpa nos dois primeiros anos aps o plantio. ***inserir figura do coroamento do folder(folheto)
figura no 13: coroamento da muda.
. cobertura morta - a prtica de proteger o solo ao redor da planta com palha, restos de cultura ou outros materiais orgnicos, para evitar o desenvolvimento de ervas daninhas e manter a umidade do solo. . roada - prtica que deve ser adotada nas entre linhas, que pode ser mecnica ou manual, at o perfeito estabelecimento das rvores na rea. . replantio - o replantio executado com mudas de qualidade, de modo a substituir aquelas atacadas por formigas, mortas ou danificadas por outros agentes: dever ser de 20 - 30 dias aps o plantio; o povoamento deve ter sobrevivncia superior a 95%. . desrama (poda)- a desrama a prtica de retirada dos galhos mortos e vivos mais baixos, com a finalidade de evitar a criao de ns dentro da madeira, melhorar a qualidade e altura do fuste, favorecendo a ventilao e insolao do povoamento, sendo realizado no fim do inverno. 6.4.5) - combate a pragas quando efetuamos o plantio, expomos as plantinhas a uma srie de predadores que podem provocar srios danos s mesmas ou at mat-las. o cuidado com o controle destes predadores , portanto, de fundamental importncia. . formigas - as formigas so consideradas um dos piores inimigos dos reflorestamentos, especialmente quando refloresta-se com espcies de eucalipto. para combat-las necessrio que dois meses antes do plantio se faa uma limpeza na rea, eliminando-se27
os formigueiros. aps o plantio deve-se manter o controle com o uso de iscas formicidas, distribudas a cada 10 m de distncia, na periferia da rea, e a cada 20 m no meio da rea reflorestada. a proteo da isca deve ser feita com potes plsticos, casca de rvores, canudo de bambu ou qualquer material que a proteja da umidade. a folha de timb triturada pode ser usada como repelente quando espalhada em volta da muda. para correta utilizao de formicidas siga as recomendaes do receiturio agronmico. as formigas cortadeiras tem sido responsveis pelo fracasso de inmeros reflorestamentos. antes do plantio necessrio efetuar o seu controle. aps o plantio a vigilncia deve ser constante. . outros insetos: - comunidades de plantas com um pequeno nmero de espcies so geralmente mais suscetveis a aumentos repentinos de insetos herbvoros do que as comunidades mais diversificadas e complexas, e as rvores mais jovens e vigorosas so mais resistentes ao ataque de insetos. por isso, o problema de pragas acentuado nos reflorestamentos homogneos. o controle complicado e, muitas vezes, muito dispendioso. a manuteno de reas com remanescentes de florestas nativas diversificadas, se possvel enriquecendo-as com outras espcies, uma forma de atenuar o ataque de pragas sobre os plantios. at porque, muitas vezes, estas reas atraem e abrigam os predadores naturais destes insetos. 6.4.6) - manejo das florestas corte raso e conduo da rebrota a partir da floresta estabelecida uma das tcnicas de manejo o corte raso, que consiste em um tempo s, cortar todas as rvores e conduzir a rebrota ou fazer nova implantao. esta modalidade de manejo indicada para algumas espcies exticas e vai gerar produtos de baixo valor comercial, porm, em grande quantidade e em curto prazo. exemplo: eucalipto, densidade superior a 2.500 plantas por hectare cortados entre 4 e 6 anos, produzindo lenha e varas para construo civil. ***inserir figura do corte raso no 14
figura no 14: conduo da rebrota. fonte: fao / ibama, 1987.
neste caso aps a explorao deseja-se que cada toco brote, devendo-se ter os mesmos cuidados da poca de implantao, sem uso do fogo e com combate formiga. em cada toco poder surgir inmeros brotos dos quais deve-se conduzir 3 a 4 brotos bem distribudos.28
a bracatinga faz a resemeadura naturalmente, para seguir o processo basta fazer o desbaste do excesso de mudas.
tabela 4 - rendimento mdio de uma floresta de eucaliptus sp.idade do dimetro dap* rendimento mdio de corte povoamento mdio de corte cm anos m3/ha primeiro 8 12,80 230 segundo 13 11,40 207 terceiro 18 10,20 184 total 621 *dap dimetro a altura do peito a 1,30 m do solo. nmero de cortes destino do produto lenha lenha lenha -
corte seletivo neste sistema faz-se o plantio com densidade inicial de 2.500 plantas por hectare. nos anos iniciais a plantao ter um desenvolvimento bem visvel em altura e dimetro. aps este perodo ela entra em estagnao em funo da concorrncia por espao e nutrientes, sempre que isso ocorrer recomenda-se o desbaste seletivo por baixo, marcase e retira-se as rvores suprimidas e dominadas e deixa-se as dominantes, com espao vital suficiente para o seu crescimento. este sistema adapta-se para o cultivo de espcies exticas de rpido crescimento tais como: eucaliptos, pinus, cinamomo paraso, uva do japo, grevilha, e nativas como pinheiro brasileiro. neste caso objetiva-se produzir madeira nobre para serrarias com dimetro maior, porm com ciclo mais longo (20 anos ou mais). ***inserir figura 15
figura no 15: corte seletivo. fonte: fao / ibama, 1987.
nos desbastes peridicos obtm-se produtos menos nobres, mas trazendo receita para o produtor. partindo-se de 2.500 plantas por hectare, aps os desbastes ficaremos com uma densidade final de 300 plantas destinadas a toras para serraria.
tabela 5 rendimento em corte seletivon do desbaste idade do povoamento anos dimetro dap rendimento mdio de corte mdio do corte cm m3/ha29
destino do produto
lenha m3/ha
serraria m3/ha
primeiro segundo terceiro quarto corte final total
08 11 14 18 23 -
14 17 20 23 31 -
73 105 115 145 225 -
54,8 31,5 83,6
18,2 73,5 115,0 145,0 225,0 576,7
o desbaste propicia povoamentos mais saudveis, devido a entrada de luminosidade no seu interior. as copas podem se expandir, tornando-se assim, rvores mais resistentes, surgindo tambm outras espcies principalmente nativas enriquecendo o subosque. observa-se a campo em povoamentos antigos, principalmente de conferas, que a falta de desbastes peridicos faz com que as rvores fiquem muito altas e de baixo dimetro com copa verde menor do que 1/3 de sua altura, o que no desejvel, pois estas so instveis, no tem vitalidade e provavelmente vo quebrar e ou morrer. desta forma fundamental que os desbastes sejam feitos ao tempo certo evitando esta situao de perda de produtividade. caso isto acontecer o povoamento poder perder muitas rvores. ento dever fazer-se um desbaste predatrio, retirando-se as rvores bifurcadas, suprimidas e mortas deixando-se as rvores mais saudveis com maior chance de incremento. em caso de dvida deve-se decidir pela retirada da rvore. isto ocorre hoje em dia nos povoamentos de pinus sp que no sofreram intervenes e tendo atualmente baixssima qualidade. corte sistemtico este sistema menos usado, porm mais simples e barato em alguns casos, e consiste na retirada sistemtica de uma fileira e deixando-se outras trs, retira-se mais uma sucessivamente, prestando-se para povoamentos homogneos. no caso de povoamento heterogneos, retiram-se faixas de rvores, correndo-se o risco de se cortar algumas rvores valiosas para o povoamento. manejo sustentvel de florestas nativas segundo o cdigo florestal brasileiro so consideradas de preservao permanente as reas de margens de rios e cursos dgua, lagos e lagoas naturais e artificiais, nascentes e fontes dgua, topos de morros, nas encostas declivosas, restingas, e as definidas por decreto especfico do poder pblico. nestas reas a floresta no pode ser explorada (cortada) economicamente e so isentas do itr imposto territorial rural. conforme a mesma lei a quinta parte das propriedades rurais (20%) considerada reserva florestal legal e tambm no pode ser explorada. as reas de florestas ressalvadas as de preservao e reserva, esto sujeitas apenas ao manejo sustentado sendo proibido o corte raso. o manejo sustentado de florestas nativas uma prtica de explorao no predatria onde deve ser retirado apenas a quantidade de madeira que a floresta cresce anualmente (ima - incremento mdio anual), ou seja, retira-se as rvores mortas, cadas, quebradas e maduras deixando as rvores finas para continuarem crescendo.
30
6.4.7) problemas do reflorestamento plantio de espcies em locais inadequados; replantio atrasado; falta de adubao ou adubo em contato direto com a raiz; espaamento incorreto; mudas plantadas com o colo enterrado; competio demasiada de inos; no combate s formigas cortadeiras; manejo ou conduo inadequado de povoamentos; intervalo de corte prolongado; falta de replantio; no execuo da desrama; no conduo da rebrota; falta de desbaste e desbrote; falta de conhecimento do assunto. 6.5) descrio das espcies: 6.5.1) exticas: 1. a) nome vulgar: accia negra b) nome cientfico: acacia mearnsiii c) classificao na dinmica sucessional: pode ser usada como pioneira para implantaes futuras de nativas. d) caractersticas gerais: espcie rstica extica, nativa da austrlia, de rpido crescimento, leguminosa fixadora de nitrognio, com boa adaptao na regio sul. tem casca rica em taninos e madeira dura de alto poder calorfico. espcie procurada pelas formigas e atacada por um inseto coleptero chamado serrador da accia negra que coloca ovos nos galhos e corta estes para o desenvolvimento das larvas. esta praga deve ser combatida atravs da catao manual dos adultos e queima imediata dos galhos afetados. e)usos: pode ser empregada em reas deterioradas e voorocas como recuperadora de solos, indicada como pioneira na implantao de erva-mate e outras nativas. indicada para produo de casca para extrao do tanino na regio da grande porto alegre para produo de lenha de alto poder calorfico e varas de construo civil, aglomerados e papel. f) produtividade: espcie de rpido crescimento com alta produo de lenha (+/300 m3/ha por ciclo) de baixo dimetro quando feito plantio adensado. rvore de ciclo curto, morrendo aps aproximadamente 8 anos de idade. indicado o corte31
raso para se obter maior produtividade. g) propagao: faz-se a implantao preferencialmente com mudas, podendo-se fazer tambm com sementes. aps o primeiro ciclo de 8 anos faz-se novo plantio com mudas ou se induz a regenerao natural atravs da queima da resteva da cultura que menos indicado pelos danos causados pelo fogo ao ambiente natural. espaamento 2 x 2 m ou 3x 1,5 m ou 2 x 1,5 m dependendo da fertilidade do solo. 2. a) nome vulgar: cinamomo paraso b) nome cientfico: melia azedarach c) classificao na dinmica sucessional: pode ser usado como precursora, pioneira ou secundria inicial. d) caractersticas gerais: espcie florestal extica, originria da sia, de rpido crescimento com produo de madeira nobre para mveis. prpria para reflorestamento homogneos. e) usos: indicada para reflorestamentos homogneos com a finalidade de produzir madeira nobre para serraria, indicada para construo de casas de madeira, mveis, esquadrias, e laminao. como subproduto dos desbastes e galhadas produz lenha de mdia importncia. f) produtividade: espcie produtiva e de rpido crescimento estimando-se que chegue a 40 cm de dimetro em 10 anos produzindo produto nobre de maior valor comercial. para se atingir esta produtividade alta devem ser utilizadas mudas de boa qualidade, fazer um plantio bem feito e tratos culturais e desbastes indicados. recomenda-se bom preparo do solo, coroamento por 2 anos, roadas para evitar a concorrncia com invasoras. desrama e desbaste peridicos so imprescindveis para o sucesso do cultivo. devemos fazer desramas nos anos iniciais evitando ns na madeira e bifurcao em galhos grossos, visando melhorar a quantidade e qualidade do fuste. aps a poda dos galhos ainda tenros, no lenhosos, deve-se aplicar uma soluo fungicida para evitar contaminao da madeira com fungos. os desbastes devem ser sistemticos retirando-se 1 fila em um sentido no terceiro ano e no outro sentido no sexto para se obter logo um espaamento de 4 x 4 m propiciando o corte de rvores com 40 cm de dimetro aos 10 anos. g) propagao: faz-se o plantio definitivo com mudas de boa qualidade produzidas por sementes e aps o corte final existe a possibilidade de conduzir a rebrota. 3. a) nome vulgar: grevilha b) nome cientfico: grevillea robusta c) classificao da dinmica sucessional: pioneira, prpria para reflorestamento, ornamentao e quebra ventos. d) caractersticas gerais: rvore de grande porte, nativa da austrlia, podendo atingir 30 metros de altura, crescimento rpido com formato de copa semelhante as conferas com folhas recortadas parecidas com as samambaias, boa produtora32
de sombra, ornamental e fornecedora de plen e nctar para as abelhas. e)usos: so plantas ornamentais recomendadas para jardinagem arborizao. urbana, quebra ventos e reflorestamento homogneo de rpido crescimento. sua madeira dura e valiosa para fabricao de mveis e tonis para vinho, produz lenha de boa qualidade de alto poder calorfico. 4. a) nome vulgar: uva do japo b) nome cientfico: hovenia dulcis c) classificao da dinmica sucessional: pode ser utilizada como pioneira. d) caractersticas gerais: rvore extica de rpido crescimento, pioneira de muita agressividade. facilmente asselvajada, originria da china e do japo, facilitando a disseminao e propagao. tem folhas grandes que podem ser usadas como forrageiras ou vo incorporar nutrientes ao solo. e) usos: rvore de uso mltiplo com aproveitamento integral de folhas, frutos, galhos e troncos.
folhas: forrageira para herbvoros e adubao; frutos: forrageira para gado, porcos e aves, vinagre; galhos: lenha, carvo e moires; tronco: lenha, varas, tbuas, laminados e madeira em geral de tima qualidade. f) produtividade: rvore de rpido crescimento e alta produtividade, podendo ser manejada na forma de corte raso para produzir lenha e varas ou corte seletivo, visando produzir madeira de maior dimetro.
5
a) nome vulgar: eucalipto b) nome cientfico: eucalyptus sp. c) classificao na dinmica sussecional: espcie de pioneira passando por secundria e clmax, vegetando como precursora at chegar a se salientar no dossel superior da floresta como rvore frondosa. d) caractersticas gerais: rvore de rpido crescimento largamente, utilizada em todo pas. originria da austrlia com centenas de espcies, com diferentes caractersticas e empregos. a principal espcie florestal cultivada sendo a salvao para a produo de energia, madeira e papel, em muitas regies anteriormente desmatadas. espcie de mltiplos usos, sendo sua presena fundamental em todas as propriedades rurais. f) produtividade: espcie altamente produtiva, de rpido crescimento podendo atingir 100 mst/ha/ano de produtividade quando em condies timas de qualidade gentica, solo e manejo; pode ser conduzido para o corte raso produzindo lenha e varas com produtividade de mais de 621 m st de madeira com casca aos 18 anos ( 3 cortes no mnimo). g) propagao: deve ser plantado com mudas de tima qualidade produzidas33
atravs de sementes superiores ou at por propagao vegetativa.
tabela 6 - dados tcnicos de algumas espcies de eucaliptoe. citriodora resistncia a geada moderada fracaclima
e. dunnii grande
e. grandis moderada
e. saligna moderada
e. viminalis grande
subtropical
subtropical mido
subtropical, tropical mido
tropical
subtropical
solo
profundos, suporta arenosos e fracos at 400 m 2x2m 3x2m
midos, frteis bem drenados
midos, bem drenados frteis e profundos at 1000 m 2x2m 3 x 2.5 m
frteis, pesados e midos
aluviais, midos bem drenados
altitude espaamento mais indicado
at 800 m 2x2m 3x3m
at 1200 m 2x2m 3x2m
at 1400 m 2x2m 3x2m
casca
branca spera lisa, solta-se em acinzentada persistente, fina, lminas, fina, lisa fibrosa de cor esbranquiada, brilhante caindo cinza cinza ou em pequenas esverdeada placas abr/mai ago/out abr/jun* fev/abr
lisa, solta-se em solta, lisa cor longas tiras cinza nas plantas esbranquiada a adultas cinza azulado persistente e nas jovens, grossa, cinza ou marrom set/nov jun/ago
florao
frutificao uso
jan/mar madeira nobre
out/nov madeira de cerne
ago/out madeira e lenha
mai/jul madeira e lenha
jan/fev lenha e cerne
fonte reflorestar preservar (medeiros, souza cruz,1992)
6.5.2) nativas: 1 a) nome vulgar: angico vermelho b)nome cientfico: parapiptadenia rigida c) caracterstica da dinmica sucessional: espcie secundria inicial, podendo34
passar ao estgio seguinte da sucesso. disperso das sementes pelo vento. d) caractersticas gerais: da famlia das leguminosas, semelhante a canafstula, apresenta copa corimbiforme ampla. sua casca descasca intensamente. os fololos so verdes e menores que a canafstula, prefere lugar com bastante umidade, vrzeas e margens de rios. e) usos: pode ser empregada para confeco de tbuas, dormentes, palanques, barrotes de casas e como lenha e carvo. f) propagao: a propagao feita por semente e sua disperso atravs do vento. o plantio definitivo feito por mudas.
2.
a) nome vulgar: erva-mate b) nome cientfico: ilex paraguariensis c) classificao da dinmica sucessional: espcie reprodutora a sombra, umbrfila, que necessita de sombra de outras espcies pioneiras para se instalar, por este motivo tem dificuldade em se estabelecer inicialmente em povoamentos homogneos a cu aberto. d) caractersticas gerais: apesar da tradio do chimarro no sul do pas nem todos sabem que a erva-mate uma rvore de porte considervel se estiver no estado primitivo na mata. espcie nativa da regio sul ao longo das bacias dos rios paran, paraguai e uruguai, quase sempre associada com o pinheiro brasileiro. possui muitas propriedades medicinais como tnico, estimulante do crebro e da circulao, digestiva, fornecedora de vitaminas e sais minerais e combate a presso baixa. planta de alta explorao em sua maioria oriunda da atividade extrativista de ervais nativos, com srios problemas de produtividade e sobrevivncia. e) propagao: ocorre por sementes ou por estaquia (ainda em fase experimental, para fins de pesquisa) e constitui-se no maior problema da cultura devido a dificuldade na germinao, que de 5% aproximadamente, causada pela dormncia da semente e imaturidade do embrio. planta-se a semente em sementeiras ou direto nos tubetes produzindo as mudas no perodo de 12 a l8 meses. mudas de 2 anos, produzidas em saquinhos, no so desejveis devido a problemas de cachimbamento da raiz.
maiores informaes devem ser procuradas junto a tcnicos especializados e informaes empricas de leigos ou prticos devem ser analisadas com muito cuidado. espcie de difcil produo de mudas devido a germinao e com problemas de sobrevivncia, devendo ser protegida do sol no 1 ano de plantio por ser umbrfila. necessita de acompanhamento de tcnico habilitado e conhecedor da cultura. f) usos: usada principalmente na produo de erva mate para chimarro, consumido internamente e exportada, e para ch tostado. outros produtos e subprodutos esto sendo testados como cafena para refrigerantes, desodorantes, moderadores de apetite, corantes, porm ainda sem resultados conclusivos. o consumo vem aumentando sendo um mercado promissor principalmente se outros produtos forem descobertos e viabilizados.35
g) produtividade: tradicionalmente os ervais tem produo de 5 a 6 toneladas por hectare/ 3 anos, mas com manejo correto e moderno pode-se atingir produtividade superior a 30 toneladas/ano ou l8 meses. hoje em dia j se conhece tcnicas modernas de cultivo que do timos resultados, como o cultivo baixo dos ervais. recomendaes: plantio: altas densidades superiores a 2.222 plantas por hectare (espaamento de 3m x l,5 m) com cobertura de solo de inverno e vero. mudas: pequenas e de um ano de idade, produzidas de preferncia em tubetes, livres de cachimbamento da raiz e rustificadas. ***inserir desenho figura 16,17 e 18
figura no 16, 17 e 18: raiz da muda.
poda: anual ou de 18 em 18 meses, com tesoura, com plantas de at l,80 m de altura, visando abrir a copa em forma de taa. recuperao de ervais pela decepa: consiste na decepa das rvores improdutivas a 10 cm do solo e conduzir nova planta a partir da brotao e com adensamento ou enriquecimento do erval para atingir a densidade recomendada por hectare. 3. a) nome vulgar: bracatinga b) nome cientfico: mimosa scabrella c) classificao da dinmica sucessional: espcie pioneira, e a disperso de sua semente feita por gravidade. d) classificao geral: uma rvore de porte mdio de 10 a 12 m de altura, tronco, com 40 cm de dimetro, reto, colorao castanha e levemente fissurado. as folhas so compostas e perenes, de colorao verde brilhante, semelhante a accia negra, porm de copa mais arredondadas. no gosta de solo excessivamente mido. e) usos: tima para reflorestamento, sendo muito utilizada como lenha ou na produo de carvo, presta-se para recuperao de voorocas, conservao do solo, em terrenos inclinados e deteriorados principalmente como preparadora do ambiente para introduo de outras espcies florestais. f) produtividade: tem abundante produo de sementes, o que torna fcil e econmico seu plantio, sendo precoce para corte que se d aos 6 ou 7 anos, atingindo at 250 mst/ha. g) propagao: as vagens so colhidas de dezembro a janeiro. a semente dura e36
deve ser feita a quebra da dormncia. o plantio definitivo pode ser feito com mudas ou semeado em linhas.
4.
a) nome vulgar: cedro vermelho b) nome cientfico: cedrela fissilis c) classificao da dinmica sucessional: espcie secundria inicial a tardia de baixa densidade por hectare, e a disperso de suas sementes feita pelo vento. d) caracterstica gerais: alta com tronco reto ou um pouco tortuoso, com ramificao pesada, tortuosa e ascendente, formando copa alta em forma de umbela ou arredondada. sua folhagem muito caracterstica, densa, verde clara na primavera. e) usos: produz madeira de grande valor, fcil de trabalhar, usada principalmente em carpintaria e marcenaria. a sua madeira de cor rosa a vermelha podendo chegar a marrom, de grande durabilidade e resistncia ao ataque de insetos. f) propagao: as sementes colhe-se em abril e maio. o plantio se faz por mudas e sempre protegida do vento e do sol, adapta-se para enriquecimento de florestas. no recomendado para plantio a cu aberto, muito menos para plantios homogneos.
5
a) nome vulgar: canafstula b) nome cientfico: peltophorum dubium c) classificao da dinmica sucessional: espcie secundria inicial, podendo passar aos estgios seguintes da sucesso, e a disperso de sua semente feita pela vento e gravidade. d) caractersticas gerais: fcil sua identificao pelo tronco mais ou menos reto, bastante grosso mas com fuste curto, com 6 a 10 m, casca marrom ou escura, com pequenas fissuras longitudinais, com quinas suaves, que se desprendem em forma de lminas, a casca interna, de cor rosada, pouco fibrosa, e a ramificao cimosa ascendente mais escura que o angico, descasca menos. folhagem mais rija, folhas e fololos maiores e cor verde mais escura. vegeta de preferncia em terrenos vermelhos, argilosos e profundos das margens dos rios. e) usos: ornamental. floresce a partir de janeiro, com flores amarelas. boa para sombra leve, recomendada para arborizao de avenidas, parques e praas, e composio de quebra ventos.
a madeira gosta de empenar mas tem tima durabilidade em lugares secos. prpria para dormentes, assoalhos, carrocerias, selins, construo civil, marcenaria e tornearia. f) propagao: a semente exige quebra de dormncia. tem tima germinao. uma espcie com muita facilidade de pega nos transplantes da mudas. 6 a) nome vulgar: guajuvira37
b) nome cientfico: patagonula americana c) classificao da dinmica sucessional: espcie secundria inicial, e a disperso de suas sementes feita pelo vento, sendo facilmente transportadas e disseminadas, devido ao clice seco, semelhante a uma hlice, que muito caracterstico. d) caractersticas gerais: distingue-se facilmente das demais por ser decidual, com tronco freqentemente tortuoso e com casca cinzenta, levemente fissurada e abundante ramificao recenosa, formando copa alargada, provida de densa folhagem verde escura. e) usos: a madeira tem larga aplicao, sobretudo em construes, obras expostas, cabos de ferramentas, remos, implementos agrcolas, mveis, carpintaria, carrocerias, tacos, madeira com flexibilidade e elasticidade. de fcil combusto. possui cerne negro resistente a deteriorao por insetos. f) propagao: por mudas com fcil pega no transplante. 7. a) nome vulgar: louro b) nome cientfico: cordia trichotoma c) caracterstica da dinmica sucessional: espcie secundria inicial, passando ao estgio seguinte da sucesso e a disperso de sua semente feita pelo vento ou por gravidade. d) caractersticas gerais: as folhas descolores, semelhantes as do aoita-cavalo, com as bordas lisas, que se torna inconfundvel, flores brancas e bem vistosas, tronco reto e cilndrico com fuste de 10 a 15 m, casca cinza claro com sulcos longitudinais, lembrando os do cedro. e) usos: a madeira, muito utilizada para mveis, fcil de trabalhar e flexvel para ser envergada. se presta biologicamente para implantar um sistema agroflorestal, pois, na fase inicial no exerce concorrncia para as pastagens e outras culturas.
7)resultados esperados: 7.1) diagnstico o projeto regional de reflorestamento e recuperao ambiental firmou convnio com 30 municpios da regio noroeste do rio grande do sul, sendo: - 17 municpios so conselho regional de desenvolvimento (crd) do noroeste colonial: ajuricaba, augusto pestana, bom progresso, catupe, coronel barros, crissiumal, humait, iju, jia, panambi, pejuara, redentora, so valrio do sul, tenente portela, tiradentes do sul e trs passos; - 08 municpios do crd fronteira noroeste: cndido godi, dr. maurcio cardoso, novo machado, porto lucena, porto vera cruz, santo cristo, so jos do inhacor e38
tucunduva; - 05 municpios do crd misses: eugnio de castro, giru, salvador das misses, santo ngelo e vitria das misses. estes municpios esto inseridos na rea de atuao da fidene/uniju e emater regional noroeste. nesta mesma rea atuam as arfors (associao de reposio florestal obrigatria) de iju, trs passos, santo ngelo, santa rosa e giru. para se ter um dimensionamento desta regio, a comisso central do projeto efetuou um diagnstico preliminar da situao florestal, apcola e da piscicultura, onde os municpios, atravs de sua secretaria da agricultura, arfors e emater local, realizaram o levantamento de dados do seu respectivo municpio, compilados e analisados no irder pelo eng agr m. sc. osrio antonio luchese. 7.1.1) dados gerais dos municpios do total de 1.205.000 ha, 97,82% corresponde a rea rural que possui 46.883 propriedades assim distribudas: 42,35% com at 10 ha, 33,35% entre 10 e 25 ha, 18,11% entre 25 e 50 ha e somente 6,19% com rea superior a 50 ha. dos 421.225 habitantes, 42,06% residem na zona rural, sendo que estes esto organizados em 352 associaes de produtores e 179 grupos de senhoras e/ou clube de mes, totalizando 11.415 pessoas. o nmero total de escolas pblicas de 1 e 2 graus ( municipais e estaduais) somam 764 com 94.794 alunos, sendo 25,75% em escolas da zona rural, principalmente de 1 grau incompleto. 7.1.2) classes de capacidade de uso dos solos na regio noroeste do estado do rio grande do sul, em rea compreendida entre os municpios de tenente portela, panambi, jia, e santo antnio das misses, correspondente a rea de abrangncia da emater regional noroeste e os crds do noroeste colonial, fronteira noroeste e misses, totalizando 2.439.792 ha, efetuou-se o levantamento das classes de capacidade de uso do solo (incra, 1973 e cepa, 1978), com o objetivo de saber a quantidade de rea com aptido florestal segundo a capacidade de uso do solo. segundo os dados obtidos, esta regio apresenta 63,55%da rea total (classes i,ii e iii) a qual corresponde a terras adequadas ao cultivo agrcola de forma continuada. as reas agricultveis com restries (classes ivpt, ivaf e ivt ) perfazem 18,82% do total, podendo serem utilizadas para culturas anuais. as suas maiores restries so a39
presena de pedregosidade, afloramento de rochas e a declividade acentuada. algumas deveriam ser utilizadas com o cultivo de essncias florestais, principalmente as com declividade acentuada e com pedregosidade que dificultam as operaes agrcolas, especialmente mecanizada. as reas de preservao permanente, de 4.688 ha (classes v e viii) no deveriam sofrer a ao do homem, pois so consideradas refgio da fauna e flora, escarpas e banhados. os restantes 17,44% (classes ivi, vi e vii) so indicadas para culturas permanentes, devendo serem ocupadas com cobertura florestal, preferencialmente, pois a utilizao mais intensiva do solo poder acarretar perdas irreversveis, degradando e tornando muitas vezes impossvel a sua recuperao. tabela 7 - capacidade de uso do solo da regio noroeste do rio grande do sul capacidade de uso do solo agricultveis agricultveis c/ restries preservao permanente culturas permanentes totaisfonte: (incra, 1973 e cepa, 1978).
% sobre rea total 63,55 18,82 0,19 17,44 100,00
hectares 1.550.410 459.293 4.688 425.401 2.439.792
dentro desta regio, encontram-se os 30 primeiros municpios parceiros ao projeto regional de reflorestamento e recuperao ambiental, abrangendo uma rea de 1.205.000ha ou 49,30% da regio noroeste. desta forma, podemos inferir que 17,44% (210.152ha) deveriam ser destinadas preferencialmente para a cobertura florestal permanente. contando que os 18,82% (226.781ha) so adequados ao reflorestamento, especialmente as reas de declividade acentuada e pedregosidade, pode-se afirmar que, pelo menos, deveria haver 25% de cobertura florestal nesta regio ou 301.250ha. 7.1.3) dados sobre recursos florestais na rea de atuao do projeto, a cobertura florestal chega a 7,52 % (90.616 ha), sendo 6,25% (75.264 ha) com cobertura florestal nativa. a maior parte desta rea de 90.616 ha (94,4%) esta ocupada com cobertura florestal nativa em diferentes estgios de degradao, onde houve a completa retirada de toras para serrarias e boa parte da lenha, especialmente para consumo residncia. outro grave problema a retirada da mata para40
implantao de culturas anuais que, apesar das denncias e punies, persiste. a rea com erva-mate chega a 1.653 ha (255%) e o timb, 1.862 ha (2,88%), os demais florestamentos com nativas so insignificantes. segundo observao de tcnicos da secretaria de estado da agricultura e abastecimento, em uma formao original da floresta decidual umbrfila mista do parque do planalto, as quantidades de lenha e toras chega a 300 mst e 150 mst de madeira, respectivamente. nas reas de regenerao, matas com 20 anos alcanam 50 a 60 mst, enquanto as de 50 anos chegam a produzir de 100 a 120 mst de lenha. em termos mdios podemos admitir que o estoque de lenha nas reas com cobertura florestal nativa em nossa regio no ultrapassam a 60 mst, principalmente pela degradao destas formaes e do efeito de borda as reas reflorestadas com espcies exticas ocupam 1,27% (15.353 ha), com o predomnio do eucalipto (78,8%); o pinus (8,41%) e a uva do japo (4,87) so menos expressivas. na margem das rodovias federais e estaduais (reas de emprstimo) temos 89,0% dos mais de 2.500 ha sem reflorestamento. somente 1,0% foram reflorestadas e em regenerao natural. cabe ressaltar que as reas reflorestadas e em regenerao natural no conseguem se expandir em funo de cultivos anuais, da escolha incorreta de espcies para reflorestamento, roadas e / ou queimadas. a mata ciliar ocupa , pelo menos, 25.000 ha, ou 30% da cobertura florestal nativa existente. todavia, sabe-se da invaso destas reas pelos cultivos anuais que, com certeza, descaracterizam a faixa da mata ciliar na quase totalidade dos afluentes existentes, que considerada de preservao permanente, segundo o cdigo florestal brasileiro (lei n 4771/65). segundo os dados apresentados pelos municpios, nos anos de 1995 e 1996, a demanda atendida fechar 8,0 milhes de mudas, sendo 74,4 % de eucalipto e 15,4% de nativas, especialmente de erva-mate. isto eqivaleria dizer que foram reflorestados 1.600 ha/ano, aproximadamente. a fao/onu preconiza que 25% o mnimo necessrio de cobertura florestal para haver uma boa qualidade de vida (rocha, 1990). considerando uma densidade mdia por hectare de 2.500 mudas, seriam necessrias 526.472.500 mudas, ou 132 anos tomando como referencial o que foi plantado em 1995, para cobrir os 210.589 ha.
41
7.1.4) dados sobre utilizao da matria prima florestal a utilizao da matria prima florestal em nossa regio se faz sentir em diferentes segmentos: consumo de lenha em indstrias, comrcio, servios e residncias, consumo de madeira para serraria e indstria de mveis e utenslios, folhas e ramos de erva mate para beneficiamento, e uma infinidade de atividades de menor expresso econmica, mas no menos importantes. o consumo de lenha para indstria, comrcio e servios na rea de abrangncia do projeto era estimada em 63.798 mst/ano em 1984 (souza, aflovem/fee, 1987). todavia estes dados no revelavam a situao de alguns municpios, especialmente trs passos que em 1995 consumiu 91.247 mst/ano e, nos demais , houve aumento prximos de 100%. no entanto, com dados preliminares levantados junto aos municpios da regio, podemos dizer que este consumo chegou a 272.000 mst/ano. isto cabe afirmar que dos 11.850 ha do reflorestamento energtico, considerando uma produo de 185mst/ha, poder suprir a demanda por oito anos no mximo, desde que no haja aumento na demanda, o que pouco provvel. admitindo que os plantios efetuados em 1995 e 1996 tenham logrado pleno xito e de que 80% das mudas tenha sido plantadas para suprir a demanda energtica, teramos plantados 1.282 ha/ano com uma produo mdia, aps 10 anos, de 236.800 mst. se mantivermos este ritmo de corte e reflorestamento, pode-se inferir que a nossa dependncia por lenha de outras regies ir ser cada vez maior nos prximos anos. quando se analisa o consumo residencial rural e urbano os dados tambm so estarrecedores, pois este consumo mais expressivo. se considerarmos que o consumo per capita de 0,68 mst/ano e o rural de 3,75 mst/ano (almeida, 1994), chegaramos a um consumo atual de 811.677,07 mst/ano. considerando que o consumo residencial feito em sua maior parte por espcies nativas, e de que o rendimento mdio de nossas florestas nativas de 60 m st/ha, est sendo derrubado 13.528 ha/ano, ou 17,97% da floresta nativa anualmente. neste caso, teramos o agravante de que, pelo menos, 37.000 ha, ou a metade da cobertura florestal nativa remanescente deveriam estar em reas de preservao permanente (reservas e margens de afluentes), onde sua utilizao proibida por lei. esta postura se faz necessria em funo de dois aspectos: bom senso ecolgico, visando manter os42
irrisrios 6,25% de cobertura florestal nativa; e embasamento tcnico-jurdico de que uma propriedade rural deve ter um mnimo de 20% de sua rea com cobertura florestal. considerando que no sejam exploradas as reas com cobertura florestal nativa, necessitaramos de 5.858 ha de florestas energticas, o que corresponde a metade dos reflorestamentos existentes; ou estoque suficiente para apenas dois anos. cabe ressaltar que no estamos consi