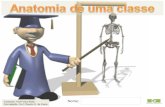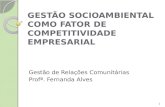G EOTECNOLOGIAS L IVRES Profª Iana Alexandra Alves Rufino ([email protected])
ALVES, G. Trabalho e Neodesenvolvimentismo
-
Upload
rafael-roque -
Category
Documents
-
view
173 -
download
5
description
Transcript of ALVES, G. Trabalho e Neodesenvolvimentismo
-
Giovanni Alves
Trabalho eNeodesenvolvimento
Choque de capitalismo e nova degradao do trabalho no Brasil
-
A Condio de Proletariedade: A precarieda-de do trabalho no capitalismo globalGiovanni Alves
Dilemas da globalizao: O Brasil e a mun-dializao do capitalFrancisco Luiz Corsi (Org.)
Dimenses da Crise do Capitalismo GlobalGiovanni Alves (Org.)
Dimenses da reestruturao produtiva: En-saios de sociologia do trabalhoGiovanni Alves
Economia, Sociedade e Relaes Internacio-nais: Perspectivas do Capitalismo GlobalGiovanni Alves (Org.)
Lukcs e o Sculo XXI: Trabalho, Estranha-mento e Capitalismo ManipulatrioGiovanni Alves
Tela crtica - A MetodologiaGiovanni Alves
Teoria da Dependncia e Desenvolvimento do Capitalismo na Amrica LatinaAdrin Sotelo Valencia
Trabalho e cinema: O mundo do trabalho atravs do cinema vol 1, 2 e 3Giovanni Alves
Trabalho e Capitalismo Global - O Mundo do Trabalho Atravs do Cinema de AnimaoCludio Pinto
Trabalho, Educao e Reproduo SocialEraldo Leme Batista e Henrique Novaes
SRIE TELA CRTICA
Tempos ModernosCharles Chaplin (1936)
MetrpolisFritz Lang (1927)
Ns a Liberdade Ren Clair (1931)
A Terra TremeLuchino Visconti (1948)
Ladres de BicicletaVittorio De Sica (1948)
Salrio do MedoHenri-Georges Clouzout (1953)
Beleza AmericanaSam Mendes (1999)
Segunda-Feira ao SolFernando Lon de Aranoa (2002)
Po e RosasKen Loach (2000)
Eles no usam black-tieLeon Hirzsman (1981)
O CorteCosta-Gavras (2004)
O que voc faria?Marcelo Pieyro (2005)
A classe operria vai ao parasoElio Petri (1971)
2001 - Uma Odissia no EspaoStanley Kubrick (1968)
A agendaLaurent Cantet (2001)
Vinhas da IraJohn Ford (1940)
Laranja MecnicaStanley Kubrick (1971)
Meu TioJacques Tati (1958)
Morte de um caixeiro-viajanteVolker Schlondorff (1985)O adversrioNicole Garcia (2002)
O InvasorBeto Brandt (2001)
O Sucesso a qualquer preoJames Foley (1992)
Projeto Editorial Praxis
Conhea o Projeto Editorial Praxis: www.canal6editora.com.br Pedidos pelo e-mail [email protected]
-
1 edio 2014Bauru, SP
Projeto Editorial Praxis
Giovanni Alves
Trabalho eNeodesenvolvimento
Choque de capitalismo e nova degradao do trabalho no Brasil
-
Copyright do Autor, 2013
Coordenador do Projeto Editorial PraxisProf. Dr. Giovanni Alves
Conselho EditorialProf. Dr. Antonio Thomaz Jnior UNESPProf. Dr. Ariovaldo de Oliveira Santos UELProf. Dr. Francisco Luis Corsi UNESPProf. Dr. Jorge Luis Cammarano Gonzles UNISOProf. Dr. Jorge Machado USPProf. Dr. Jos Meneleu Neto UECE
Projeto Editorial PraxisFree Press is Underground Press
www.canal6editora.com.br
Impresso no Brasil/Printed in Brazil2014
Alves, Giovanni Trabalho e neodesenvolvimento: Choque de capitalismo e nova
degradao do trabalho no Brasil / Giovanni Alves. Bauru: Canal 6, 2014.
216 p. ; 23 cm. (Projeto Editorial Praxis)
ISBN 978-85-7917-223-6 1. Trabalho. 2. Precarizao. 3. Sociologia do Trabalho. 4. Brasil.
I. Alves, Giovanni. II. Ttulo.
CDD: 331.0981
A979d
-
5SUMRIO
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IntroduoA Precarizao do Trabalho no Sculo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PARTE 1 - Trabalho e Neodesenvolvimentismo no Brasil
Captulo 1A nova macroeconomia do trabalho na dcada de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Capitulo 2Nova precariedade salarial e sociometabolismo do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Captulo 3Precarizao existencial, modo de vida just-in-time e carecimentos radicais no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Capitulo 4A precarizao do homem-que-trabalha na dcada de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .109
-
6PARTE 2 - O neodesenvolvimentismo no Brasil
Capitulo 5O Enigma do Neodesenvolvimentismo no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Capitulo 6Neodesenvolvimentismo e Estado neoliberal no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Capitulo 7Os limites do neodesenvolvimentismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PARTE 3 - Precariado e Proletarides: espectros da proletariedade no Brasil
Capitulo 8A revolta do precariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Capitulo 9O que o precariado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Capitulo 10A invaso dos proletarides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
-
Alm das misrias modernas, oprime-nos toda uma srie de mi-srias herdadas, decorrentes do fato de continuarem vegetando modos de produo arcaicos e ultrapassados, com seu squito de relaes sociais e polticas anacrnicas. Somos atormentados no s pelos vivos, como tambm pelos mortos. Le mort saisit le vif!
(O morto se apodera do vivo).
Karl Marx (1818-1883), O Capital
Octvio Ianni(1926-2004)
-
9Apresentao
O livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo Choque do capitalismo e nova degradao do trabalho no Brasil um livro de ensaios sobre o capitalismo brasileiro no sculo XXI. Rene reflexes criticas sobre as novas dimenses da precarizao do trabalho no Brasil, elaboradas em 2013 e 2014, algumas delas originalmente publicadas no blog da boitempo editorial, mas totalmente revistas e ampliadas para este livro. Na verdade, Trabalho e neodesen-volvimentismo d continuidade ao esforo terico-crtico do livro Dimenses da Precarizao do Trabalho ensaios de sociologia do trabalho (Ed. Praxis, 2013), lanado no ano passado. Entretanto, dentro dos limites do ensasmo, e sem muitas pretenses , o livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo procura discutir, no apenas o mundo do trabalho propriamente dito, mas a reproduo social, a eco-nomia, as classes e a estratificao social, a poltica e os movimentos sociais nas condies histricas da primeira dcada do sculo XXI no Brasil. Na verdade, o ensasmo tornou-se um campo frtil para a elaborao terico-categorial, permi-tindo a construo de um acervo de conceitos que visam desvelar o novo (e prec-rio) mundo do trabalho nas condies histricas do capitalismo global.
O livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo Choque do capitalismo e nova degradao do trabalho no Brasil, tal como o livro anterior, publicado em 2013 -Dimenses da Precarizao do Trabalho ensaios de sociologia do trabalho, resultado de novas percepes criticas sobre a precariedade do trabalho no capita-lismo global, na perspectiva do Brasil da dcada de 2000 a dcada do neodesen-volimentismo. Nestes dois livros, procurei elaborar (e reelaborar), de modo exaus-tivo, conceitos explicativos que expusessem um novo entendimento da natureza
-
10
da degradao do trabalho na era da globalizao. No se trata apenas da preca-riedade salarial, mas de novas dimenses da precarizao estrutural do trabalho. Por exemplo, na Introduo do livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo, dou continuidade, num patamar superior de elaborao conceitual, apreenso das novas dimenses da precarizao do trabalho no sculo XXI. Reelaborei, ampliei e recortei conceitos explicativos expostos em livros passados, tais como, por exem-plo, os conceitos de maquinofatura, trabalho ideolgico, precarizao do homem-que-trabalha, nova precariedade salarial, crise do trabalho vivo, dessubjetivao de classe, captura da subjetividade do trabalho, condio de proletariedade e precariado. Ao mesmo tempo, elaborei novos conceitos capazes de aprimorar a percepo e entendimento das dimenses da precarizao estrutural do trabalho no sculo XXI, principalmente da precarizao existencial e precarizao do ho-mem-que-trabalha: modo de vida just-in-time, carecimentos radicais, precariza-o existencial, e proletarides.
O livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo Choque de capitalismo e a nova degradao do trabalho no Brasil, prope uma anlise concreta das novasdimenses da precarizao estrutural do trabalho no Brasil. o que ensaiamos no decorrer das 3 partes em que dividimos o livro: Parte I, intitulada Trabalho e Neodesenvolvimentismo; Parte II, O enigma do neodesenvolvimentismo; e a Parte 3, Precariado e proletarides espectros da proletariedade no Brasil. Neste novo livro, utilizamos o controverso conceito de neodesenvolvimentismo, operando um difcil tertium datur entre neoliberalismo e neodesenvolvimentis-mo como novo padro de desenvolvimentismo do capitalismo perifrico. Ao mes-mo tempo, o processo de concreo da anlise critica exigiu mobilizar, ao lado de muitas hipteses, algumas evidncias empricas e quase nenhuma controvrsia terica com autores, tendo em vista o carter ensastica da empreitada intelectual.Enfim, considero este pequeno livro de ensaios, to-somente um singelo (e despre-tencioso) ponto de partida para pesquisas sociolgicas sobre a nova degradao do trabalho na era do neodesenvolvimentismo, que exige hoje, mais do que nunca, evidncias empricas capazes de confirmar (ou no) as vrias hipteses delineadas.
Marlia, 07 de abril de 2014
-
11
I N T R O D U O
A Precarizao do Trabalho no Sculo XXI
O objetivo desta Introduo expor conceitos indispensveis para o enten-dimento das novas dimenses da precarizao do trabalho nas condies do neodesenvolvimentismo no Brasil1. Trata-se de uma Introduo in-cisivamente terica que visa esclarecer conceitos que utilizamos no decorrer do livro. Num primeiro momento, vamos situar o neodesenvolvimentismo, o novo modelo de desenvolvimento capitalista no Brasil que surgiu na dcada de 2000, no bojo da totalidade concreta do capitalismo global do sculo XXI. O neodesenvol-vimentismo parte compositiva do bloco histrico do capitalismo neoliberal. Deste modo, embora haja distines significativas entre neoliberalismo e neodesenvolvi-mentismo (o que discutiremos na Parte II deste livro, intitulada O enigma do ne-odesenvolvimentismo), o neoliberalismo da dcada de 1990 (governos Fernando Henrique Cardoso) e neodesenvolvimentismo no Brasil (governos Lula da Silva e Dilma Rouseff), se inserem no mesmo bloco histrico: o bloco histrico do capi-talismo flexvel ou capitalismo neoliberal sob dominncia do capital financeiro.
O bloco histrico do capitalismo global pode ser considerada o bloco histrico do capitalismo flexvel ou ento, bloco histrico do capitalismo neoliberal sob do-
1 Os conceitos apresentados nesta Introduo foram expostos e desenvolvidos em nos-sos livros anteriores: O novo (e precrio) mundo do trabalho (Editora Boitempo, 2001), A condio de proletariedade (Editora Praxis, 2008), Trabalho e Subjeti-vidade (Editora Boitempo, 2011), e principalmente, Dimenses da Precariedade do Trabalho (Editora Praxis, 2013), Trata-se de um longo esforo terico-analtico desenvolvido no decorrer da dcada de 2000 para construir categorias adequadas para a critica do capital nas condies histricas do sculo XXI.
-
12
minncia do capital financeiro. Eles constituem a forma histrica do capitalismo mundial na etapa da crise estrutural do capital (Mszros, 2002). O capitalismo global implica um complexo de mltiplas determinaes scio-histricas discri-minadas como sendo o capitalismo do novo complexo de restruturao produtiva do capital sob o espirito do toyotismo (Alves, 2011); ou ainda, sob o novo esprito do capitalismo (Boltanski e Chiapello, 2009); ou o capitalismo da financeirizaoda riqueza capitalista sob a hegemonia do capital financeiro (Chesnais, 1995); ou ainda o capitalismo sob a dominncia do neoliberalismo como bloco histrico que condiciona e constrange as polticas do Estado poltico do capital (Dumnil e Lvy, 2011); ou o capitalismo do ps-modernismo como lgica cultural permeado de irracionalidade social (Jameson, 1996). Alm disso, the last but not the least, capi-talismo global o capitalismo manipulatorio em sua forma exacerbada tendo em vista a nova base tcnica da sociedade em rede.
Nos ltimos trinta anos de desenvolvimento do capitalismo global - os trinta anos perversos (1980-2010), ocorreu a explicitao de duas determinaes que consideramos fundamentais e fundantes da nova temporalidade histrica do capi-tal: a constituio de uma nova forma de produo do capital, que denominamos de maquinofatura; e o desenvolvimento da crise estrutural de valorizao do valor, que se manifesta principalmente na financeirizao da riqueza capitalista e hege-monia do capital financeiro na dinmica de acumulao de valor. Estas novas de-terminaes estruturais postas pelo novo tempo histrico, alteraram efetivamente a forma de ser da precarizao do trabalho.
Primeiro, a precarizacao do trabalho um trao estrutural do modo de pro-duo capitalista. Entretanto, ela possui formas de ser no plano da efetividade histrica. Por natureza, a fora de trabalho como mercadoria esta imersa numa precariedade salarial que pode assumir a forma histrica de precariedade salarialextrema ou a forma histrica de precariedade salarial regulada. O que regula a tonalidade histrica predominante da precariedade salarial a correlao de for-a e poder entre as classes sociais, isto , a materialidade scio-histrica da luta de classes. Trata-se, portanto, de uma regulao social e poltica. Nas condies histricas do capitalismo global surgiu um novo tipo de precariedade salarial: a nova precariedade salarial ou precariedade salarial do trabalho flexvel ( o que discutiremos no captulo 2).
Nos trinta anos perversos do capitalismo global (1980-2010), ocorreram dois fatos histricos significativos, que incidiram sobre a forma de ser histrica da pre-carizao do trabalho. Primeiro, o surgimento da maquinofatura, a nova forma de
-
13
produo do capital, produto das revolues tecnolgicas do capitalismo tardio revoluo informtica e revoluo informacional (Alves, 2011); e, depois, a partir de meados da dcada de 1970, o desenvolvimento da crise estrutural do capital como crise estrutural de valorizao do valor, que decorreu fundamentalmente do aumento da composio orgnica do capital e da queda tendencial da taxa mdia de lucros, provocando mltiplos movimentos contratendenciais, que impulsiona-ram a reestruturao capitalista nas diversas instncias da vida social (economia, comrcio, politica, ideologia, cultura, trabalho, tecnologia, sociabilidade, psicolo-gia, etc) (Alves, 2002, 2013).
A crise estrutural de valorizao do valor colocou como movimento contra-tendencial principal, a necessidade irremedivel de um novo patamar de desvalo-rizao da fora de trabalho como mercadoria. Por isso, a precarizao do trabalho afirmou-se no sculo XXI como precarizao estrutural do trabalho (Mszros, 2002). Nossa hiptese principal que, os dois fatos histricos fundamentais a constituio da maquinofatura e o desenvolvimento da crise estrutural do capital como crise estrutural de valorizao do valor - transformaram efetivamente, ostermos e os modos de ser da precarizacao do trabalho nas condies histricas do capitalismo global. Portanto, a afirmao da precarizao estrutural do trabalho significa que, a precarizao do trabalho no se reduz to-somente precarizao salarial, caracterstica do modo de produo capitalista, mas incorporou, como traos fundamentais do sociometabolismo do trabalho no sculo XXI, a precari-zao existencial e precarizao do homem-que-trabalha.
1. Maquinofatura
A maquinofatura como nova forma de produo do capital, produto do de-senvolvimento da manufatura e grande indstria, surgiu como determinao da base tcnica do sistema de produo de mercadorias nas condies histricas de duas importantes revolues tecnolgicas: a revoluo informtica e a revoluo informacional. (Alves, 2011). A maquinofatura implicou irremediavelmente na constituio de uma nova relao homem x natureza. A tcnica como tecnologia, ou ainda, a tecnologia como forma social da tcnica, uma mediao necessria do metabolismo social. No caso da sociedade capitalista, a base tcnica do sistema produtor de mercadoria adquiriu, por exemplo, determinadas formas sociais, ca-
-
14
racterizadas por Marx como sendo manufatura e grande indstria (Marx, 1996). Podemos consider-las formas sociais (ou formas sociometablicas) no interior das quais se desenvolve a produo do capital. Manufatura e grande indstria so ca-tegorias sociais que implicam um determinado modo de controle sociometabolico que emerge com a civilizao moderna do capital.
Diz Marx, logo no incio do captulo 13 do livro I de O Capital:O revolucionamento do modo de produo toma, na manufatura, como ponto
de partida a fora de trabalho; na grande indstria, o meio de trabalho (Marx, 1996).Nesta pequena e interessante passagem, Marx salienta os pontos de partida
dos revolucionamentos do modo de produo capitalista. Trata-se de uma coloca-o ontolgica da forma de ser da produo social do capital. Como observaram anteriormente Marx e Engels, a burguesia no pode existir sem revolucionar in-cessantemente os instrumentos de produo, por conseguinte, as relaes de pro-duo e, com isso, todas as relaes sociais. (Marx e Engels, 1998): a manufatura, ao constituir a cooperao e a diviso manufatureira do trabalho, revolucionou a fora de trabalho; a grande indstria, ao instaurar o sistema de mquinas, revolu-cionou o meio de trabalho.
Nossa hiptese fundamental que, a maquinofatura, sntese da manufatura e grande indstria, ao constituir a nova base tcnica informtica e informacional da produo social, revolucionou a relao fora de trabalho e meio de trabalho, isto , instaurou a gesto como nexo essencial da produo do capital revolucio-nando, deste modo, a relao homem-mquina. Deste modo, a maquinofatura a nova transformao tcnica da produo da vida social que alterou as condies da dominao da forma-capital e o controle do metabolismo social. Na verdade, desde a manufatura e grande indstria, o revolucionamento do modo de produ-o implica cada vez mais, o revolucionamento do modo de vida, isto , o revo-lucionamento de todas as relaes sociais (o Marx de 1844 diria: o revoluciona-mento da vida do gnero [Gattungsleben] na sua forma abstrata e alienada. Ou ainda: A vida mesma aparece s como meio de vida eis o verdadeiro sentido do trabalho assalariado constitudo no bojo do desenvolvimento da manufatura e grande indstria) (Marx, 2004).
Portanto, o ponto de partida da maquinofatura no o revolucionamento da fora de trabalho (como na manufatura), nem o revolucionamento da tcnica (como na grande indstria), mas sim o revolucionamento do homem-e-da-tcnica, ou o revolucionamento da prpria relao homem-tcnica. Sob a maquinofatura, constituiu-se a gesto como forma ideolgica da produo do capital nas condi-
-
15
es da rede informacional (Goulejac, 2007). Enquanto nova forma tecnolgica de produo do capital, baseada na rede informacional, a maquinofatura colocou a necessidade da gesto como veculo da captura da subjetividade do trabalho vivo, nexo essencial do toyotismo como inovao organizacional do capitalismo flexvel (Alves, 2011). Na medida em que se dissemina o esprito do toyotismo atravs das instancias da reproduo social, loci do processo de subjetivao so-cial, a produo do capital torna-se efetivamente totalidade social, constituindo assim, o modo de vida just-in-time com seu sociometabolismo estranhado e com seus carecimentos radicais.
Em sntese: toda forma de produo do capital (manufatura, grande inds-tria ou maquinofatura) implica, como pressuposto da base tcnica, uma deter-minada forma organizacional do trabalho ou gesto; e um determinado modo de vida adequado para a reproduo social (isso ocorre tanto na manufatura, quanto na grande industria e maquinofatura). A maquinofatura, que se cons-tituiu a partir da nova base tcnica (a tecnologia informacional), pe, como pressuposto efetivo, a captura da subjetividade da pessoa humana por meiodo esprito do toyotismo, implicando, de modo intensivo e extensivo, o processo de reproduo social do trabalho vivo. Deste modo, com o surgimento da ma-quinofatura, alteraram-se os termos do estranhamento social, dado pela relao tempo de vida/tempo de trabalho e pela constituio de um novo modo de vida: o modo de vida just-in-time.
Em termos ontometodolgicos, pressuposto quer dizer determinao, mas no determinismo, o que significa que, a relao entre maquinofatura e novas formas de estranhamento social decorrentes da precarizao existencial como precarizao do homem-que-trabalha, no implica em determinismo tec-nolgico, tendo em vista que a maquinofatura apenas a forma sociometabolicade uma base tcnica - no caso, a rede informacional - que oferece possibilidades contraditrias (como diria, Lojkine, 1995), desenvolvidas (ou no) pelo capital como mediao da forma social historicamente determinada. Deste modo, no a base tcnica que produz estranhamento social, mas sim a forma-capital e as relaes sociais de produo capitalista que fazem com que a base tcnica informacional da maquinofatura encontre na gesto toyotista, a forma organi-zacional adequada da produo social. A rigor, maquinofatura no implica ne-cessariamente gesto toyotista e modo de vida just-in-time. No a forma tc-nica da produo do capital, constituda pelas novas maquinas informacionais em rede, que nos faz adoecer, mas sim, as relaes sociais de poder do capital
-
16
como movimento de autovalorizao do valor, relaes sociais estranhadas que se materializam na organizao do trabalho.
Uma sociedade humana emancipada de produtores auto-organizados, onde os sujeitos humanos se re-apropriariam das condies objetivas e subjetivas da produo social (condies de trabalho e gesto), a base tcnica das novas m-quinas informacionais, contribuiria para o desenvolvimento de novas virtualida-des humanas, explicitando um novo modo de organizao do trabalho e um novo modo de vida. Deste modo, a maquinofatura contribuiria efetivamente no para a alienao humana, mas para a explicitao da nova humanidade plenamente desenvolvida, tendo em vista a afirmao da rede como base material pressuposta do em-si da genericidade humana (Alves, 1999).
Quadro 1Formas de desenvolvimento do capital
Manufatura Fora de Trabalho (Homem)Grande Indstria Meio de Trabalho (Tcnica)Maquinofatura Homem + Tcnica = GESTO
2. O trabalho ideolgico (com implicao estranhada)
O desenvolvimento da maquinofatura como nova forma de produo do capi-tal contribuiu para o desenvolvimento da sociedade de servios, caracterizadas pela vigncia do trabalho ideolgico. Entendemos o trabalho ideolgico como sendo um modo de trabalho humano concreto que implica a ao comunicativa sobre outros homens (e inclusive sobre si mesmo). Por exemplo, as profisses de educadores, assistentes sociais, cuidadores, mdicos, juzes, vendedores, psiclo-gos, analistas simblicos, etc, so atividades laborais onde se exerce a ao ideol-gica sobre outros homens e sobre si mesmo.
O trabalho ideolgico surgiu do desenvolvimento do processo civilizatrio, caracterizando hoje, no apenas os servios de controle e apoio reproduo social complexa, mas as atividades preparatrias, e inclusive, atividades diretas da pro-duo social. O trabalho ideolgico permeia a organizao do trabalho industrial
-
17
sob a gesto toyotista. Por exemplo, o kan-ban e a autonomomao so dispositi-vos ideolgicos que operam aes comunicativas nas equipes de trabalho da fbri-ca toyotista. A gesto toyotista como pratica mediativa da nova forma de produ-o do capital (a maquinofatura), essencialmente trabalho ideolgico, possuindo sentido estranhado, na medida em que implica a racionalizao de meios visando a obteno de fins estranhos s necessidades sociais e carecimentos radicais dossujeitos humanos que trabalham.
O trabalho ideolgico impregna a materialidade imaterial da maquinofa-tura, tendo em vista que ela instaurou um novo modo de subsuno do traba-lho ao capital. o que Ruy Fausto, elaborando o seu conceito de ps-grande indstria (conceito homologo ao conceito de maquinofatura), denominou de subsuno formal-intelectual ou espiritual do trabalho ao capital em contraste, por exemplo, com a subsuno formal (manufatura) e subsusno real (grande indstria) (Fausto, 1988).
Como tipo de trabalho humano concreto nas condies do modo de produo capitalista, o trabalho ideolgico incorporou a forma de trabalho abstrato, tornan-do-se, deste modo, trabalho ideolgico com implicao estranhada. A implicao estranhada do trabalho ideolgico encontrou na gesto, o veculo do estranha-mento. A gesto como doena social (como diria Vincent de Goulejac), possui efe-tivamente um sentido ideolgico que estressa o sujeito-que-colabora. Deste modo, existe uma unidade orgnica entre maquinofatura, como nova forma de produo do capital; e a vigncia do trabalho ideolgico com implicao estranhada.
Na medida em que as profisses caracterizadas pelo trabalho ideolgico tm uma caracterstica fundamental - elas envolvem, extensa e intensamente, a sub-jetividade das pessoas-que-trabalham - o trabalho ideolgico com implicao estranhada, possui alta carga de estressamento, que, nas condies da precari-zao existencial, faz aumentar o risco de adoecimento laboral (precarizao do homem-que-trabalha).
3. Dimenses da precarizao estrutural do trabalho no sculo XXI
A precarizao estrutural do trabalho ou a precarizao do trabalho no sculo XXI, caracteriza-se, num primeiro momento, pela constituio da nova precarie-
-
18
dade salarial baseada na lgica do trabalho flexvel, que alterou, no apenas as condies de regulao do estatuto salarial (contratao salarial precria, remu-nerao e jornada de trabalho flexveis); mas tambm a organizao do traba-lho (gesto toyotista) e a base tcnica da produo capitalista (novas tecnologias organizacionais). A nova precariedade salarial produz impactos categricos no metabolismo social do trabalho. Por exemplo, as novas tecnologias informacio-nais acopladas gesto toyotista mtodo just-in-time/kan-ban e a autonoma-o) contriburam efetivamente para a intensificao do tempo de trabalho e o aumento do estresse laboral.
Entretanto, a precarizao do trabalho no sculo XXI, no se reduz apenas precarizao salarial, com a constituio da nova precariedade salarial caracteri-zada, por exemplo, pela regulao salarial precria, gesto toyotista e novas tecno-logias informacionais. No sculo XXI surgiram novas formas de precarizao do trabalho que denominamos (1) precarizao existencial, decorrente do modo de vida just-in-time; que produz vida reduzida e provoca carecimentos radicais nas pessoas-que-trabalham; (2) e a precarizao radical do homem como ser genrico,a precarizao do homem-que-trabalho, decorrente dos adoecimentos laborais.
Portanto, na era da maquinofatura e da crise estrutural do capital, surgem novas dimenses da precarizao do trabalho, que compem em si e para si, o complexo da precarizao estrutural do trabalho no sculo XXI. Nas prximas se-es desta Introduo, delinearemos o conceito de precarizao existencial (modo de vida just-in-time, vida reduzida, carecimentos radicais e crise do trabalho vivo), dando continuidade elaborao conceitual iniciada no livro Dimenses da Precarizao do Trabalho (Praxis, 2013), onde expusemos os conceitos de pre-carizao do homem-que-trabalha como trao orgnico da degradao da pessoa humana. Naquele momento, os conceitos de precarizao existencial, modo de vidajust-in-time e carecimentos radicais estavam apenas em processo de elaborao categorial. Aos poucos, a elaborao dissertativa propiciou a clareza conceitual necessria para expormos os traos do complexo de complexos da precarizao estrutural do trabalho no sculo XXI. o complexo conceitual exposto na Intro-duo que utilizaremos para decifrar o enigma do neodesenvolvimentismo como padro de desenvolvimento do capitalismo brasileiro no sculo XXI.
-
19
Quadro 2 Precarizao Estrutural do Trabalho no Sculo XXI
4. Modo de vida just-in-time e precarizao existencial
No livro Condio ps-moderna, David Harvey (1992), ao pesquisar as origens da mudana cultural, faz um mapeamento cognitivo da condio ps-moderna (Harvey, 1992). Na medida em que ocorreu a passagem do fordismo acumulao flexvel, ocorreram mudanas significativas da experincia do espao e do tempo. Embora Harvey se detenha nos fenmenos culturais que caracterizam a condio ps-moderna, as transformaes da experincia do espao e do tempo alteraram o todo orgnico do metabolismo social. Na verdade, a condio ps-mo-derna efetivamente uma condio ideolgica no sentido ontolgico de ideolo-gia, isto , ideologia como medium cognitivo atravs do qual os homens interferem na realidade e a modificam. Apesar de condicionadas pelas mudanas materiais ocorridas nas condies econmicas de produo, as formas ideolgicas no so mero epifenomno, mas elementos determinantes da prpria realidade social e da soluo de suas contradies (Marx, 1985).
Na primeira parte do livro, David Harvey tratou da passagem da modernidade ps-modernidade na cultura contemporanea. Como marxista, Harvey explicou as origens da condio ps-moderna pelas transformaes politico-econmica do capitalismo do final do sculo XX com as mudanas estruturais ocorridas no
-
20
modo de produo da vida social e na organizao do trabalho. Ele salientou a passagem do fordismo acumulao flexvel. O novo regime de acumulao fle-xivel implicou em mudanas na experiencia do espao e do tempo, constituindo o que ele denominou de compresso do tempo-espao. Entretanto, a acumula-o flexvel implicou, no apenas em mudanas ideologicas, no sentido da cultura da ps-modernidade, mas principalmente mudanas drsticas na organizao domodo de vida social. Na verdade, existe uma determinao reflexiva entre orga-nizao do trabalho e modo de vida, considerado como complexo categorial de determinaes determinadas, que compem o todo orgnico da produo da vida social. Por isso, a abordagem totalizante e totalizadora de David Harvey, de ntida influncia gramsciana, contribuiu para apreendermos o conceito de modo de vida como elemento compositivo da produo social do capital.
Karl Marx, Friedrich Engels, Antonio Gramsci e E. P. Thompson trataram da categoria modo de vida, sem dar-lhe um estatuto conceitual preciso. Por exem-plo, Friedrich Engels em sua obra clssica, A situao da classe trabalhadora na Inglaterra discutiu no apenas as condies de trabalho, mas as condies devida, situao de vida ou padro de vida da classe operria inglesa em 1842, inclu-sive dedicando um captulo sobre as cidades (Engels, 2002). Depois, na tradio marxista, Antonio Gramsci e E.P. Thompson elaboraram sua crtica do capital, salientando os momentos da reproduo social, cultura e sociabilidade da classe trabalhadora, elementos compositivos ineliminveis na formao da classe e cons-cincia de classe, isto , formao do sujeito humano histrico (Gramsci, 1984; 1984b; Thompson, 1985).
O modo de vida constitui o pressuposto determinado da organizao do trabalho, implicando as experincias de organizao do espao e do tempo no m-bito das instncias de circulao (trajetos na vida urbana), distribuio e trocas(padro de sociabilidade, relaes sociais, valores e modos de auto-referncia pes-soal); e consumo (modos de percepo e gosto cultural, apropriao e aquisio de produtos, de acordo com necessidades sociais e carecimentos radicais). O modo de vida diz respeito reproduo social, sendo, deste modo, objeto de regulao social das instituies. O que denominamos de modo de vida just-in-time a or-ganizao do modo de vida nas condies do capitalismo flexivel. Na medida em que se disseminou o toyotismo sistmico, constituiu-se no plano da reproduo social, o modo de vida just-in-time.
Para que possamos entender o significado do conceito de modo de vida just--in-time, torna-se importante apreender o significado do mtodo just-in-time/
-
21
kan-ban na tica da gesto toyotista. Por exemplo, para Taiichi Ohno, idelogo do toyotismo, o just-in-time significa que, em um processo de fluxo da produo industrial, as partes corretas necessrias montagem, alcanam a linha de mon-tagem, no momento em que so necessrias e somente na quantidade necessria. Esta a lgica do just-in-time: a produo a tempo certo. Para Ohno, uma empresa que estabelea esse fluxo integralmente, pode chegar ao estoque zero. Alm disso,por trs do principio do estoque zero, existe a vigncia da empresa enxuta (lean production). Estoque zero exige necessariamente, na tica do capital, a reduo da fora de trabalho na planta industrial (Ohno, 2012).
Mas Ohno constatou que, muito difcil aplicar o just-in-time ao plano da produo de todos os processos de forma ordenada. Uma falha na previso, um erro no preenchimento de formulrios, produtos defeituosos e retrabalho, problemas com o equipamento, absentesmo os problemas so incontveis. E conclui: Portanto, para produzir, usando o just-in-time, de forma que cada pro-cesso receba o item exato necessrio, quando ele for necessrio, e na quantidade necessria, os mtodos convencionais de gesto no funcionam bem. Enfim, ojust-in-time como revolucionamento da produo de mercadorias, implica um novo mtodo de gesto da produo. Taiichi Ohno tentou resolver o problema do just-in-time, repensando o f luxo de produo e instaurando um novo mtodo de gesto, onde o f luxo de produo ocorreria na ordem inversa: um processo final vai para um processo inicial para pegar apenas o componente exigido na quantidade necessria no exato momento necessrio. Na verdade, Taiichi Ohno descobriu que o segredo do just-in-time efetivamente a comunicao, isto , indicar claramente, o que e quanto preciso de peas no processo de produo, criando, deste modo, um quadro de sinalizao capaz de controlar a quantidade produzida ou seja, a quantidade necessria (nesse caso, a comunicao se reduzao quadro de sinalizao).
Portanto, o sistema Toyota possui dois pilares: a autonomao e o just-in-time/kanban, onde just-in-time o sistema; kan-ban, o mtodo [de comunicao]); e a autonomao, a disposio anmica de colaborao [o trabalho vivo] (Coriat, 1998). Noutros termos: o mtodo do sistema just-in-time reside na comunicao reduzida a esquema de sinalizao das necessidades da produo; e como pressu-posto indispensvel do sistema just-in-time e do prprio mtodo kan-ban, tera-mos a autonomao como disposio anmica do trabalho vivo em colaborar com o capital. Eis o significado ontolgico das categorias do ohnismo.
-
22
Quadro 3 A organizao do toyotismo
Sistema just-in-time
(produo enxuta)Mtodo kan-ban
(comunicao instrumental)
Autonomao (espirito de colaborao)
Novas tecnologias informacionais(controle em rede)
Os parmetros do esprito do toyotismo, inscrito no sistema/mtodo just-in--time/kan-ban e na autonomao, isto , produo enxuta, comunicao instru-mental e colaborao do trabalho vivo, se reverberam na totalidade social, tor-nando imprescindvel, nesse caso, a formao de sujeitos humanos (trabalho vivo) com disposio anmica para colaborar, requisito necessrio da autonomao na produo capitalista.
O modo de vida just-in-time significa uma maior carga de presso no plano psquico do homem-que-trabalha, implicando no fenmeno que denominamos vida reduzida. Na medida em que a produo toyotista torna-se totalidade social, o esprito do toyotismo como ideologia orgnica do metabolismo social da produ-o do valor (Alves, 2011) impregna a vida social com os elementos valorativos do produtivismo capitalista. O trabalho abstrato, que nasce na fbrica, dissemina-se pela sociedade burguesa. Por isso, temos salientado que, nas condies do capita-lismo global, a intruso do trabalho abstrato na vida social, constituindo as formas derivadas de valor, ocasionam o fenmeno da vida reduzida (Alves, Vizzaccaro--Amaral e Mota, 2011).
-
23
5. Vida Reduzida como precarizao existencial
A vida reduzida impulsionada pelo modo de vida just-in-time antpoda vida plena de sentido (Lukcs). Com a vida reduzida, o capital avassala a possi-bilidade de desenvolvimento humano-pessoal dos indivduos sociais, na medida em que o tempo de vida disponvel das pessoas est avassalado pela lgica do tra-balho estranhado e a lgica do consumismo desenfreado. A vida reduzida produz homens imersos em atitudes (e comportamentos) particularistas, construdos (e incentivados) pelas instituies (e valores) sociais vigentes. Por isso, as condies de existncia social que surgem do metabolismo social do trabalho reestruturado no capitalismo global, contribuem para a exacerbao do fenmeno do estranha-mento na sociedade burguesa.
A vida reduzida possui alguns traos caractersticos fundamentais isto , vida reduzida significa vida veloz, vida sinalizada, vida enxuta, vida capturada e vida invertida.
Por exemplo, vida reduzida vida veloz, na medida em que a produo em rede, utilizando tecnologias informacionais, sob os requisitos da gesto toyotista, intensifica o movimento de rotao do capital e, por conseguinte, o processo de produo como totalidade social. Nas condies de crise estrutural de valorizao do valor, exacerba-se a nsia de valorizao do capital, incrementando-se, deste modo, o movimento de rotao dos circuitos de valorizao do valor. Ocorre o que I. Meszros denominou de aumento da taxa de utilizao decrescente do valor de uso das mercadorias, ou ainda o que David Harvey denominou de compres-so espao-tempo (Mszros, 2001; Harvey, 1993). Na medida em que a sociedade burguesa se constitui como sociedade em rede, a subsuno da totalidade social produo do capital torna-se subsuno real. Deste modo, o aumento da pro-dutividade do trabalho na produo de mercadorias se reverbera no aumento da velocidade dos circuitos vitais do organismo social.
Ao mesmo tempo, vida reduzida vida sinalizada (avaliada e qualificada), tendo em vista que estamos diante, no apenas da suposta sociedade da comuni-cao, mas sim, nos deparamos diante da sociedade da comunicao-reduzida--a-sinalizao, tal como ocorre, por exemplo, no kan-ban como mtodo da ges-to toyotista. Na sociedade miditica formada por redes, a comunicao contm elementos de sinalizao de procedimentos e requerimentos instrumentais que envolvem irremediavelmente o sujeito. Esta a nova tessitura da ideologia da co-municao e, ao mesmo tempo, a comunicao da ideologia como sinais/marcas
oposto
-
24
capazes de manipular a subjetividade do trabalho vivo, no apenas no plano da produo, mas principalmente no plano da vida cotidiana. A comunicao da vida sinalizada a anti-comunicao.
A vida reduzida vida capturada, na medida em que ocorre a introjeo de valores-fetiches do capital no sujeito-que-colabora. O trfico social est assediado por imagens-valores que, como fetiches, se impem subjetividade de homens emulheres que trabalham. A sociedade em rede a sociedade do poder da ideologia que opera no plano da subjetividade humana. Lukcs denominou o capitalismo tardio de capitalismo manipulatrio. A vida capturada vida manipulada in-tensa e extensivamente nas mais diversas esferas da vida social. A propaganda e marketing, as imagens do desejo que permeiam os meios de comunicao de mas-sa, as interpelaes lingsticas que plantam novos conceitos no universo locucio-nal (por exemplo, trabalhador colaborador), visam capturar a subjetividade do homem-que-trabalha.
Entretanto, importante observar que, o termo captura encontra-se entre aspas, tendo em vista que o processo de captura intrinsecamente contraditrioe virtual no sentido que no ocorre efetivamente uma captura (uma vida efetiva-mente capturada a prpria morte). Portanto, o sujeito-que-colabora, debate-se consciente ou inconscientemente, consigo mesmo, resistindo sua prpria dese-fetivao humano-genrica. O sujeito-que-colabora nas condies da nova preca-riedade salarial, com suas candentes contradies sociais, est clivado de conflitos pessoais. Como iremos verificar adiante, o esprito do toyotismo que captura a subjetividade do homem-que-trabalha um esprito farsesco, onde a farsa o modo do capital lidar com as contradies vivas no plano da pessoa humana (li-berdade escravido; Guerra Paz; Qualidade Total Desperdcio Total, etc).
A vida reduzida tambm vida enxuta, na medida em que a vida das pessoashumanas tende a se reduzir s partes necessrias montagem das exigncias sistmicas. No modo de vida just-in-time, o tempo de vida disponvel se reduziu a tempo de trabalho (e consumo) estranhado. O sentido da instrumentalidade se impe queles que organizam o seu tempo disponvel: Eu fao no o que me d fruio de vida, mas sim, o que tem utilidade para minha carreira profissional. O tempo de vida reduzido s atividades necessrias carreira profissional e aos requerimentos alienados de consumo e status social. A vida enxuta, no plano co-tidiano, est permeada do pragmatismo existencial, onde os requerimentos valo-rativos do trabalho estranhado invadem o tempo livre ou tempo disponvel para si, reduzindo irremediavelmente o tempo disponvel para as relaes com amigos
-
25
e familiares e inclusive, para o cuidado de si. A crise de sociabilidade, ao reduzir o crculo das amizades, contribui para o fenmeno da vida enxuta.
Quadro 4 O Fenmeno da Vida Reduzida
Vida velozVida sinalizada
Vida enxutaVida capturada
Vida invertida Finalmente, vida reduzida vida invertida, a medida que o processo inicial do
fluxo vital, como diz Ohno, vai para o processo final, isto , tempo futuro reduz-se a tempo presente, instaurando-se a presentificao crnica, a morte da infncia e o alongamento ou cronificao da juventude. Nesse caso, ocorrem alteraes sociometabolicas no processo de desenvolvimento geracional. Crianas e adoles-centes tornam-se adultos imaturos, ao mesmo tempo que a juventude se alonga e envelhece. A compresso espao-tempo no deixa de ser tambm, a compresso geracional, no sentido de acelerao do desenvolvimento das condies de descar-tabilidade (o que Mszros denominou de aumento da taxa de utilizao decres-cente dos valores de uso, com homens e mulheres reduzidos forma-mercadoria fora de trabalho). Na verdade, a cronificao da juventude ou o seu alonga-mento cronolgico , em si, um modo de aboli-la como construo social. Nas condies da nova precariedade salarial, a passagem para a vida adulta tornou-se quase uma impossibilidade da civilizao do capital. Por exemplo, nos pases capi-talistas mais desenvolvidos, os pilares da socializao adulta - emprego com car-reira profissional, famlia como realizao pessoal e consumo como fruio vital - esto corrodos pela impossibilidade do sistema produtivo do capital incorporar, de modo produtivo, o contingente de jovens altamente escolarizados. Na verdade, o precariado a camada social do jovem proletariado tardio, que expe os limites radicais da reproduo social no mundo do capital. Esta uma das contradies candentes da ordem burguesa hipertardia.
-
26
6. As contradies vivas do modo de vida just-in-time
O modo de vida just-in-time contm, em si, contradies vivas que tendem a colocar efetivamente obstculos implementao do sistema toyotista. As contra-dies vivas do modo de vida just-in-time representam as prprias contradies do capital. O esprito do toyotismo como esprito farsesco, articula categorias in-trinsecamente contraditrias. Por isso, o sujeito-que-colabora o mesmo sujeito--que-se-frustra ou o sujeito-que-adoece. No capitalismo flexvel, tudo flui e nada flui como deveria fluir. O modo de vida just-in-time convive, por exemplo, nas metrpoles, com o acmulo de veculos que provocam o caos urbano na circulao de pessoas e mercadorias. A crise urbana a crise do just-in-time que se torna, des-te modo, idealidade farsesca. Por exemplo, o esgotamento da automobilidade nas cidades provoca estresse nos sujeitos-que-colaboram, tendo em vista que se alonga a jornada de trabalho com os trajetos estressantes de ida e volta nas metrpoles. Os paradoxos do modo de vida just-in-time tornam-se candentes na medida em que se intensifica a produo (vida veloz), e paralisa-se a circulao (crise urbana).
Ao mesmo tempo, o sujeito-que-colabora se estressa com a intensificao da manipulao visando a produo de necessidades suprfluas (vida capturada). O trabalho vivo interpelado, com recorrncia, para a aquisitividade suprflua de mercadorias. O tempo de vida disponvel torna-se perversamente , tempo de con-sumo manipulado como consumismo. Entretanto, a nova precariedade salarial, que reduz a capacidade aquisitiva das massas assalariadas, interverte sujeitos-que--colaboram em sujeitos-que-se-frustram. A colaborao torna-se mero simulacro do consentimento esprio, mediada por um dos afetos regressivos da alma huma-na: o medo. Portanto, na medida em que o esprito do toyotismo com seus valores--fetiches, sonhos e expectativas de mercado, dissemina-se na vida social, o modo de vida impregna-se da lgica do sistema/mtodo de produo, tendo em vista que a prpria circulao, distribuio e consumo torna-se elemento compositivo da produo em geral. Assim, o modo de vida incorporou a lgica sistmica da produo de mercadorias, ocorrendo a disseminao das formas derivadas de va-lor na vida social, incorporao/disseminao radicalmente contraditrias, posto que, existe, como salientamos acima, incongruncias ontolgicas entre as esferas da vida e as esferas sistmicas. A dimenso farsesca contamina as categoriais so-ciais do capitalismo flexvel. O que significa que, o conceito de modo de vida just--in-time contm uma tenso contraditria intrnseca produo do capital entre trabalho estranhado e vida humana.
-
27
Na verdade, a gesto toyotista, as novas tecnologias informacionais e o modo de vida just-in-time nas condies do capitalismo farsesco, provocam a agudiza-o do fenmeno do estranhamento das individualidades pessoais implicadas no processo social de produo do capital. O novo patamar de estranhamento social caracteriza-se por uma intensa carga de presso psquica, que contribui efetiva-mente para o adoecimento laboral. que denominamos precarizao do homem--que-trabalha (Alves, 2013).
Ao mesmo tempo, em decorrncia da transgresso do fluxo vital, reduzido a flu-xo de produo de mercadorias (modo de vida just-in-time), aumenta-se, no plano da vida cotidiana, o risco e a periculosidade como traos da condio de proletarie-dade moderna. sta a precarizao existencial. Indo alm do estresse ideolgico provocado pela precarizao do homem como ser humano-genrico, a precarizao existencial diz respeito degradao das condies de existncia do trabalho vivo no territrio das metropoles e nos espaos pblicos de desenvolvimento humano, isto , as condies da reproduo social como circulao, territorialidade, consumo e lazer.
Quadro 5 Precarizao existencial
modo de vida just-in-time vida reduzida carecimentos radicais crise do trabalho vivo
7. Precarizao do trabalho e carecimentos radicais
A vida reduzida com seus carecimentos radicais compem o complexo da pre-carizao existencial como dimenso estrutural da precarizao do trabalho no capitalismo do sculo XXI. Ela compe, ao lado da nova precariedade salarial, os nexos causais das doenas do trabalho que degradam a pessoa humana (precari-zao do homem-que-trabalha). Na medida em que se exacerba o estranhamen-to, isto , a deformao da personalidade humana, devido a nova precariedade salarial o modo de vida just-in-time, que provoca o fenmeno da vida reduzida, explicitam-se incisivamente os carecimentos radicais e a crise do trabalho vivo.
Por carecimentos radicais, entendemos os carecimentos que se formam nas socie-dades fundadas em relaes de subordinao e de domnio, mas que no podem ser satisfeitos quando se esta no interior delas. So carecimentos cuja satisfao s pos-
-
28
svel com a superao dessa sociedade. (Heller, 1978). Um dos mais candentes care-cimentos radicais o carecimento de sentido da vida humana, incapaz, todavia, de ser resolvida nas condies do prosasmo da sociedade das mercadorias. O carecimento de sentido da vida humana, como carecimento radical permanente das individualida-des pessoais de classe, agudiza-se nas condies histricas do capitalismo global.
Nosso ponto de partida para desvelarmos a natureza dos carecimentos radicaisnas condies histricas do capitalismo do sculo XXI, inclui resgatar, num primei-ro momento, a categoria de trabalho estranhado, desenvolvida por Karl Marx nos Manuscritos de 1844. A teoria do estranhamento em Marx hoje a base para a cri-tica do capital na etapa do capitalismo manipulatorio (Alves, 2010). A centralidade histrica do problema do estranhamento no sculo XXI fez com que, o ultimo cap-tulo da obra-prima inacabada do ltimo Lukcs Por uma ontologia do ser social se intitula-se, o estranhamento (Lukcs, 2013). Ao fazermos a critica do trabalho estranhado, resgatamos dialeticamente, como pressuposto negado, o trabalho como categoria ontolgica do ser social, a partir do qual ocorre a afirmao do ser gen-rico dos homens. Na perspectiva crtico-dialtica, ao mesmo tempo que se expea negao, explicita-se a afirmao. O processo dialtico de negao da negao, operado pela crtica de Marx, contribui efetivamente para desvelarmos, pelo menos no plano do pensamento, os elementos humano-generico ocultos pelo capital como modo de controle estranhado do metabolismo social (propriedade privada, diviso hierrquica do trabalho). Portanto, no bojo da problemtica da negao da nega-o (aufhebung), se pem o tema da (de)formao e desenvolvimento humano como problemtica hoje da critica do capital em sua etapa de crise estrutural.
A discusso da (de)formao humana implica a elaborao da critica terico--prtica do estranhamento como fenmeno histrico-social do mundo do capital, posio critica que se contrasta, por exemplo, com a critica metafisica que consi-dera a alienao, destino ontolgico do homem. A problemtica da barbrie social que no discutiremos aqui - a problemtica da deformao da personalidade humana nas condies da crise estrutural do capital.
8. Carecimentos radicais como crise do sentido humano
Tratar dos carecimentos radicais na era da barbrie social implica em dissecar o problema do sentido da vida humana. A problemtica do sentido da vida como
-
29
carecimento radical explorada hoje, por exemplo, pelas filosofias de auto-ajuda e espiritualidades esprias que se disseminaram no Brasil do neodesenvolvimen-tismo2 No plano sociometabolico, o problema do sentido da vida o problema existencial candente. O filosofo Georg Lukcs foi contundente ao afirmar que o capitalismo incapaz de dar uma vida plena de sentido. A afirmao lukacsiana ti-nha bases efetivamente ontolgicas no sentido histrico-materialista e dialtico.Nossa hiptese geral que, nas condies da barbrie social, as pessoas humanas tm dificuldade de encontrar um sentido, trao antropolgico fundamental do ser genrico do homem e elemento constitutivo da genericidade humana. Essa difi-culdade das pessoas humanas encontrarem um sentido, decorre da prpria difi-culdade delas perceberem a realidade efetiva do mundo social dos homens. o que podemos considerar como a crise do sentido humano.
Na verdade, a intensificao do fetichismo da mercadoria nas condies hist-ricas do capitalismo global, com as foras do mercado invadindo diruptivamente a vida cotidiana das pessoas, intensificou a manipulao nas instancias do consumo, politica e produo da vida social; e a disseminao da nova precariedade salarial eprecarizao existencial, aprofundaram o aviltamento da personalidade humana, contribuindo, deste modo, para o surgimento do fenmeno do ensimesmamen-to, trao candente da crise do sentido humano que caracteriza o estranhamento da vida social na era do capitalismo manipulatorio.
O homem burgus , em si e para si, um homem ensimesmado. Entretanto, nas condies da barbrie social, aprofundou-se o trao de particularismo do homem burgus. Nas novas condies histricas da terceira modernidade do capital, as pessoas humanas tm, cada vez mais, dificuldade de perceber a realidade do mun-do social dos homens porque esto ensimesmadas.3
Esta crise de percepo percepo do sentido um trao intrnseco daquiloque o jovem Marx caracterizou como desefetivao humano-generica ou estra-nhamento social. o que ele diz, por exemplo, nos Manuscritos de 1844: A rea-
2 Por exemplo, um dos gurus da filosofia de auto-ajuda da classe mdia no Brasil Augusto Cury publicou em 2013, o livro intitulado O Sentido da Vida. O mercado editorial tornou-se hbil em explorar a misria espiritual e inquietao pessoal das camadas mdias atormentadas pela exacerbao da condio de proletariedade .
3 A primeira modernidade do capital diz respeito a fase histrica do capitalismo comercial; a segunda-modernidade corresponde fase histrica do capitalismo da grande indstria; e a terceira modernidade do capital a modernidade do capita-lismo da maquinofatura (Alves, 2007)
-
30
lizao efetiva do trabalho a sua objetivao. No estado econmico-poltico [o capitalismo G.A,] esta realizao efetiva do trabalho aparece como desefetivao do trabalhador, a objetivao como perda e servido do objeto, a apropriao como alienao, como exteriorizao. E salienta: A realizao efetiva do trabalho tanto aparece como desefetivao que o trabalhador desefetivado a ponto de morrer de fome. Em alemo, entwirklicht, significa literalmente privado de realidade e/ou de efetividade (Marx, 1985) (Entwirklichung vem do verbo entwirklichen, que significa privar de realidade e/ou de efetividade). Por isso, uma pessoa alienada uma pessoa humana em processo de desefetivao humano-generica ou privada de sentido de realidade e/ou efetividade como ser genrico; onde a genericidade humana se caracteriza pelas relaes sociais de exteriorizao/objetivao. A pes-soa ensimesmada pessoa humana imersa em seu particularismo incapaz de obje-tivao/exteriorizao na atividade social.
O psicanalista austraco Viktor Frankl, no livro Sede de Sentido observou: A vontade de sentido constitui um dos aspectos bsicos de um fenmeno an-tropolgico fundamental a que dou o nome de transcendncia de si mesmo. Esta autotranscendencia do existir humano consiste no fato essencial de o homem sempre apontar para alm de si prprio, na direo de alguma causa a que serve ou de alguma pessoa a que ama. E somente na medida em que o ser humano se autotranscende que lhe possvel realizar-se tornar-se real a si prprio. (Frankl, 2008)
Viktor Frankl identificou a capacidade de autotranscendencia do existir humano como fato ontolgico do ser social. A capacidade de autotranscenden-cia humana decorre da prpria ontologia materialista do trabalho, que est na base do devir humano dos homens. A idia de prxis humana tem como mode-lo ontolgico, o trabalho. O ser genrico do homem significa a capacidade deautotranscendencia ou transcendencia de si mesmo. Por exemplo, os animais esto imersos em si, prisioneiros da biologia, mas o homem tem a capacidade de autotranscender-se, indo alm de si e do seu destino biolgico. Viktor Frank prossegue dizendo:
A capacidade que o olho tem de perceber o mundo que o cerca depende dire-tamente da sua incapacidade de perceber-se a si mesmo.[...] Sempre que puder olha para si mesmo, ser porque est com a capacidade visual prejudicada. O mesmo se pode dizer do ser humano como um todo: a existncia humana se distorce na mesma medida em que gira em torno de si prprio, em torno de alguma coisa que esteja dentro dela ou a ela ligada. (p. 20-21).
-
31
E conclui: Fica claro que a auto-realizao essencialmente um efeito colate-ral da plenitude de sentido, da transcendncia de si mesmo. Portanto, a transcen-dncia de si mesmo significa ir alm do eu ou das deformaes narcsicas que caracterizam a personalidade estranhada.
O ensimesmamento como trao da pessoa humana estranhada, a incapaci-dade de transcender a si mesmo. O carecimento radical de auto-transcender-se, obstaculizado pelas condies histricas de alienao, provocando, em si e para si, o fenmeno do ensimesmamento. Por isso, a proliferao de filosofias do eu ou formas de narcisismos que expem dimenses do ensimesmamento.
O mundo do capital o mundo do ensimesmamento, mundo da solido pro-funda do ser, mundo dos indivduos fechados em sua auto-suficincia, aceitando a imediaticidade de sua condio de proletariedade, imposta pelo status quo, sem veleidade de transcendncia, e sem verdadeira aspirao de autodeterminao. O conceito de ensimesmamento que apresentamos aqui, expressa a percepo de Lukcs do fenmeno do particularismo que caracteriza as individualidades pessoais alienadas. O individuo no estado de particularidade para Lukcs, oagente por excelncia do gnero humano em-si. Nesse caso, Georg Lukcs se vale de uma rplica ao rei dos Trolls (na pea Peer Gynt, de Ibsen), para definir a particularidade como o confinamento na autosuficincia e na refutao do Sol-len (transcendncia do dado): Troll, basta-ti a ti mesmo. Decisiva para os Trolls, a frmula marca a diferena em relao aos homens, que tm por divisa: Ho-mens, seja tu mesmo. Lukcs contrasta a particularidade dos sujeitos alienados com a nicht mehr partikulere Persolichkeit, que encarna a aspirao pelo autntico gnero humano. A passagem da existncia de Troll verdadeira existncia huma-na implica na assuno da transcendncia (Sollen); na vontade de reencontrar uma fora ativa na intimidade da conscincia humana contra os imperativos deuma existncia social heternoma; na fora de tornar-se uma personalidade aut-noma. Diz Nicola Tertuliam:
A tenso entre autenticidade e inautenticidade observada no interior da luta do sujeito para ultrapassar sua pura particularidade e alcanar sem excluir o definhamento trgico do sujeito ao longo do combate o verdadeiro nvel de humanidade. A autodeterminao da personalidade, que rompe os sedimentos da reificao e da alienao, sinnimo de emancipao do gnero humano. (Tertulian, 1995).
Na verdade, numa perspectiva ontolgica, o sentido pleno da vida tem que ser encontrado pela prpria pessoa, no dentro dela, mas na prpria realidade efeti-
-
32
vamente objetiva, isto , na efetivao da prxis histrico prtico-sensvel (o que contraria o discurso da ideologia do particularismo que domina nas filosofias de auto-ajuda e espiritualidades esprias). Entretanto, para que as individualidades pessoais de classe possam encontrar o sentido da vida, preciso que ele o sentido seja, pelo menos, percebido. Deste modo, trata-se, num primeiro momento, da questo de percepo e entendimento. Entretanto, o fenmeno do estranhamento,que aparece como ensimesmamento, produz a corroso da percepo e entendi-mento da realidade efetiva, impedindo as pessoas de encontrarem o sentido. A perda do sentido expressa a situao trgico-grotesca da civilizao do capital. o que observa Viktor Frankl:
O sentido de uma pessoa, coisa ou situao, no pode ser dado. Tem que ser encontrado pela prpria pessoa mas no dentro dela, porque isto iria contra a lei da autotranscendencia do existir humano. Esse encontrar o sentido est em estreita relao com a percepo da realidade Gestaltwahrnehmung no sentido meramente psicolgico. O seu sentido objetivo. por isso que s se pode encon-trar o sentido: porque ele objetivo; no podemos atribu-lo ao nosso bel-prazer.No se trata de injetar sentido nas coisas, mas sim de extrair o sentido delas, de captar o sentido de cada uma das situaes com que nos defrontamos. A vida as-semelha-se antes a um quebra-cabeas, em que preciso achar a figura do ciclista; temos que virar o desenho de um lado para o outro, at acharmos a sua silhueta, escondida de cabea para baixo entre as rvores atrs da capela. Ele est l: uma realidade objetiva. (Frankl, 2008)
Ele tambm observa que: O sentido , pois, uma silhueta que se recorta con-tra o fundo da realidade. uma possibilidade que se destaca luminosamente, e tambm uma necessidade. aquilo que preciso fazer em cada situao concreta; e esta possibilidade de sentido sempre, como a prpria situao, nica e irrepe-tvel. (Frankl, 2008)
Entretanto, Viktor Frankl no consegue ir alm da concepo psicolgica do sentido. Diz ele: O sentido tem que ser encontrado pela prpria pessoa. claro que a captao do sentido a capacidade da pessoa humana discernir a silhueta que se recorta contra o fundo da realidade, possui um carter pessoal. Entretanto, nesse caso, trata-se da pessoa humana como individualidade pessoal de classe, singularidade humana que, na medida em que se apropria das objetivaes civi-lizatrias e da cultura capaz de lhe dar uma percepo e entendimento critico da realidade social efetivamente objetiva, torna-se capaz de apreender (ou captar) o sentido das situaes com as quais se defronta na sociedade de classe.
-
33
A apropriao do sentido, como qualquer processo de apropriao social e isso Frankl no salienta possui um carter histrico-social, sendo condicionado pela socializao em processo. Por isso, o processo de dessubjetivao de classe, processo histrico-social e ideolgico de fragmentao dos laos sociais de clas-se, que ocorreu na dcada de 1990 por conta da ofensiva neoliberal na poltica, sindicalismo e cultura no Brasil, desmontando possibilidades de ao coletiva emovimento sociais imbudos da conscincia de classe, contribuiu efetivamente para a corroso das condies de socializao, capazes de permitir uma apropria-o do sentido na perspectiva da critica do capital. Pelo contrrio, a socializao neoliberal, baseada nos valores do individualismo e competitividade, e nas novas condies sociais objetivas de produo da vida social no capitalismo global (so-ciometabolismo da barbrie e vida reduzida), contriburam efetivamente para a vigncia do ensimesmamento (a crise do sentido humano).
Deste modo, a percepo da realidade efetivamente objetiva, elemento pres-suposto para a apropriao do sentido, um atributo da pessoa humana-que--trabalha, personalidade nica que o movimento do capital, como movimento dedegradao da pessoa humana, avilta, deforma e oblitera nas condies histricas da barbrie social. O conceito de pessoa humana no se restringe dimenso da subjetividade (sujeito humano com corpo e mente; ou ainda, sujeito psquico); mas implica tambm o elemento de alteridade (o Outro-como-prximo e a dimenso da sociabilidade); e o elemento da individualidade, onde temos o individuo so-cial (de classe)/singularidadae humana, constituindo sua personalidade nica por meio de processos de socializao/individuao. Na era do capitalismo global, o movimento do capital degrada a pessoa humana-de-classe (a dimenso pessoal da individualidade de classe) (Alves, 2013).
Quadro 6 Dimenses da Pessoa humana de classe
Pessoa humana
subjetividade (sujeito humano) corpo e mentealteridade (o Outro-como-prximo) socialidadeindividualidade (individuo social) processo de individuao/socializao
-
34
9. Carecimentos radicais, ensimesmamento e estranhamento4
Com o novo sociometabolismo do trabalho (modo de vida just-in-time, vida reduzida) e a agudizao do fetichismo da mercadoria nas condies de crise estrutural do capital, exacerbam-se os carecimentos radicais como carecimento de sentido, que produzem, por conseguinte, o fenmeno do ensimesmamento. Deste modo, carncia de sentido produz ensimesmamento ou personalidades ensimesmadas vulnerveis manipulao espiritual com seus valores-fetiche, sonhos e expectativas de mercado. Por exemplo, o fenmeno da captura da subjetividade do trabalho pelo capital, nexo essencial do toyotismo sistmico; o processo de dessubjetivao de classe que caracteriza a ofensiva neoliberal; e as vias grotescas de escape (filosofias de auto-ajuda e Nova Era, teologias da prosperidade, culto do consumo de marca, etc), possuem, como pressuposto material, a produo social de personalidades ensimesmadas ou personalidades estranhadas. O ensimesmamento instala-se no espao interior do individuo, isto , na dimenso moral da pessoa humana onde se operam as escolhas pes-soais (valores). Nas condies histricas do capitalismo manipulatrio, o ensi-mesmamento produzido pela carncia de sentido, que propicia, em si e para si, o poder da ideologia do capital, que se impem predominantemente, na interio-ridade das individualidades pessoais de classe. O ensimesmamento como pro-duto da carncia de sentido, o modo do estranhamento social nas condies histricas do capitalismo global.
4 Reelaboramos a discusso feita no captulo 4 do meu livro Dimenses da preca-rizao do trabalho (Ed. Praxis, 2013) intitulada O novo metabolismo social do trabalho e a precarizao do homem-que-trabalha.
-
35
Quadro 7 O problema do estranhamento
carecimentos radicais (carncia de sentido)
ensimesmamento
produo de personali-dades ensimesmadas
(fenmeno do estranhamento)
agudizao do fetichismo da mercadoria(crise estrutural do capital)
novo sociometabolismo do trabalho (modo de vida just-in-time/
vida reduzida)
nova precariedade salarial(gesto toyotista acoplada s no-vas tecnologias informacionais)
misrias do capitalis-mo manipulatrio
Gesto: captura da subje-tividade do trabalho
Poltica: processo de dessubjeti-vao de classe Espiritualiodade: auto-ajuda e neopentecostalismo
Utilizamos a categoria de estranhamento na perspectiva do ltimo Lukcs (Lukcs, 2013; Alves, 2010). Para esclarecer o significado do fenmeno do estra-nhamento na perspectiva lukcsiana, importante observar que, na Ontologia do ser social, Lukcs decompe o trabalho ou o pr teleolgico, definido como fen-meno originrio e o principium movens da vida social, em dois movimentos distin-tos. Primeiro, a objetivao (die Vergenstandlichung), que o processo de produo do objeto [o] pelo sujeito [s]; e o segundo, a exteriorizao (die Entausserung), que o processo de retorno do objeto [o] sobre o sujeito [s] que o criou. Este retorno a base do processo civilizatrio. O que significa que o devir humano dos homens funo ontolgica no apenas do processo de produo de objetos, mas sim do processo de retorno do objeto sobre o sujeito que o criou. (vide Quadro 1).
Enquanto processo de produo do objeto, o homem um animal que se fez homem por meio do trabalho, principalmente como exteriorizao, no sentido da resposta s novas condies scio-ontolgicas criadas pelo novo que o objeto criado (o ser social se distingue do ser orgnico e do ser inorgnico por ser, ele
-
36
prprio, a reiterao do novo). Entretanto, enquanto processo de retorno do objeto sobre o sujeito que o criou, o objeto criado sempre desafia o homem como sujeito. Como observou Lukcs, o homem um ser que d resposta. O que significa que a exteriorizao (die Entausserung) - o processo de retorno do objeto [o] sobre o sujeito [s] que o criou - , de certo modo, exteriorizao da interioridade ou expli-citao da personalidade do ser genrico do homem, que pode ser exteriorizaoda personalidade humano-genrica (o que vai depender das condies de sociali-zao, isto , das relaes sociais de produo da vida).
No modo de produo do capital, a exteriorizao da interioridade, que ca-racteriza efetivamente o processo civilizatrio do homem, tende a inverter-se em subsuno do homem ou do sujeito [s] ao objeto [o], que aparece, nesse caso, como coisa. A interverso do objeto [o] em coisa [c] produto histrico de um deter-minado modo de controle do metabolismo social, com suas instituies e valores sociais fetichizados. Enquanto modo de controle estranhado predominantemente fetichizado, baseado na propriedade privada dos meios de produo da vida e na diviso hierrquica do trabalho, o capital aparece como a coisa ou objetos/obje-tivaes, isto , instituies sociais estranhadas ou valores-fetiches, que tendem a reduzir, por exemplo, o homem-que-trabalha (ou o trabalho vivo) mera fora de trabalho para a reiterao do sistema.
Quadro 8
[s] [o]
[objetivao][s] [o]
[exteriorizao][s] X
[exteriorizao da interioridade]
espao interior do individuo
(escolha pessoal)
-
37
Nas condies do capitalismo global, o capitalismo histrico da era da crise es-trutural do capital, o fenmeno do estranhamento torna-se resultado de um modo de controle estranhado predominantemente fetichizado que provoca carecimentos radicais e produz personalidades ensimesmadas. O novo metabolismo social do ca-pital baseia-se, no apenas na precarizao existencial (modo de vida just-in-time e vida reduzida), mas na nova precariedade salarial (gesto toyotista acoplada s novas tecnologias informacionais), provocando carecimentos radicais como carn-cia de sentido. Constitui-se, deste modo, um sistema social que no contribui para a explicitao (ou formao) de uma interioridade humana, no sentido de um ser genrico capaz de ir alm do objeto dado, capaz de transcender as condies de-gradantes da sua hominidade humana. Pelo contrrio, produz-se o fenmeno do ensimesmamento, modo de estranhamento na era da crise estrutural do capital, que corri a capacidade humana de auto-transcendncia das condies histricas degradantes da vida social (o fenmeno do sociometabolismo da barbrie). Na so-ciedade burguesa busca-se suprimir o sujeito humano no sentido de ser genrico, racional e consciente, capaz da negao da negao. No interessa formar homens com capacidade crtica, mas apenas fora de trabalho ou indivduos reduzidos a sua mera particularidade, incapazes de escolhas radicais. Enfim, eis a natureza do estranhamento social que se manifesta nas personalidades ensimesmadas, imersas na carncia de sentido (a forma predominante de carecimento radical).
Portanto, o que possibilita o fenmeno do estranhamento social no plano scio-ontolgico - a possvel divergncia entre os dois momentos no interior do mesmo ato (o momento da objetivao/exteriorizao e o momento da exterio-rizao da interioridade ou o momento da escolha pessoal), que, nas condies scio-histricas do mundo do capital, tende a negar o homem; isto , o espao de autonomia da subjetividade e, por conseguinte, a realizao do ser genrico dohomem, tendencialmente suprimido pelas exigncias da produo e reproduo social. Um detalhe: o fato da exteriorizao da interioridade ocorrer em situ-aes idnticas (o mundo do capital e as exigncias estranhadas da produo e reproduo social), no significa que as reaes subjetivas (ou escolhas pessoais) sejam as mesmas. Enfim, se o homem, segundo Lukcs, um ser que d respostas, a resposta mediada, em si, pela dialtica entre particularidade social e singula-ridade pessoal de classe. Por isso, por exemplo, nas situaes idnticas de explo-rao no local de trabalho, alguns adoecem e outros no; ou ainda, uns escolhem revoltar-se; e outros, no (o que vai depender da dialtica entre particularidade social e singularidade pessoal de classe).
-
38
Nicolas Tertulian observou: O campo da alienao/estranhamento se situa no espao interior do individuo como uma contradio vivida entre (1) a aspi-rao por uma autodeterminao da personalidade e a multiplicidade das suas qualidades e (2) as suas atividades que visam reproduo de um todo estranho (Tertulian, 1995). Entretanto, esta contradio vivida no espao interior dos in-divduos entre a auto-expresso de sua personalidade e o comportamento do in-dividuo como agente da reproduo social, , assume particularidades candentes nas condies histricas do capitalismo global: o fenmeno do ensimesmamento provoca a corroso embora no a supresso irremedivel - da aspirao por uma autodeterminao da personalidade humana, reforando, deste modo, o compor-tamento dos indivduos como agentes da reproduo do todo estranhado. Trata-se de uma alterao qualitativamente novo no processo de estranhamento social, que constitui o sociometabolismo da barbrie.
Por um lado, o fenmeno do ensimesmamento corri a capacidade de aspirar por uma autodeterminao da personalidade humana, levando as individualida-des pessoais de classe a escolhas pessoais que se traduzem na aceitao do statuquo social, com bloqueios e rechaamentos da auto-expresso da personalidade. Entretanto, por outro lado, no se suprime a contradio candente prpria do fe-nmeno do estranhamento, isto , a contradio viva entre a auto-expresso de sua personalidade e o comportamento do individuo como agente da reproduo social. Na medida em que possvel a divergncia entre os dois momentos no inte-rior do mesmo ato (o momento da objetivao/exteriorizao e o momento da exte-riorizao da interioridade ou o momento da escolha pessoal), torna-se impossvel a reproduo perene da ordem estranhada do capital, mesmo com a corroso ten-dencial da capacidade de aspirao autodeterminao da personalidade humana. Pelo contrrio, coloca-se cada vez mais, a possibilidade de atos de resistncia e deoposio ativa totalidade estranhada do capital (desde reaes individuais con-tingentes de cariz irracional at reaes coletivas estruturadas).
Nas condies histricas da crise estrutural do capital, o problema do estra-nhamento social torna-se o problema crucial da ordem burguesa, com o capital investindo, cada vez mais, na manipulao do espao interior dos indivduos, visando construir consentimentos esprios. no campo das escolhas pessoais, me-diadas por valores-fetiches e suas imagens de valor, se que opera, por exemplo, a captura da subjetividade do homem-que-trabalha. A manipulao social se d por meio da produo recorrente de indivduos reduzidos mera particularidade,
-
39
isto , personalidades ensimesmadas, capazes de aceitarem os valores-fetiches e reiterando a ordem das coisas.
10. Carecimentos radicais e crise do trabalho vivo
A dinmica histrica posta pelo novo metabolismo social do trabalho, com a nova precariedade salarial e precarizao existencial (modo de vida just-in-time e carecimentos radicais) instauram o que podemos denominar de crise do trabalho vivo. Ela se compe do seguinte complexo de crises que se originam da precari-zao existencial e precarizao do homem-que-trabalha: (1) crise da vida pessoal, (2) crise de sociabilidade e (3) crise de auto-referncia humano-pessoal.
Quadro 9Formas da crise do trabalho vivo
Crise da vida pessoalCrise de sociabilidade
Crise de auto-referncia humano-pessoal
necessrio fazer investigaes capazes de apreender as mltiplas determi-naes concretas da trplice crise do trabalho vivo, que dilacera a subjetividade (e intersubjetividade) das pessoas humanas que trabalham. Elas compem o todo orgnico da deriva civilizacional que caracteriza a desefetivao do ser genrico do homem nas condies histricas da barbrie social.
Crise da vida pessoal
a crise do homem com seu espao de vida, isto , o tempo de vida como tempo disponvel como campo de desenvolvimento humano. Ela decorre do pro-cesso de reduo do trabalho vivo fora de trabalho de trabalho como mercado-ria. A reduo do tempo de vida tempo de trabalho estranhado uma operao cotidiana de despersonalizao do homem ou de perverso/inverso do ncleo humano em ncleo animal. Nos Manuscritos econmico-filosfico (1844),
-
40
Marx observa: ...o homem (o trabalhador) s se sente como [ser] livre e ativo em suas funes animais, comer, beber e procriar; quando muito ainda, habitao, adornos, etc., e em suas funes humanas s [se sente] como animal. O animal se torna humano, e o humano animal. Eis o significado essencial do que podemos denominar de barbrie social.
Crise de sociabilidade
a crise do homem com outros homens e o dilaceramento dos laos sociais que constituem a sociabilidade humano-genrica. a crise da alteridade, dimenso ina-lienvel da pessoa humana. Na medida em que esvaziam-se os espaos de reconhe-cimento do outro enquanto eu alheio nas relaes sociais (espao de sociao); e dissolvem-se os espaos de reconhecimento do outro enquanto eu prprio (espaos do self), corri-se o espaos de vida humano-genrica. A fragmentao dos coleti-vos de trabalho (e de vida) por conta da modernidade lquida (Bauman, 2000), deterioram os laos sociais que tecem os espaos de sociao e os espaos do self. O novo metabolismo social do trabalho sob o capitalismo flexvel, ao disseminar a in-segurana (e incerteza) de contratos de trabalho flexveis, obstaculiza, por exemplo, a tessitura de espaos de sociao como lugares de partilha de experincias coletivas. Na verdade, o mundo do capitalismo global se tornou mais dinmico e as mudanas de emprego, ou mesmo de carreira durante a vida se tornam cada vez mais comuns. O mercado se torna mutvel como antes nunca visto, impregnando-se com a lgica do espao-tempo do capital financeiro, passando cada vez mais a se pensar no curto e curtssimo prazo. Este novo metabolismo social da ordem burguesa se reflete na carreira e no emprego do trabalho assalariado. Como observou Richard Sennett, na medida em que os empreendimentos capitalistas se caracterizam pela fora dos laos fracos e o emprego passa a ser de curto prazo, h uma falta de perspectiva de compromisso duradouro com a empresa, gerando assim a falta de lealdade institu-cional. Na verdade, o fenmeno da corroso do carter, salientada por Sennett produto da crise de sociabilidade como reduo dos espaos de sociao e espaos do self, eixos orgnicos da formao da personalidade humana (Sennett, 1998).
Crise de auto-referncia pessoal
A crise de auto-referncia pessoal a crise do homem consigo mesmo, na me-dida em que ocorre a corroso da sua auto-estima pessoal. Sob a nova ordem sa-
-
41
larial, deve-se quebrar a auto-estima do trabalho vivo como pessoa humana, reduzindo-o a mera fora de trabalho comprometida com os ideais do capital. o que podemos denominar despersonalizao do homem que trabalha. a re-duo da pessoa quilo que o filsofo Martin Heidegger (em Ser e Tempo) de-nomina de das Man (segundo Heidegger, das Man esquece-se de sua liberdade de escolha no mundo das possibilidades e passa a viver no , as propriedades queo mundo lhe atribui. , no conformismo da massa, mais uma ovelha no reba-nho). Deste modo, a corroso da auto-estima a reduo do ncleo humano--genrico s disposies valorativas do capital. uma forma de estranhamento que dilacera (ou desefetiva) o ser genrico do homem. o sentido do estranha-mento como alienao da vida do gnero como vida da individualidade pessoal intervertida em individualidade de classe. A crise de auto-referncia pessoal de-corre da intensificao (e extensificao) da manipulao social, principalmente da captura da subjetividade do trabalho vivo pelos parmetros de produo do capital. Primeiro, reduz-se o homem como ser genrico fora de trabalho como mercadoria. Segundo, ameaa-se, no plano imaginrio, simblico e real, asindividualidades de classe com a demisso de sua fora de fora de trabalho. Este um mote ideolgico para constranger a auto-estima e abrir no espao interior da subjetividade humana, brechas para a emulao paradoxal de operrios e empregados implicados no trabalho estranhado.
11. Dimenses da Precarizao e Questo Social no Sculo XXI
A Questo Social, que surgiu na Europa Ocidental do sculo XIX, designando o fenmeno de pobreza material crescente entre os membros da classe operria, se manifesta historicamente, num primeiro momento, como problema da explorao e desigualdade social originaria de amplos contigentes da classe operaria industrial, excluda da participao no usufruto da riqueza social. A Questo Social surgiu nos primrdios do capitalismo industrial no sculo XIX com a classe trabalhadora sen-do alienada dos produtos de consumo da civilizao capitalista emergente. Naquela poca histrica, os trabalhadores assalariados no eram sujeitos de direitos. A pre-cariedade salarial originaria assumiu, deste modo, formas extremas de explorao, desreguladas e articuladas no ncleo mais dinmico da acumulao de valor, com modos de espoliao de homens, mulheres e crianas. A indstria era o polo da bru-
-
42
talidade salarial, onde vigorava o trabalho degradante, trabalho infantil por extensas jornadas de trabalho com remunerao abaixo da linha de subsistncia. Naquelas condies histricas do capitalismo industrial em ascenso, o fenmeno da pobreza expressava o modo de explorao intensiva (e extensiva) da fora de trabalho, consti-tuindo aquilo que denominamos primeira gerao da precarizacao do trabalho.
Deste modo, o capitalismo industrial nascente, trouxe em seu seio, de formaexplicita, a degradao da pessoa humana, tendo em vista que segregou massas proletrias vindas do campo, em bairros operrios onde se vivia em condies humanamente indignas. O capitalismo industrial originrio criou a pobreza so-cial. Os trabalhadores industriais proletarizados e empobrecidos pela concorrn-cia entre eles, eram reconhecidos como sendo o proletariado. No havia naquela poca histrica, legislao trabalhista e a organizao sindical capaz de negociar melhores salrios e condies de trabalho. Enfim, a Questo Social como expres-so da contradio radical entre capital e trabalho, confundia-se com o proble-ma da Revoluo Social, espectro que rondava a ordem burguesa no sculo XIX. Entretanto, o carter da Questo Social alterou-se historicamente, ou pelo menosadquiriu contedo mais complexo, com o desenvolvimento do capitalismo mono-polista e a vigncia da mais-valia relativa, que permitiram ao Estado capitalista e s classes proprietrias dos pases capitalistas imperialistas, sob presso poltica e social, redistribuir riqueza e garantir, para o proletariado organizado com poder de barganha, a melhoria das condies de trabalho e padro de vida social. No decorrer do sculo XX, politicas sociais e modos de regulao social do emprego assalariado por meio da legislao trabalhista e a instituio da negociao cole-tiva, contriburam efetivamente para a reduo da pobreza nos pases capitalistas mais desenvolvidos, alterando, deste modo, o prprio sentido da precarizaao do trabalho. O trabalho precrio tornou-se trabalho informal, sem direitos, trabalhoconsiderado atpico e degradante. O conceito de trabalho decente da OIT (Or-ganizao Internacional do Trabalho), expressou a mudana de sentido da pre-cariedade salarial, ao considerar, por exemplo, o trabalho decente como sendo o trabalho regulado, isto , trabalho com direitos sociais.
Ao alterar-se o significado de trabalho precrio, que tornou-se trabalho atpico, trabalho sem direitos,, instaurou-se o que denominamos segunda gerao da precari-zao do trabalho onde precarizao do trabalho significa corroso do estatuto salarial regulado. Assim, precarizao do trabalho passou a significar o retorno condio originaria da explorao capitalista como precariedade salarial extrema. Entretanto, a rigor, no ocorreu um retorno: a precariedade salarial extrema nas condies do
-
43
capitalismo desenvolvido uma condio mais degradante do que as primeiras mo-dalidades histricas de explorao do trabalho, tendo em vista o patamar de desen-volvimento civilizatrio e o alto grau de desenvolvimento da fora produtiva social do trabalho. O estranhamento social tornou-se mais agudo e profundo no sculo XXI, na medida em que a precarizacao salarial nas condies do capitalismo mais desenvolvi-do, ocorreu numa etapa histrica de altissima produtividade do trabalho.
Na era de ascenso histrica do capital, a adoo da legislao trabalhista e do Direito do Trabalho com a capacidade fiscalizadora do Estado e polticas sociais, reduziu ou marginalizou, no mbito da explorao e acumulao de capital, as formas primitivas ou espoliativas de precarizao do trabalho. Algumas indstrias ou cadeias produtivas localizadas no ncleo orgnico do capitalismo mundial, que utilizavam formas degradadas de trabalho, muitas delas na agricultura ou regies mais atrasadas, se deslocaram, principalmente aps a Segunda Guerra Mundial, para regies perifricas do mercado mundial, onde tal pratica desumana era per-mitida ou invisvel. Na verdade, as relaes imperialistas no sistema-mundo do capital permitiram a exportao de formas primitivas de explorao do trabalhopara bordas perifricas do mercado mundial. O capitalismo histrico sempre se desenvolveu, pondo e repondo modos histricos de precarizao do trabalho, e formas de precariedade salarial, que articulavam em si, o arcaico e o moderno, precariedade salarial extrema e precariedade salarial regulada.
Quadro 10 Geraes da Precarizao do Trabalho no Capitalismo histrico
Primeira GeraoPrecariedade salarial extrema
Segunda GeraoPrecariedade salarial flexvel
(nova precariedade salarial)
Terceira GeraoPrecarizao do homem-que-trabalha
Precarizao existencial
-
44
No decorrer do sculo XX, os modos de precariedade salarial tornaram-se mais complexos na mesma medida em que se alterou a capacidade da luta de clas-ses em colocar obstculos sanha de explorao do capital. A partir da grande crise capitalista de meados da dcada de 1970, com a ofensiva neoliberal e a rees-truturao produtiva do capital, presenciamos o surgimento, inclusive nos pases capitalistas mais desenvolvidos, da diversidade de situaes de precariedade sala-rial no mundo do trabalho, diversidade que articula formas arcaicas (postas como atpicas) e formas modernas de explorao da forca de trabalho. Deste modo, a precarizacao do trabalho se manifesta como um processo de tipificaro do atpico nas condies salariais de explorao do trabalho.
12. Nova precariedade salarial e terceira gerao da preca-rizao do trabalho
O mundo social do trabalho nas condies do capitalismo histrico, cons-tituiu-se como um complexo heteroclito de situaes de explorao do trabalho humano, cujo trao originrio era a insegurana e contingncia, caractersticas marcantes da condio existencial originria de proletariedade. Deste modo, a po-breza social um trao ontogentico da civilizao do capital. Mas, como salien-tamos, a vigncia da mais-valia relativa alterou profundamente a forma de ser da explorao (Nicolaus, 2006). No decorrer do sculo XX, com a luta social e poltica da classe trabalhadora, ampliaram-se para o mundo do trabalho organizado, os direitos econmicos e direitos sociais do trabalho, cuja efetividade nas condies da poca de ascenso histrica do capital, no comprometia a acumulao de ri-queza capitalista. Aps a Segunda Guerra Mundial, nas condies da geopoltica da Guerra Fria, constituiu-se um Estado de bem-estar social ou Estado-Providn-cia - pelo menos nos pases capitalistas centrais (Europa Ocidental, EUA e Japo). A pobreza social reduziu-se nos paises imperialistas. O aumento da produtividade do trabalho e a luta organizada dos trabalhadores e a ao poltica do Estado sob o keynesianismo-fordismo, permitiram, por exemplo, a conquista da reduo da jornada de trabalho, melhores salrios e condies de trabalho nos pases capita-listas mais desenvolvidos.
Nos pases capitalistas centrais, a posio imperialista no seio do mercado mundial, permitiu o surgimento da aristocracia operria, frao da classe traba-
-
45
lhadora organizada que usufruiu das benesses da expanso capitalista. A indexa-o dos salrios aos ganhos de produtividade permitiu o acesso da classe trabalha-dora organizada sociedade do consumo. Por outro lado, havia um contingente da classe trabalhadora no-organizada, constituda por imigrantes ou negros (no caso dos EUA), que ficaram margem do Welfare State, numa situao de pobreza e precariedade salarial extrema. Mesmo na poca de ouro do capitalismo fordista--keynesiano, o mundo do trabalho nos pases capitalistas centrais, possua um contingente minoritrio, mas no-desprezvel, de trabalhadores assalariados em situao de precariedade salarial extrema, imersos na pobreza social e alienados das benesses da Golden age.
Entretanto, nas ltimas dcadas do sculo XX, a partir da crise estrutural do capital em meados da dcada de 1970, e com a derrocada do modo de desenvolvi-mento fordista-keynesiano, que permitia vincular expanso capitalista e bem-estar social, ampliou-se nos pases capitalistas centrais, a segunda gerao da precariza-cao do trabalho, ou precarizao salarial propriamente dita, que se distingue, por exemplo, da precarizacao originaria do trabalho vinculada considerada a formade precariedade salarial extrema. Enfim, precarizou-se (ou flexibilizou-se) o esta-tuto salarial-padro instaurado na poca histrica do modo de desenvolvimento fordista-keynesiano. Deste modo, nos ltimos trinta anos de capitalismo global, a precariedade salarial regulada conviveu com formas atpicas de salariato, que se impuseram por conta do novo regime de acumulao flexvel. Surgiu uma nova pobreza social. O que era padro tpico de explorao da fora de trabalho, tendo em vista as circunstancias da concorrncia mundial, converteu-se numa atipicida-de inadequada nova condio de crise de valorizao do capital.
Ao mesmo tempo, por conta da nova forma de produo de capital (a ma-quinofatura), instaurou-se uma nova dimenso da precarizacao do trabalho comoprecarizacao existencial, na medida em que, na sociedade em rede, cada vez mais, o trabalho estranhado como trabalho abstrato, invade a vida social, impregnando a totalidade social de formas derivadas de valor, promovendo assim, a reduo do tempo de vida a tempo de trabalho.5 Pode-se dizer que, deste modo, emergiu uma
5 Com a disseminao intensa e ampliada de formas derivadas de valor