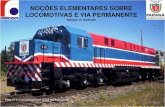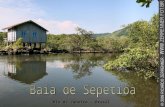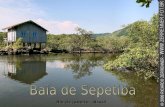AN LISE DA CAPACIDADE DE DESCARGA DE VAG ES DE … · 2018-03-14 · FIG. 1.3.2 (e) Porto de...
Transcript of AN LISE DA CAPACIDADE DE DESCARGA DE VAG ES DE … · 2018-03-14 · FIG. 1.3.2 (e) Porto de...
-
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
CURSO DE ESPECIALIZAO EM TRANSPORTE
FERROVIRIO DE CARGA
ACADEMIA MRS LOGSTICA S/A
GUILHERME CHIAINI VILLAR PASCHOALINO COSTA
ANLISE DA CAPACIDADE DE DESCARGA
DE VAGES DE PRODUTOS SIDERRGICOS
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
2008
-
2
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
CURSO DE ESPECIALIZAO EM TRANSPORTE
FERROVIRIO DE CARGA
GUILHERME CHIAINI VILLAR PASCHOALINO COSTA
ANLISE DA CAPACIDADE DE DESCARGA
DE VAGES DE PRODUTOS SIDERRGICOS
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
Monografia apresentada ao curso de Especializao em Transporte Ferrovirio de Carga do Instituto Militar de Engenharia, como requisito para obteno do certificado de concluso de curso.
Orientador: Prof. Altair Ferreira Filho D.S.c.
Tutor: Prof. Jos Geraldo Ferreira M.Sc.
Rio de Janeiro
2008
-
3
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
GUILHERME CHIAINI VILLAR PASCHOALINO COSTA
ANLISE DA CAPACIDADE DE DESCARGA DE VAGES DE
PRODUTOS SIDERRGICOS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
Monografia apresentada ao curso de Especializao em Transporte
Ferrovirio de Carga do Instituto Militar de Engenharia, como requisito para
obteno do certificado de concluso de curso.
Orientador: Prof. Altair Ferreira Filho D.S.c.
Tutor: Prof. Jos Geraldo Ferreira M.Sc.
Aprovada em 02 de setembro de 2008 pela seguinte Banca Examinadora:
Prof. Altair Ferreira Filho
Prof. Jos Geraldo Ferreira
Prof. Luiz Antnio Silveira Lopes
Prof. Manoel Ferreira Mendes
Rio de Janeiro
2008
-
4
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Militar de Engenharia e empresa de transporte ferrovirio de carga MRS
Logstica S/A., agradeo a realizao do curso e a oportunidade de participar do mesmo.
Ao Professor Orientador Dr. Altair Ferreira Filho, pela colaborao e conhecimentos
compartilhados.
Ao tutor deste trabalho, Professor Dr. Jos Geraldo Ferreira, pela ateno e apoio
dispensados a mim.
Aos meus pais e irmo, pelo incentivo e carinho incondicionais.
minha esposa, em especial, pela dedicao, compreenso e amor.
-
5
SUMRIO
LISTA DE ILUSTRAES..................................................................................................07
LISTA DE TABELAS...........................................................................................................09
1 INTRODUO .............................................................................................. ........12
1.1 Objetivo .................................................................................................................... 13
1.2 Justificativa ............................................................................................................... 14
1.3 Consideraes Iniciais Sobre a Ferrovia .................................................................. 14
1.3.1 A Malha Ferroviria Brasileira ................................................................................. 14
1.3.2 A Malha Ferroviria gerenciada pela MRS .............................................................. 19
2 O PLANEJAMENTO DA PRODUO .............................................................. 27
2.1 Planejamento e Controle da Operao da MRS (PCO) ............................................ 29
2.1.1 Atribuies do Planejamento e Controle da Operao ............................................. 29
2.1.1.1 Plano Anual de Demanda ......................................................................................... 29
2.1.1.2 Plano Semestral ou POVE ........................................................................................ 30
2.1.1.3 Plano Mensal de Demanda ....................................................................................... 31
2.1.1.4 Programao Semanal .............................................................................................. 32
2.2 Clculo de Ativos ..................................................................................................... 34
2.2.1 Dimensionamento de Vages ................................................................................... 34
2.2.2 Dimensionamento de Locomotivas .......................................................................... 34
3 ESTUDO DE CASO ............................................................................................... 36
3.1 Triunfo, A Operadora Porturia................................................................................ 37
3.2 O Porto do Rio de Janeiro DOCAS ....................................................................... 38
3.3 Localizao do Porto e seus Acessos ....................................................................... 39
3.4 Instalaes do Porto .................................................................................................. 39
3.5 Principais Cargas Movimentadas no Porto ............................................................... 40
4 SIMULAO ......................................................................................................... 41
4.1 Simuladores Estocsticos X Simuladores Determinsticos ...................................... 43
-
6
5 CONSTRUO DO MODELO ........................................................................... 46
5.1 Mercadorias Transportadas e sua Origem ................................................................ 46
5.2 Demanda das Mercadorias........................................................................................ 50
5.3 A Operao Ferroviria ............................................................................................ 52
5.4 Modelagem ............................................................................................................... 56
5.5 Resultados Obtidos na Simulao ............................................................................ 58
6 CONCLUSO ......................................................................................................... 62
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS...................................................................64
-
7
LISTA DE ILUSTRAES
FIG. 1.3.1 (a) A Malha Ferroviria brasileira ..................................................................... 16
FIG. 1.3.1 (b) A Malha Ferroviria Nordeste e Sudeste ..................................................... 17
FIG. 1.3.1 (c) Grfico de Investimento Anual em Ferrovias .............................................. 18
FIG. 1.3.1 (d) Produo Anual da MRS (em toneladas) ..................................................... 19
FIG. 1.3.2 (a) Mapa Esquemtico da Malha Ferroviria gerenciada pela MRS ................. 21
FIG. 1.3.2 (b) Principais Portos da Malha Sudeste ............................................................ 23
FIG. 1.3.2 (c) Porto de Santos ............................................................................................ 24
FIG. 1.3.2 (d) Porto do Rio de Janeiro ................................................................................ 25
FIG. 1.3.2 (e) Porto de Sepetiba .......................................................................................... 25
FIG. 1.3.2 (f) Porto de Guaba ............................................................................................ 26
FIG. 2 (a) Pirmide de Planejamento de uma Companhia ................................................. 27
FIG. 2 (b) Processo de Planejamento da Produo ............................................................ 28
FIG. 2.1.1.1 Fluxograma do Plano Anual ........................................................................... 30
FIG. 2.1.1.2 Fluxograma do Plano Semestral ..................................................................... 31
FIG. 2.1.1.3 Fluxograma do Plano Mensal ......................................................................... 32
FIG. 2.1.1.4 Fluxograma da Programao Semanal ........................................................... 33
-
8
FIG. 4.1 Lay Out do Arena ................................................................................................. 45
FIG. 5.1 Linha de Produo dos Materiais Siderrgicos .................................................... 50
FIG. 5.2 Quantidade de Vages de Siderrgico e Ferro Gusa que chegaram ao Arar
em 2008 ................................ ............................................................................................... 52
FIG. 5.3 (a) Diagrama do Ciclo dos Produtos Siderrgicos ................................................ 55
FIG. 5.3 (b) Diagrama do Ciclo do Ferro Gusa ................................................................... 56
FIG. 5.4 Diagrama das Atividades Ferrovirias .................................................................. 57
FIG. 5.5 (a) Grfico do Perodo de Tempo na fila X Quantidade de Vages na fila .......... 58
FIG. 5.5 (b) Previso do Momento de sada dos Vages da fila ......................................... 59
FIG. 5.5 (c) Nvel de Servio .............................................................................................. 61
-
9
LISTA DE TABELAS
TAB. 1.3.1 (a) Relao das Concessionrias e seus respectivos dados .............................. 15
TAB. 1.3.1 (b) Tabela Comparativa dos Modais utilizados no Brasil e nos EUA ............. 19
TAB. 5.2 Dados Estatsticos referentes quantidade de Vages de Produtos Siderrgicos
que chegaram ao Porto em 2008 .......................................................................................... 51
TAB. 5.3 Estatstica do Nmero de Vages de Produtos Siderrgicos transportados em cada
Trem .................. .................................................................................................................. 53
TAB. 5.5 Memria de Clculo ............................................................................................ 60
-
10
RESUMO
O transporte ferrovirio no Brasil vem apresentando sintomas que revelam graves
problemas, os quais acabam ensejando na deciso estratgica adotada pelas empresas de optarem pelo transporte rodovirio como principal modal para escoamento de sua produo.
Dentre os problemas atuais que requerem atuao governamental, destacam-se as invases na faixa de domnio, as passagens em nvel em estado crtico, os gargalos logsticos e a necessidade de expanso da malha ferroviria.
neste cenrio que a MRS Logstica, empresa que gerencia a malha ferroviria da regio Sudeste, busca se destacar por realizar transporte de carga eficiente e com baixo custo. Para tanto, precisa solucionar ou, ao menos, minimizar os problemas recorrentes.
A chegada de vages contendo produtos siderrgicos ao porto do Rio de Janeiro pode ser considerada um dos maiores gargalos que a MRS enfrenta no desempenho da operao ferroviria no local, pois esta ocorre de forma aleatria e em quantidade superior capacidade do porto. Tal fato prejudica o planejamento da Estao da MRS, uma vez que gera a formao de filas de vages no ptio do porto, vindo a comprometer a produtividade dos vages ali parados, bem como os indicadores da empresa.
Neste prisma, o presente estudo visa inserir modificaes no processo de planejamento atual da MRS, disponibilizando para a rea de planejamento uma ferramenta de apoio que auxiliar na avaliao da capacidade de descarga no referido porto, qual seja, a simulao da operao ferroviria atravs do aplicativo Arena.
De posse dessa ferramenta, a Unidade de Atendimento do Rio de Janeiro, juntamente com a rea responsvel pelo dimensionamento da capacidade de ptios e terminais, poder mensurar com exatido o nmero mximo de vages contendo produtos siderrgicos que podero ser descarregados diariamente, alm dos 60 vages de ferro gusa que tambm o so, sem que haja formao de filas no ptio do porto do Rio de Janeiro.
As premissas que sero extradas a partir dos resultados da simulao aqui realizada permitiro que as reas envolvidas no processo de planejamento desenvolvam um plano estratgico, ttico e operacional para atender aos clientes no porto do Rio de Janeiro com grande eficincia e qualidade. E, em conseqncia disso, a MRS certamente alcanar significativo ganho de produtividade de seus vages, otimizao do tempo de suas locomotivas e, principalmente, excelncia no nvel de servio prestado.
-
11
ABSTRACT The railroad transport in Brazil comes presenting symptoms that disclose serious
problems, which finishes trying in the strategical decision adopted by the companies to opt to the road transport as main form to drain its production.
Amongst the current problems that require governmental performance, the invasions in the logistic band of domain, tickets in level in a critical state, logistic problems and the necessity of expansion of the railroad mesh are distinguished.
Its in this scene that the MRS Logistic, company who manages the mesh railroad of the Southeastern region, searches if to detach for carrying through transport of efficient load and with low cost. For in such a way, it needs to solve or, at least, to minimize the recurrent problems.
The arrival of wagons contends siderurgical products at the port of Rio de Janeiro can be considered one of the greatest problems that the MRS faces in the performance of the railroad operation in this place, therefore this occurs of random form and in superior amount to the capacity of the port. Such fact harms the planning of the MRS`s Station, a time that generates the formation of lines of wagons in the port, compromising the productivity of the wagons stopped there, as well as the pointers of the company.
In this prism, the present study it aims to insert modifications in the process of current planning of the MRS, offering to the planning area a support tool that will assist in the evaluation of the capacity of discharge in the related port, which is, the simulation of the railroad operation through the applicatory Arena.
Of ownership of this tool, the Unit of Attendance of Rio de Janeiro, together with the responsible area for the sizing of the capacity of terminals, will be able to quantify with exactness the maximum number of wagons contends siderurgical products that could daily be unloaded, beyond the 60 wagons of iron gusa that also they are, without has formation of lines in the port of Rio de Janeiro.
The premises that will be extracted from the results of a carried through simulation however will allow that the involved areas in the planning process develop a strategical, tactical and operational plan to take care of to the customers in the port of Rio de Janeiro with great efficiency and quality. E, in result of this, MRS certainly will reach significant profit of productivity of its wagons, improvement of the time of its locomotives and, mainly, excellency in the level of given service.
-
12
1 INTRODUO.
A logstica pode ser considerada uma das mais antigas e inerentes atividades humanas, na
medida em que sua misso principal disponibilizar bens e servios gerados por uma
sociedade, nos locais, tempo, quantidade e qualidade em que so necessrios aos seus
consumidores.
No obstante ter sido decisiva em vrias operaes militares, a introduo da logstica
como atividade empresarial tem sido gradativa ao longo da histria, evoluindo de uma
simples rea de guarda de materiais para uma rea estratgica no atual cenrio empresarial.
Esta evoluo da logstica enquanto atividade empresarial bastante ntida a partir da
Segunda Grande Guerra, quando se revela como suporte s novas tecnologias produtivas em
empresas industriais. No sistema de produo just-in-time, dos ensinamentos de qualidade
total de Juran (1998), no qual se substitui a antecipao pela reao demanda, torna-se
fundamental o equacionamento logstico dos fluxos de materiais em toda cadeia de
suprimentos. Novos relacionamentos com fornecedores e novas tcnicas operacionais so
introduzidas, tornando-se precursores do que se denomina, atualmente, supply chain
management.
Especificamente no Brasil, o desenvolvimento e a importncia da logstica empresarial
tornaram-se evidentes a partir de 1990, quando a reduo de tarifas de importao em
diversos setores econmicos propiciou maior internacionalizao do pas, alterando
fortemente o panorama empresarial nacional. Com isso, novos padres de competitividade
surgiram gradativamente no mercado brasileiro, de forma equivalente queles observados nos
pases mais desenvolvidos, na busca por melhores prticas internacionais. Nveis de servios
elevados e novas prticas de relacionamento com os diversos elos da cadeia produtiva
tornaram-se objetivos claros nas empresas atuantes no pas, visando perenizar negcios e
clientes.
Atualmente, o Brasil possui alto potencial de crescimento econmico, sobretudo nos
setores relacionados ao comrcio exterior. Entretanto, alguns gargalos impedem o esperado
-
13
avano nessa rea, haja vista que os problemas de infra-estrutura e logstica levam a um
quadro desfavorvel. Segundo revela o Centro de Estudos Logsticos (CEL) (2006), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil gasta hoje 12,8% de seu Produto Interno
Bruto com transporte, armazenagem e estoque de produtos; nos Estados Unidos, por exemplo,
esse percentual bem menor, qual seja, 8,1%.
Ressalta-se, ademais, que os gargalos da infra-estrutura brasileira ainda no revelaram
todo o seu potencial de prejuzo, pois a taxa de crescimento do PIB no Brasil est bem abaixo
da mdia dos pases emergentes.
Nesse contexto, a pesquisa ora desenvolvida tem como cenrio a MRS Logstica S/A,
renomada empresa atuante no setor de transporte ferrovirio, a qual controla, opera e monitora
a malha Sudeste da Rede Ferroviria Nacional, e cujos ndices de produo vm crescendo
vertiginosamente nos ltimos anos.
Lanando mo dos recursos e potenciais de crescimento existentes no mercado, a MRS
almeja transportar volumes bem maiores para o porto do Rio de Janeiro, sem, contudo,
precisar comprar ativos. Entretanto, para que isso seja possvel, a empresa busca formas de
eliminar os GAPs (ou seja, as ineficincias) da operao ferroviria no local, razo pela qual
o presente projeto se prope a analisar a capacidade de descarga de vages de produtos
siderrgicos no referido porto, tendo como base os recursos de que dispe a empresa.
Com este propsito, a tcnica de simulao realizada atravs do Arena ir auxiliar na
modelagem matemtica a fim de se retratar fielmente a realidade da operao ferroviria nos
posicionamentos de vages de produtos siderrgicos e de ferro gusa no terminal da Triunfo,
que a operadora responsvel pela descarga das mercadorias no porto do Rio de Janeiro que
sero despachadas nos navios com destino aos EUA, Europa e sia.
1.1 OBJETIVO.
Utilizando-se da simulao computacional, o trabalho proposto visa identificar a
quantidade de vages de produtos siderrgicos que podero ser descarregados no porto do Rio
-
14
de Janeiro, levando-se em conta o quadro de funcionrios (manobradores e maquinistas) e a
disponibilidade de ativos (locomotiva) atuais da MRS, a fim de, em primeiro plano, atingir o
melhor nvel de servio com o menor ndice de ociosidade possvel.
1.2 JUSTIFICATIVA.
A demanda de vages de produtos siderrgicos que chegam ao ptio do Arar atualmente
no condiz com o planejamento feito pela empresa, uma vez que o nmero de vages, na
grande maioria das vezes, acaba superando a capacidade de descarga do porto e, por
conseguinte, acarretando a formao de filas de vages no ptio e o comprometimento da
produtividade da operao ferroviria. Nesse diapaso, o presente trabalho foi desenvolvido
com o fim de solucionar tal ineficincia no porto do Rio de Janeiro.
1.3 CONSIDERAES INICIAIS SOBRE A FERROVIA.
1.3.1 A MALHA FERROVIRIA BRASILEIRA.
O surgimento da primeira ferrovia no territrio nacional data de 1854, quando, por obra
de Visconde de Mau, foi construda uma ferrovia ligando o porto de Mau at a raiz da Serra
de Petrpolis, com 14,5 km de extenso. Esta ferrovia, atualmente denominada Estrada de
Ferro Mau, no permaneceu em atividade, mas representou o incio das operaes
ferrovirias no Brasil, haja vista que, pouco tempo depois, diversas outras companhias
comearam a surgir ao longo de todo o pas.
Com o desenvolvimento da atividade ferroviria e os investimentos feitos na rea, que
propiciaram a ampliao das linhas frreas e o surgimento de novas companhias, as ferrovias
passaram a competir com as rodovias no mercado de transporte.
Foi ento que, em 30 de setembro de 1957, com o advento da Lei n. 3.115, foi
constituda a Rede Ferroviria Federal S/A (RFFSA) para gerenciar a malha nacional. Com
isso, foram incorporadas Rede Ferroviria a Estrada de Ferro Madeira-Mamor, Estrada de
-
15
Ferro Bragana, Estrada de Ferro So Luiz-Teresina, Estrada de Ferro Central do Piau, Rede
de Viao Cearense, Estrada de Ferro Mossor-Souza, Estrada de Ferro Sampaio Corra,
Rede Ferroviria do Nordeste, Viao Frrea Federal Leste Brasileiro, Estrada de Ferro
Bahia-Minas, Estrada de Ferro Leopoldina, Estrada de Ferro Central do Brasil, Rede Mineira
de Viao, Estrada de Ferro Gois, Estrada de Ferro Santos-Jundia, Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, Rede de Viao Paran-Santa Catarina, Estrada de Ferro Dona Tereza
Cristina e, por fim, a Estrada de Ferro Santa Catarina e a Viao Frrea Rio Grande do Sul.
Contudo, as operaes da malha ferroviria controlada pela RFFSA se mostravam
ineficientes em virtude das ms condies de manuteno do sistema ferrovirio, acarretando
alta incidncia de descarrilamentos, atrasos no servio, longos ciclos de viagem, perda de
negcios e baixa produtividade. A precria situao dessa atividade, no entanto, vem sendo
revertida a partir da dcada de 90, com a privatizao da malha ferroviria brasileira, que,
doravante, passou a ser gerenciada por companhias concessionrias.
Neste sentido, cabe destacar a tabela informativa que segue adiante, relacionando as
aludidas concessionrias com a respectiva malha ferroviria operada, bem como demais dados
pertinentes s suas concesses.
TAB. 1.3.1 (a) Relao das Concessionrias e seus respectivos dados.
Fonte: MRS Logstica (2002).
-
16
Ademais, encontram-se representadas nos mapas geogrficos a seguir a aludida malha
ferroviria concessionada, com indicao das companhias concessionrias e os respectivos
trechos de ferrovias operados pelas mesmas, conforme se observa na FIG. 1.3.1 (a), bem
como as malhas ferrovirias Nordeste e Sudeste, em destaque, ilustradas na FIG. 1.3.1 (b).
FIG. 1.3.1 (a) A Malha Ferroviria brasileira.
Fonte: MRS Logstica (2002).
-
17
FIG. 1.3.1 (b) A Malha Ferroviria Nordeste e Sudeste.
Fonte: MRS Logstica (2002).
Outrossim, cabe mencionar que, com o advento da privatizao da malha ferroviria
brasileira, o investimento de recursos no setor de transporte ferrovirio vem aumentando de
forma gradativa, sendo que nos anos de 2003, 2004 e 2005, especialmente, o investimento
registrado no setor foi consideravelmente maior que nos anteriores, segundo demonstra a FIG.
1.3.1. (c) que segue adiante.
-
18
FIG. 1.3.1 (c) Grfico de Investimento Anual em Ferrovias.
Fonte: MRS Logstica (2006).
Assim, em virtude do crescente investimento em ferrovias que ocorre no pas, a atividade
ferroviria vem apresentando melhoria significativa em praticamente todos os indicadores que
medem o desempenho das operaes conduzidas nas ferrovias, sobretudo em comparao aos
indicadores registradores na poca em que a malha ferroviria brasileira era gerenciada pela
RFFSA.
Como reflexo deste investimento no modal ferrovirio, as empresas atuantes no setor tm
verificado um aumento de seus indicadores de produo, como o caso da MRS Logstica.
Observa-se na FIG 1.3.1 (d) que a produo da referida empresa vem crescendo
vertiginosamente nos ltimos anos, registrando um aumento de quase 20% ao ano. E o
cenrio mostra-se to favorvel que a projeo feita pela empresa de que at o final de 2009
a produo atinja a marca recorde de 160 milhes de toneladas, ou seja, praticamente o dobro
do volume da produo da MRS em 2003.
-
19
Volume anual da MRS
86.191 97.693107.873 113.043
125.824145.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ano
TU
(M
M)
FIG. 1.3.1 (d) Produo Anual da MRS (em toneladas).
Fonte: MRS Logstica (2008).
Todavia, no obstante o crescente investimento de recursos nas ferrovias e o progressivo
desenvolvimento dessa atividade, verifica-se que o modal rodovirio ainda o mais utilizado
para o transporte de cargas no pas, efetuando 53,8% dos transportes de carga, ao passo que o
modal ferrovirio registra apenas 21,6% do total desses transportes, em contraposio aos
EUA, cujo pas referncia nos modais e prioriza o transporte ferrovirio para escoamento de
cargas, conforme se observa na TAB 1.3.1 (b).
TAB 1.3.1 (b) Tabela Comparativa dos Modais utilizados no Brasil e nos EUA.
Fonte: MRS Logstica (2002).
1.3.2 A MALHA FERROVIRIA GERENCIADA PELA MRS.
A malha ferroviria operada pela MRS Logstica geograficamente privilegiada, pois
est localizada nos estados que concentram 67% do PIB brasileiro (SP, RJ e MG),
interconectando as regies metropolitanas das cidades de So Paulo, Rio de Janeiro e Belo
-
20
Horizonte. Suas linhas permitem, ainda, o acesso das minas de minrio de ferro s principais
siderrgicas (CSN, Cosipa, Aominas e Usiminas) e aos terminais exportadores (Porto do
Rio, Guaba e Sepetiba, localizados no estado do Rio de Janeiro). No total, so 1.674 km de
via, distribudas em quatro linhas principais e uma srie de pequenos trechos e variantes.
As quatro principais linhas da empresa so a Linha do Centro, a Ferrovia do Ao, a Linha
de So Paulo (que juntas pertenciam antiga Superintendncia Regional de Juiz de Fora
SR-3), e a Linha Santos-Jundia (a antiga Superintendncia Regional de So Paulo - SR-4). A
SR-3 compreendia linhas entre So Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A SR-4, por sua
vez, cobria a linha de Santos a Jundia, no estado de So Paulo.
A malha ferroviria da MRS est interligada Ferrovia Centro-Atlntica (FCA),
Estrada de Ferro Vitria-Minas (EFVM) e Amrica Latina Logstica (ALL), o que a permite
oferecer alternativas de transporte para outras regies do pas.
A fim de permitir uma melhor visualizao da malha ferroviria da MRS e as conexes
existentes com outras malhas e portos, destaca-se na FIG. 1.3.2 (a) abaixo a representao do
mapa da regio Sudeste com a respectiva distribuio das linhas frreas pelos estados em que
esto compreendidas:
-
21
FIG. 1.3.2 (a) Mapa Esquemtico da Malha Ferroviria gerenciada pela MRS.
Fonte: MRS Logstica (2002).
A Linha do Centro, cuja extenso de 566 km, corre de Belo Horizonte (MG) para a
cidade do Rio de Janeiro (RJ), passando por Juiz de Fora (MG). Trata-se de uma das mais
antigas linhas frreas em operao no Brasil, tendo sido reformada na dcada de 80. Alm de
ser utilizada para transportar produtos siderrgicos com origem na usina mantida pela CSN,
em Volta Redonda, e cimento e sucata de Minas Gerais, at o porto do Rio de Janeiro, esta
linha tambm parcialmente utilizada como via de retorno a Minas Gerais pelos trens vazios
-
22
que transportam minrio de ferro para usinas siderrgicas e portos localizados nos estados de
So Paulo e Rio de Janeiro, atravs da Ferrovia do Ao.
A Ferrovia do Ao parte de Andaime, municpio de Itabirito, em Minas Gerais, para a
localidade de Saudade, municpio de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, tendo 370 km
de extenso. Trata-se de uma linha frrea recente, visto que comeou a operar em 1989. a
mais movimentada linha da malha Sudeste, sendo utilizada, basicamente, para o transporte de
minrio de ferro produzido na regio prxima a Belo Horizonte at os portos de Guaba e
Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, e as unidades siderrgicas da CSN e da Cosipa. O
retorno para Minas Gerais dos trens que carregam minrio de ferro, conforme acima
mencionado, freqentemente realizado atravs da Linha do Centro.
A Linha de So Paulo est situada entre Barra do Pira, no estado do Rio de Janeiro, e a
cidade de So Paulo, totalizando 400 km de extenso. Nesta linha est situado o trecho entre
Saudade e Barra do Pira perfazendo 45 km -, que faz conexo com a Ferrovia do Ao e a
Linha do Centro, e termina por ser um dos trechos mais movimentados da malha Sudeste. A
Linha de So Paulo utilizada para o transporte de produtos siderrgicos, cimento,
contineres e minrio de ferro (principalmente para a usina da Cosipa, em Cubato).
A Linha Santos-Jundia, por sua vez, corre de Jundia, no estado de So Paulo, at o porto
de Santos, passando pela capital (SP). Com 139 km de extenso, essa linha muito utilizada
para o transporte de cargas em geral da regio agrcola de So Paulo (tais como gros e soja),
para o porto de Santos, e de contineres entre o terminal de Jundia e os terminais porturios
em Santos. A capacidade dessa estrada de ferro em parte limitada por ser necessrio utilizar
o sistema de cremalheira, instalado na descida da Serra do Mar, pelo qual, atravs do uso de
locomotivas eltricas e de um mecanismo de trao situado entre os trilhos, possvel fazer
com que vages sejam transportados por um trecho bastante ngreme entre a base e o alto da
serra.
A malha ferroviria da MRS tem conexo direta com os portos do Rio de Janeiro, Santos
(ambas as margens), Sepetiba e Guaba, sendo que, no caso dos dois ltimos portos e da
margem direita do porto de Santos, tem exclusividade em relao s outras companhias
-
23
ferrovirias. Cerca de 62% do volume total transportado pela empresa embarcado em um
desses quatro portos.
Dessa forma, ressaltam-se adiante os principais portos da malha ferroviria Sudeste,
conforme se observa no mapa ilustrativo da FIG 1.3.2 (b), dentre os quais esto o porto de
Sepetiba e o porto do Rio de Janeiro, cujos portos a malha da MRS tem conexo direta.
FIG. 1.3.2 (b) Principais Portos da malha Sudeste.
Fonte: MRS Logstica (2002).
O porto de Santos se localiza no litoral do estado de So Paulo, estendendo-se ao longo
de um esturio limitado pelas ilhas de So Vicente e de Santo Amaro, distando 2 km do
Oceano Atlntico. Os acessos a este porto podem ser feitos atravs das Rodovias SP-055
(Rodovia Padre Manoel da Nbrega), SP-150 (via Anchieta) e SP-160 (Rodovia dos
-
24
Imigrantes), bem como atravs das malhas ferrovirias da MRS (ambas as margens) e da
Amrica Latina Logstica (margem esquerda).
Vrios terminais privativos esto instalados no porto de Santos, dentre os quais se
ressaltam os terminais da Cosipa e Ultrafrtil, clientes da MRS. So transportadas por este
porto as mais diversas cargas, entre elas, adubo, bauxita, trigo, sal, barrilha, cimento, soja,
ctricos, acar, lcool, leo vegetal, carne, frutas, madeira, papel, peas para veculos,
produtos siderrgicos, produtos txteis, pneus, carvo, minrio e produtos qumicos em geral.
Alcanando tanto a margem direita quanto a esquerda do porto de Santos, a malha ferroviria
da MRS utilizada, principalmente, para o transporte de produtos agrcolas e industriais de
importao e exportao.
FIG. 1.3.2 (c) Porto de Santos.
Fonte: MRS Logstica (2002).
O porto do Rio de Janeiro, por sua vez, est localizado na costa Oeste da Baa de
Guanabara, com acessos terrestres pelas Rodovias BR-040, BR-101, BR-116, RJ-071 e RJ-
083, e acesso ferrovirio pela malha Sudeste da MRS. Constituem o porto do Rio de Janeiro,
o Pier Mau, o Cais da Gamboa, o Cais de So Cristovo, o Cais do Caju e o Terminal de
Contineres Tecon.
Tambm se situam na zona de jurisdio do porto do Rio de Janeiro, porm fora dos
limites do cais de uso pblico, cinco terminais privativos. As principais cargas movimentadas
no cais so produtos siderrgicos, papel de imprensa, trigo, ferro gusa e contineres. A MRS
faz uso de seu terminal de cargas, denominado Arar, que se situa s portas do porto do Rio
de Janeiro para operar, em sua maioria, cargas destinadas exportao, produtos agrcolas e
contineres.
-
25
FIG. 1.3.2 (d) Porto do Rio de Janeiro.
Fonte: MRS Logstica (2002).
O Porto de Sepetiba est localizado na costa Norte da Baa de Sepetiba, no municpio de
Itagua, estado do Rio de Janeiro, ao sul e a leste da Ilha da Madeira. O acesso ao porto feito
pela Rodovia BR-101 (Rio-Santos) ou pela malha Sudeste da MRS. Desde 1999, a Vale opera
um terminal privativo no porto de Sepetiba para exportao de minrio de ferro. As principais
cargas movimentadas no cais deste porto so carvo metalrgico, coque de ulha, alumnio,
enxofre e minrio de ferro.
O Porto de Guaba, que atualmente operado pela Vale, encontra-se na Ilha de Guaba,
na Baa de Sepetiba, estado do Rio de Janeiro. Seu nico acesso por terra atravs da malha
Sudeste da MRS. A principal carga transportada neste porto o minrio de ferro extrado das
minas da Vale localizadas em Minas Gerais. Em Guaba, os processos de descarga, feita por
viradores de vages (car dumpers), e de carregamento de navios, feitos por ship loaders
alimentados por correias transportadoras, so altamente mecanizados.
FIG. 1.3.2 (e) Porto de Sepetiba.
Fonte: MRS Logstica (2002).
-
26
FIG. 1.3.2 (f) Porto de Guaba.
Fonte: MRS Logstica (2002).
-
27
2 O PLANEJAMENTO DA PRODUO.
Em uma companhia existem diversos nveis de planejamento, desde o planejamento
estratgico at o planejamento de servios de suporte. Em relao produo em si, o
planejamento pode ser desdobrado em planejamento de operaes, vendas e estoques (entre os
nveis estratgico e ttico), os planejamentos da demanda, de distribuio, de estoques e de
insumos (em nvel ttico), e os planejamentos operacionais, de pedidos, programao e de
servios de logstica.
FIG. 2 (a) Pirmide de Planejamento de uma Companhia.
Fonte: MRS Logstica (2002).
-
28
Em geral, o planejamento da produo segue por uma seqncia de atividades intrnsecas
ao processo de planejamento, conforme demonstra a FIG. 2 (a). O planejamento de longo
prazo necessrio para desenvolver instalaes e equipamentos, grandes fornecedores e
processos de produo, devendo ser abordado a longo prazo, preferencialmente, com lastro de
alguns anos.
O planejamento agregado desenvolve planos de produo de mdio prazo referentes ao
emprego, estoque agregado, utilidades, modificaes de instalaes e contratos de
fornecimento de materiais. Esses planos agregados impem restries aos planos de produo
de curto prazo que se seguem.
Programas mestres de produo caracterizam-se por serem planos de curto prazo para
produzir produtos acabados ou itens finais, os quais so utilizados para impulsionar sistemas
de planejamento e controle.
Planejamento daCapacidade deLongo Prazo
PlanejamentoAgregado
Programa Mestrede Produo
Sistemas dePlanejamento e
Controle daProduo
FIG. 2 (b) Processo de Planejamento da Produo.
Fonte: MRS Logstica (2008).
-
29
As tcnicas de gesto da produo foram, ao longo do tempo, acompanhando a evoluo
dos processos produtivos, at culminarem, por conseqncia, no surgimento de vrias tcnicas
que nos permitem atender aos diferentes tipos de produo.
2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAO DA MRS (PCO).
2.1.1 ATRIBUIES DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAO.
Ao PCO incumbe estabelecer diretrizes para a realizao do dimensionamento anual,
semestral, mensal e semanal dos recursos, de forma a conciliar a demanda de transporte de
produtos (minrio, siderrgico, ferro gusa, cimento, soja, container, trigo, entre outros) com a
capacidade de ptios e terminais e a capacidade de ativos (locomotivas e vages).
2.1.1.1 PLANO ANUAL DE DEMANDA.
No dimensionamento anual de recursos, a Gesto Oramentria encaminha a planilha
com a demanda anual, segmentada por fluxo de transporte, detalhada mensalmente. Aps o
recebimento da planilha, o PCO define a metodologia para a execuo do planejamento
operacional (ciclos e modelo operacional) e, sendo necessrio, solicita s reas fornecedoras
de informaes os dados que necessita para o incio das atividades de planejamento, analisa as
informaes e elabora a grade de trens para atender demanda.
Aps a apurao dos dados, o PCO inicia o dimensionamento de recursos para
atendimento demanda, negociando, com as reas envolvidas, as premissas operacionais. Tal
negociao feita com a rea de disponibilizao de ativos, e visa analisar a possibilidade de
disponibilizar mais ativos, caso tenha sido sugerido pelo PCO, e/ou promover a anlise da
adequao dos vages aos fluxos de transporte (ou seja, anlise das caractersticas dos vages
com o tipo de mercadoria transportada), no caso disso ter sido indicado pelo PCO, e/ou fazer
planos de ao, caso a disponibilidade de ativos seja menor do que a que foi acordada.
-
30
Na hiptese do Planejamento e Controle da Manuteno (PCM) no conseguir
disponibilizar os vages necessrios, retorna-se para a rea de Gerao de Demanda para
analisar a possibilidade de reduo do ciclo de fluxo de transporte (terminal de carga e
descarga) ou a redistribuio da demanda para perodos de baixa. Caso a reduo dos tempos
de carga/descarga no sejam suficientes, por si s, retorna-se para o CCO analisar a
possibilidade de reduzir o ciclo dos fluxos de transporte (tempo de trnsito).
FIG. 2.1.1.1 Fluxograma do Plano Anual.
Fonte: MRS Logstica (2008).
2.1.1.2 PLANO SEMESTRAL OU POVE.
No dimensionamento do POVE, isto , da programao semestral, a Gerao de
Demanda insere no SISLOG (a ferramenta de apoio), no 1 dia til de cada ms, o volume a
ser transportado para os prximos meses, segmentada pelo fluxo de transporte, detalhado
mensalmente.
Aps o input no SISLOG, o PCO define a metodologia para execuo do planejamento
operacional (ciclos e modelo operacional) e, julgando necessrio, solicita s reas
fornecedoras de informaes os dados necessrios para o incio das atividades de
planejamento, aps o que analisa as informaes e elabora a grade de trens para atendimento
da demanda, que um documento com os trens de Carga Geral. Nessa mesma dimenso
semestral, o PCO gera a freqncia de trens/dia para clculo da Equipagem.
De posse de todos os dados, o PCO inicia o dimensionamento de recursos para
atendimento das demandas, apresenta s reas envolvidas as premissas operacionais, a
capacidade de ptios e terminais, e gera o relatrio final de dimensionamento de recursos
mensal, o chamado BOOK.
-
31
H uma reunio de alinhamento com as reas envolvidas no processo para que toda a
cadeia conhea a demanda semestral, de forma que todos possam se mobilizar, caso seja
necessrio, para atendimento de 100% da demanda. Alm disso, essa reunio trata ainda
outros assuntos, tais como, promover anlises de capacidade, anlises de planos de ao,
compra de material e equipamentos, adiantar as manutenes, viabilizar maquinistas, entre
outros desvios que possam ocorrer.
FIG. 2.1.1.2 Fluxograma do Plano Semestral.
Fonte: MRS Logstica (2008).
2.1.1.3 PLANO MENSAL DE DEMANDA.
No dimensionamento mensal de recursos, o qual servir de base para este trabalho, a
Gerao de Demanda insere no SISLOG (ferramenta de apoio), at o dia 20 de cada ms, o
volume a ser transportado para o prximo ms, segmentada por fluxo de transporte, detalhado
semanalmente.
Aps o input no SISLOG, o PCO define a metodologia para a execuo do planejamento
operacional (ciclos e modelo operacional) e, sendo necessrio, solicita s reas fornecedoras
de informaes os dados necessrios para o incio das atividades de planejamento, analisa as
informaes, elabora a grade de trens para atendimento da demanda, que um documento
com os trens de Carga Geral que informa para cada uma das famlias a freqncia de
circulao, o local de origem, de destino, os pontos de paradas programadas, as atividades a
serem realizadas em cada um desses pontos, bem como os horrios de chegada e partida em
cada local.
Com todos os dados apurados, o PCO inicia o dimensionamento de recursos para
atendimento das demandas, negocia com as reas envolvidas as premissas operacionais, a
-
32
capacidade de ptios e terminais e trade off de transporte, bem como gera o relatrio final de
dimensionamento de recursos mensal, chamado BOOK.
Esta negociao feita com a rea de disponibilizao de ativos visando analisar a
possibilidade de aumento na disponibilidade de ativos, caso solicitado pelo PCO, e/ou
promover a anlise da adequao dos vages aos fluxos de transporte (anlise das
caractersticas dos vages com o tipo de mercadoria transportada), caso solicitado pelo PCO,
e/ou fazer planos de ao, caso a disponibilidade seja menor do que a acordada.
Caso o PCM no consiga disponibilizar os vages, retorna-se novamente para a rea de
Gerao de Demanda para analisar a possibilidade de reduzir o ciclo dos fluxos de transporte
(terminal de carga e descarga) ou redistribuir a demanda para perodos de baixa. Se apenas a
reduo dos tempos de carga/descarga no for suficiente, retorna-se para o CCO analisar a
possibilidade de reduzir o ciclo dos fluxos de transporte (tempo de trnsito).
Cabe mencionar que o plano mensal tem como base o oramento do ano vigente.
FIG. 2.1.1.3 Fluxograma do Plano Mensal.
Fonte: MRS Logstica (2008).
2.1.1.4 PROGRAMAO SEMANAL.
No dimensionamento semanal de recursos, a Gerao de Demanda insere no SISLOG
(ferramenta de apoio), toda quintafeira de cada semana, o volume que ser transportado na
prxima semana, segmentada por fluxo de transporte, detalhado por dia.
Aps o input no SISLOG, o PCO estabelece a metodologia para a execuo do
planejamento operacional (ciclos e modelo operacional) e, havendo necessidade, solicita s
-
33
reas fornecedoras de informaes os dados necessrios para o incio das atividades de
planejamento, analisa as informaes, segue a grade de trens que foi fechada no incio do ms
para atendimento da demanda, que um documento com os trens de Carga Geral que informa
para cada uma das famlias a freqncia de circulao, o local de origem, de destino, os
pontos de paradas programadas, as atividades a serem realizadas em cada um desses pontos, e
tambm os horrios de chegada e partida em cada local.
Havendo apurao de todos os dados, o PCO inicia o dimensionamento de recursos para
atendimento das demandas, negocia com as reas envolvidas as premissas operacionais, a
capacidade de ptios e terminais e trade off de transporte, e gera o relatrio final de
dimensionamento de recursos semanal.
Tal negociao feita com a rea de disponibilizao de ativos visando analisar a
possibilidade de aumentar a disponibilidade de ativos, no caso de ser esta a solicitao do
PCO, e/ou promover a anlise da adequao dos vages aos fluxos de transporte (anlise das
caractersticas dos vages com o tipo de mercadoria transportada), caso solicitado pelo PCO,
e/ou fazer planos de ao, caso a disponibilidade seja menor do que aquela acordada.
Na hiptese do PCM no puder disponibilizar os vages, retorna-se novamente para a
rea de Gerao de Demanda para analisar a possibilidade de reduzir o ciclo dos fluxos de
transporte (terminal de carga e descarga) ou redistribuir a demanda para perodos de baixa. Se
os tempos de carga/descarga no forem suficientes, por si s, retorna-se para o CCO analisar a
possibilidade de reduzir o ciclo dos fluxos de transporte (tempo de trnsito).
A programao semanal, cabe mencionar, tem como base o plano mensal do ms vigente.
FIG. 2.1.1.4 Fluxograma da Programao Semanal.
Fonte: MRS Logstica (2008).
-
34
2.2 CLCULO DE ATIVOS.
2.2.1 DIMENSIONAMENTO DE VAGES.
Para cada tipo de produto transportado, utiliza-se um tipo de vago ideal correspondente.
Assim, os fluxos so agrupados de acordo com a mercadoria a ser transportada, podendo-se
calcular a necessidade de vages para atender a todos os fluxos aplicando-se a frmula
demonstrada a seguir:
Necessidade de vages = volume / (n. dias/ciclo do vago x TU/vago);
Onde:
Volume = demanda solicitada, em toneladas.
N. dias = quantidade de dias necessrios para realizar o transporte.
Ciclo do vago = tempo decorrido entre a sada do vago de sua origem do fluxo at o
seu retorno (compreende os tempos de trnsito ida e volta e de carga e descarga).
TU/vago = toneladas teis transportadas no vago.
2.2.2 DIMENSIONAMENTO DE LOCOMOTIVAS.
A viabilidade de se alocar mais locomotivas no porto do Rio de Janeiro com o fim de
atender a demanda de produtos siderrgicos e ferro gusa dentro do terminal da Triunfo, nos
pontos denominados armazns, ser avaliada com base nos resultados obtidos atravs da
simulao, sendo determinada conforme a demanda de vages que chegam ao porto.
Tendo em vista que os armazns da Triunfo ficam distantes do Alencastro (local onde os
vages carregados aguardam para serem descarregados), desta forma, demandando elevado
tempo de atendimento, este estudo revela-se fundamental para sanar as inmeras ocorrncias
de no cumprimento das metas dirias.
-
35
Ressalta-se que atualmente no h um dimensionamento adequado de locomotivas nos
ptios da MRS, muito em virtude do Planejamento e Controle da Operao (PCO), que a
rea encarregada deste dimensionamento, acreditar que a chegada de vages acontece flat,
ou seja, de maneira constante ao longo do dia, o que de fato no ocorre, haja vista a grande
aleatoriedade dos vages. Falta ao PCO real conhecimento da operao desenvolvida no
porto, bem como as ferramentas apropriadas e embasamento estatstico.
Isto posto, o presente trabalho visa retratar para o PCO a realidade da operao
ferroviria no porto do Rio de Janeiro e a capacidade de descarga de vages no local, atravs
dos resultados encontrados na simulao, de forma a permitir que o carregamento de cargas
seja feito conforme a capacidade do porto em descarreg-las, no acarretando, dessa forma, a
formao de filas no ptio.
-
36
3 ESTUDO DE CASO.
A MRS Logstica transportou, somente no ano passado, 1 milho de toneladas de ferro
gusa, o que lhe garantiu uma participao de 50% do total do mercado. Nos quatro primeiros
meses deste ano, a empresa j movimentou 480 mil toneladas, o que representa um aumento
de 166% em comparao a igual perodo do ano passado. Com base nestes dados, a empresa
projeta encerrar o ano de 2008 registrando o volume total de 1,45 milhes de toneladas de
ferro gusa transportadas, o que ocuparia toda a capacidade atual instalada.
O ferro gusa transportado produzido nas regies de Sete Lagoas e Divinpolis, ambas
em Minas Gerais, e carregado nos trens da MRS nos terminais de Joaquim Murtinho e
Sarzedo Novo, localizados em Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte, respectivamente.
A carga de pequenos e mdios produtores de ferro gusa segue em conjunto de 60 vages
para o porto do Rio de Janeiro, onde embarcada com destino a Europa e sia. O embarque
realizado pelo terminal da Triunfo.
O principal gargalo da operao est no desembarque da carga no porto do Rio de
Janeiro. Isto porque a composio no consegue entrar completa (com os 60 vages) no porto.
Por isso, a MRS precisa fazer movimentos de 6 ou 8 vages de ferro gusa para chegar ao
terminal da Triunfo, onde fica o equipamento de desembarque. A operao leva, desta forma,
18 horas para ser realizada.
J a composio de produtos siderrgicos que chega ao porto conta com 20 a 50 vages,
o que leva a empresa a fazer movimentos de 5 vages de siderrgico por vez para o armazm
correspondente onde fica o equipamento de desembarque. A operao demora, com isso, 24
horas para ser realizada.
A MRS pretende, ainda este ano, aumentar em 30% a capacidade anual de movimentao
de ferro gusa no porto do Rio de Janeiro, totalizando 2 milhes de toneladas. A empresa tem a
desafiadora misso de conseguir aumentar sua capacidade de volume dentro do porto, sem,
todavia, comprar ativos. Por isso, o presente trabalho se dispe a analisar a capacidade de
-
37
descarga de vages no porto, a fim de possibilitar sua ampliao e o conseqente ganho de
produtividade na operao ferroviria.
3.1 TRIUNFO, A OPERADORA PORTURIA.
A Triunfo, que a empresa responsvel pela descarga das mercadorias no porto do Rio
de Janeiro, atua h mais de 15 anos no ramo de transporte, armazenamento e logstica de
materiais siderrgicos, movimentao de cargas em geral, containeres e granis slidos.
Atravs de macios investimentos em novos equipamentos, tecnologia e treinamento, e
da construo de armazns, a Triunfo tornou-se a melhor opo em operaes porturias,
oferecendo aos seus clientes a mais moderna, completa e qualificada infra-estrutura porturia
e de servios nos portos do Rio de Janeiro e Sepetiba.
Como reconhecimento aos esforos empregados na busca da qualidade total de seus
servios, infra-estrutura e equipamentos, a Triunfo obteve a certificao do Sistema de Gesto
da Qualidade ISO 9001.
A empresa est estruturada para atender seus clientes em at 06 navios simultneos, com
tempo de espera zero, e logstica para operar toda famlia de aos em 60.000m de rea
alfandegada e prestar todos os servios relacionados ao transporte, armazenamento e logstica
de materiais siderrgicos, cargas em geral e granis slidos, sempre com eficincia,
qualidade, confiabilidade e preos competitivos, garantindo a integridade da carga em todas
as operaes.
Para oferecer o que h de melhor, a Triunfo conta com modernos equipamentos de
manuseio de cargas, sistemas informatizados de gerenciamento, controle operacional e de
cargas atravs de circuito fechado de TV e equipe de profissionais constantemente treinados.
-
38
3.2 O PORTO DO RIO DE JANEIRO DOCAS.
O Porto do Rio de Janeiro , tradicionalmente, um dos mais importantes portos
brasileiros. Sua inaugurao oficial ocorreu em 20 de julho de 1910. No perodo de 1911 a
1922, esteve sob o controle de capitais privados, de origem francesa, representados pela
Compagnie du Port de Rio de Janeiro. A Partir de 1923, passou a ser administrado por um
rgo federal, a Companhia Brasileira de Explorao de Portos.
Atravs da Lei n 190, de 16/01/36, foi constituda a autarquia federal Administrao do
Porto do Rio de Janeiro, que recebeu as instalaes porturias em transferncia do
Departamento Nacional de Portos e Navegao, vinculado ao Ministrio da Viao e Obras
Pblicas.
Em 09/07/73, nos termos do Decreto n 72.439, foi criada a Companhia Docas da
Guanabara, cuja razo social foi alterada, a partir de 1975, para Companhia Docas do Rio de
Janeiro.
Em decorrncia da aplicao da Lei n 8.630, de 25/02/93, as atividades da operao
porturia foram, por intermdio de contratos de arrendamento de reas, gradualmente
transferidas para as empresas do setor privado, constitudas para atuar sob a forma de
Terminais Porturios, em moldes semelhantes aos verificados nos principais portos europeus.
Ademais, o Projeto de Revitalizao Urbana da rea Porturia, que comea a ser
desenvolvido pelo porto, corresponde primeira etapa do processo de efetiva modernizao
porturia do estado do Rio de Janeiro. Este empreendimento contar com investimentos
macios da iniciativa privada para a construo de um complexo comercial no Porto do Rio
de Janeiro, que inclui shopping center e centro empresarial e cultural, em bases anlogas s
que reintegraram, com notvel sucesso em outros pases, a cidade ao porto.
Est prevista ainda no universo do aludido projeto, a remodelagem de reas porturias
destinadas operao, de maneira a dot-las de beros de atracao mais modernos, melhores
acessos terrestres e amplas retro reas primrias, contribuindo significativamente para a
melhoria dos indicadores operacionais do porto do Rio de Janeiro.
-
39
3.3 LOCALIZAO DO PORTO E SEUS ACESSOS.
O porto do Rio de Janeiro se localiza na costa Oeste da Baa de Guanabara, cujo acesso
pode ser feito pelas vias terrestre, ferroviria e martima. O acesso terrestre ocorre pelas
rodovias BR-040, BR-101, BR-116, RJ-071 e RJ-083, atravs da Avenida Brasil, na cidade do
Rio de Janeiro.
O acesso ferrovirio se d, em bitola larga (1,60m), por intermdio do Terminal do Arar,
operado pela MRS Logstica S/A, ligando o porto regio Centro-Sul do estado do Rio de
Janeiro (Vale do Paraba), e esta aos estados de So Paulo e Minas Gerais. Em bitola mtrica
(1,00m), o acesso por intermdio do Terminal de Areia de Praia Formosa, operado pela
FCA Ferrovia Centro-Atlntica S/A, acessando-se a regio Noroeste do estado do Rio de
Janeiro e desta, os estados de Esprito Santo e Minas Gerais.
No tocante ao acesso martimo, a barra, com largura de 1,5km e profundidade mnima de
12m, delimitada pelos faris do Morro do Po de Acar e da Fortaleza de Santa Cruz, na
entrada da Baa de Guanabara. O canal de acesso compreende 18,5km de comprimento, 150m
de largura mnima e 17m de profundidade.
3.4 INSTALAES DO PORTO.
O porto do Rio de Janeiro constitudo por 6.740m de cais contnuo e um per de 392m,
o qual est distribudo em vrios trechos, na forma a seguir:
Per Mau: trata-se de um per acostvel nos dois lados, com 880m de permetro,
contendo 5 beros, cujas profundidades variam de 7 a 10m. Sua superfcie total
de 38.512m.
Cais da Gamboa: tem incio junto ao Per Mau e se prolonga at o Canal do
Mangue, numa extenso de 3.150m, compreendendo 20 beros, com
profundidades que variam de 7 a 10m. Este cais conta, ainda, com 18 armazns,
-
40
sendo 1 frigorfico para 15.200 toneladas, totalizando 60.000m de ptios para
armazenagem a cu aberto.
Cais de So Cristvo: composto por 6 beros distribudos ao longo de 1.525m de
extenso e cais com profundidades de 6 a 8,5m. Possui 2 armazns perfazendo
12.100m e ptios descobertos de aproximadamente 23.000m.
Cais do Caju / Terminal Roll-on Roll-off: possui 1.001m de cais e 5 beros com
profundidades variando entre 6 e 12m, estando apenas 1 em condies de
atracao. As instalaes de armazenagem so constitudas por 3 armazns, com
rea total de 21.000m e mais 69.200m de ptios descobertos.
Terminal de Contineres: possui rea total, incluindo os acessos rodo-ferrovirios,
de 137.240m. Compreende 1 cais de 784m de extenso, com 4 beros e 1 per de
prolongamento de 280m de extenso, apresentando 1 bero com profundidade
mdia de 12m e retrorea total de 324.000m.
O porto conta, tambm, com 10 armazns externos e 8 ptios cobertos, totalizando reas
de 65.367m e 11.027m, respectivamente, o que corresponde a uma capacidade de
armazenagem de 13.100 toneladas.
3.5 PRINCIPAIS CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO.
No cais do porto do Rio de Janeiro, as principais cargas movimentadas so os produtos
siderrgicos, papel de imprensa, trigo, ferro gusa, veculos e contineres.
Fora do cais do porto, destacam-se o petrleo e seus derivados como as principais cargas
movimentadas.
-
41
4 SIMULAO.
Simulao a tcnica de estudar o comportamento e reaes de um determinado sistema
atravs de modelos, que imitam, na totalidade ou em parte, as propriedades e comportamentos
deste sistema em uma escala menor, permitindo sua manipulao e estudo detalhado.
Um bom exemplo de simulao aquela realizada na indstria aeronutica, na qual a
aerodinmica dos avies em projeto testada em tneis de vento atravs de pequenas
maquetes que apresentam o mesmo formato do avio, ou seja, imitam o modelo do avio
real. Essa tcnica fundamental, pois seria completamente invivel construir todo o avio e
tentar faz-lo voar com pilotos de teste, pois, neste caso, a probabilidade de ocorrerem perdas
de vidas e de investimentos enorme.
A evoluo vertiginosa da informtica nos ltimos anos tornou o computador um
importante aliado da simulao. A simulao por computador empregada nas mais diversas
reas, como nas anlises de previso meteorolgica, no treinamento de estratgia para
militares e na pilotagem de veculos ou avies.
At mesmo o estudo aerodinmico, antes feito por maquetes, pode ser agora simulado no
computador. Isto possvel pois o computador alimentado com as propriedades e
caractersticas do sistema real, criando um ambiente virtual que usado para testar as teorias
desejadas. O computador efetua os clculos necessrios para a interao do ambiente virtual
com o objeto em estudo e apresenta os resultados do experimento no formato desejado pelo
analista.
Em uma simulao, construdo um modelo lgico-matemtico que representa a
dinmica do sistema em estudo. Este modelo normalmente incorpora valores para tempo,
distncia, recurso disponvel, entre outros.
No Arena, esta modelagem feita visualmente com objetos orientados simulao e
com o auxlio do mouse, no necessitando serem digitados comandos na lgica
(programao). Ao modelo, so anexados dados sobre o sistema. Neste ponto a simulao do
-
42
Arena se diferencia, pois no so utilizados valores mdios para os parmetros no modelo, e
sim distribuies estatsticas geradas a partir de uma coleo de dados sobre o parmetro a
ser inserido.
Somando-se os dados e o modelo lgico-matemtico, tm-se uma representao do
sistema no computador. Com esse sistema podem ser realizados vrios testes, bem como a
coleta de dados de resultados que iro mostrar o comportamento do sistema bem prximos do
real.
De forma resumida, na maioria dos casos, os passos realizados em uma simulao so os
que se encontram descritos nos tpicos abaixo:
Faz-se um estudo sobre o comportamento do sistema a ser simulado, coletando-se
as informaes de tempo necessrias;
O modelo construdo no Arena e alimentado com os tempos coletados na etapa
anterior;
O Arena acionado para fazer funcionar o modelo e gerar resultados sobre seu
comportamento.
Estes resultados so analisados e, dependendo das concluses obtidas, novas mudanas
so feitas no modelo para aperfeioar o processo de simulao. Para tanto, retorna-se para a
ltima etapa acima descrita, possibilitando gerar novos resultados. Este ciclo se repete at
que o modelo se comporte de forma satisfatria. Como se trata de uma rplica fiel do sistema
original, os resultados obtidos pelo modelo sero vlidos tambm para a situao real.
Assim sendo, no presente trabalho, ser utilizada a tcnica de simulao do Arena para
analisar a capacidade de descarga no porto do Rio de Janeiro com os recursos hoje
disponveis, e os resultados obtidos na simulao serviro como ferramenta de apoio para se
determinar a quantidade de vages que ser descarregada neste porto.
-
43
4.1 SIMULADORES ESTOCSTICOS X SIMULADORES DETERMINSTICOS.
A representao fiel de um sistema passa, inevitavelmente, pela aleatoriedade de seus
eventos. Simuladores que trabalham com valores mdios ou usam os prprios valores
coletados do sistema como dados de entrada so denominados Determinsticos.
A desvantagem de simular um sistema com dados determinsticos que, no caso de
valores mdios, no se pode observar ou considerar o impacto individual que cada valor do
dado provoca no sistema, e isso pode ser bastante significativo.
No caso de se utilizar os prprios valores coletados, o resultado melhor, mas este fica
restrito apenas ao nmero de coletas. Quando os dados terminam, necessrio recomear a
simulao do primeiro valor, entrando em uma repetio que acaba gerando resultados
bastante idnticos aos do perodo anterior.
Outro inconveniente que as ocorrncias (como quebras ou sobrecargas) sero
reproduzidas no sistema sempre da mesma forma, sem a variao que observada no sistema
real. Isto pode ocultar do analista diversas situaes que, na prtica, ocorrem no sistema.
Por outro lado, os simuladores Estocsticos, como o Arena, so capacitados a imitar a
aleatoriedade do sistema real atravs de distribuies probabilsticas, as quais representam
matematicamente as chances de ocorrncia de todos os valores possveis para um determinado
processo do sistema. Em conjunto com um sistema gerador de nmeros aleatrios, como o
denominado Mtodo de Monte Carlo, ou outros, os simuladores estocsticos permitem
reproduzir o comportamento do sistema com todas as possibilidades e combinaes, e sem
limite no perodo de tempo desejado pelo usurio.
A dificuldade em se construir modelos usando linguagens de desenvolvimento genricas
como Java ou C++ a no existncia dos recursos para simulao estocstica nestes pacotes,
alm da ausncia de coleta de estatsticas automtica, apresentao animada do processo,
entre outros. Tais recursos necessitariam de desenvolvimento particular, aumentando o tempo
e o custo do projeto. Mesmo assim, dificilmente os resultados obtidos com este
-
44
desenvolvimento atingiriam o nvel de eficincia dos pacotes de simulao, que contam com
anos de depurao e melhorias.
O Arena um ambiente grfico integrado de simulao, que contm todos os recursos
para modelagem de processos, desenho e animao, anlise estatstica e anlise de resultados.
Ademais, foi considerado por conceituados especialistas em simulao como "o mais
inovador software de simulao", por unir os recursos de uma linguagem de simulao
facilidade de uso de um simulador, em um ambiente grfico integrado.
A linguagem incorporada ao Arena o Siman. No necessrio escrever nenhuma linha
de cdigo no Arena, pois todo o processo de criao do modelo de simulao grfico e
visual, e de maneira integrada.
Atravs da utilizao de templates (cartuchos de customizao), o Arena pode ser
transformado facilmente em um simulador, especfico para reengenharia, transporte de gs
natural, manufatura, etc. O usurio pode criar seus prprios templates, incorporando ao
ambiente corporativo o know-how, para uso de outras pessoas, atravs do uso de
objetos/templates corporativos.
A tecnologia diferencial do Arena est justamente nesses templates, os quais so uma
coleo de objetos/ferramentas de modelagem que permitem ao usurio descrever o
comportamento do processo em anlise, atravs de respostas s perguntas pr-elaboradas, sem
programao, de maneira visual e interativa.
Diversos tipos de templates podem ser utilizados no Arena, inclusive simultaneamente.
Junto com o produto so fornecidos 3 templates genricos (que podem ser utilizados para
todos os tipos de processo), e tambm 2 templates Siman (linguagem genrica).
O Arena composto por uma famlia de softwares, alguns com finalidades genricas,
outros com finalidades especficas, quais sejam:
Arena Standard: simulador genrico. Permite ao usurio utilizar inmeros templates,
porm sem a possibilidade de criao de templates prprios;
-
45
Arena Professional: simulador genrico. Alm dos recursos comuns do Standard,
possvel ao usurio criar objetos e agrup-los em templates, distribuindo-os de maneira
livre dentro da organizao ou do mercado;
Arena Contact Center: simulador especial para simulao de centrais de atendimento;
Arena Factory Analyzer: simulador especfico para estudos de manufatura. Segue
padro para projetos na rea e possui interligao com ferramentas de MRP e Scheduling;
Arena Packaging: simulador destinado a linhas de alta velocidade e grande quantidade
de elementos, como engarrafadoras e empacotadoras;
Arena Realtime: capacitado a trocar informaes em tempo real com sensores e
controladores externos, para simular e monitorar o sistema.
FIG. 4.1 Lay Out do Arena.
Fonte: Paragon (2008).
-
46
5 CONSTRUO DO MODELO.
5.1 MERCADORIAS TRANSPORTADAS E SUA ORIGEM.
Para se identificar a capacidade de uma locomotiva posicionar vages de siderrgico e
ferro gusa nos terminais durante um perodo de 24h, conforme proposto neste trabalho, deve-
se levar em conta que o ferro gusa a principal mercadoria de descarga da MRS no porto do
Rio de Janeiro e, portanto, tem prioridade em ser descarregado.
O Brasil desponta como produtor de ferro gusa a partir do carvo vegetal, sendo o maior
produtor mundial. Minas Gerais o estado com maior nmero de produtores, destacando-se
as cidades de Sete Lagoas e Divinpolis como principais plos. No cenrio mundial, ressalta-
se que os chineses produziam gusa nos finais da Dinastia Zhou, e na Europa o processo
tornou-se comum a partir do sculo XIV.
O ferro gusa o produto imediato da reduo do minrio de ferro pelo coque ou carvo e
calcrio em alto forno, e possui em sua composio at 5% de carbono, o que faz com que
seja um material quebradio e sem grande uso direto. Geralmente, nos processos industriais,
considerado como uma liga de ferro e carbono, contendo de 4 a 4,5% de carbono e outros
elementos ditos residuais, tais como silcio, mangans, fsforo, enxofre, dentre outros.
O gusa vertido diretamente a partir do cadinho do alto forno para contentores para
formar lingotes, ou usado diretamente no estado lquido em aciarias. Os lingotes so ento
usados para produzir ferro fundido e ao, ao extrair-se o carbono em excesso.
No que tange aos produtos siderrgicos, evidente que, no atual estgio de
desenvolvimento da sociedade, no h como imaginar o mundo sem o uso de ferro fundido e
ao. O incio e o processo de aperfeioamento do uso do ferro representaram grandes desafios
e conquistas para a humanidade.
-
47
A produo de ao um forte indicador do estgio de desenvolvimento econmico de um
pas. Seu consumo cresce proporcionalmente construo de edifcios, execuo de obras
pblicas, instalao de meios de comunicao e produo de equipamentos.
Esses materiais j se tornaram corriqueiros no cotidiano, mas fabric-los exige tcnica
apurada, que deve ser renovada de forma cclica, por isso, h o constante investimento de
empresas siderrgicas em pesquisa.
No que tange aos vrios tipos de produtos siderrgicos de grande relevncia na indstria
e siderurgia, cabe mencionar que a MRS realiza o transporte de vrios destes materiais, os
quais se encontram abaixo descritos com a respectiva caracterizao:
Produtos semi-acabados: placas, blocos e tarugos.
So aqueles oriundos de processo de lingotamento contnuo ou de laminao de desbaste,
destinados ao posterior processamento de laminao ou forjamento a quente.
Produtos planos: os no revestidos e os revestidos, em ao carbono.
Resultam de um processo de laminao, cuja largura extremamente superior espessura
(L >>>E), e so comercializados na forma de chapas e bobinas de aos carbono e especiais.
Os produtos planos no revestidos, em "ao carbono", transportados pela MRS so:
Bobinas e chapas grossas do laminador de tiras a quente - LTQ (5mm < E > 12,7mm);
Bobinas e chapas grossas do laminador de chapas grossas - LCG (E > 12,7mm);
Bobinas e chapas finas laminadas a quente (BQ/CFQ);
-
48
Bobinas e chapas finas laminadas a frio (BF/CFF).
J os produtos planos revestidos, em "ao carbono", transportados so:
Folhas para embalagem (folhas de flandres - recobertas com estanho - e folhas
cromadas);
Bobinas e chapas eletro-galvanizadas (EG - Electrolytic Galvanized);
Bobinas e chapas zincadas a quente (HDG - Hot Dipped Galvanized);
Bobinas e chapas de ligas alumnio-zinco;
Bobinas e chapas pr-pintadas.
Produtos longos: em ao carbono e em aos ligados/especiais.
So resultado de um processo de laminao, cujas sees transversais tm formato
poligonal e seu comprimento extremamente superior maior dimenso da seo, sendo
ofertados em ao carbono e especiais.
Os produtos longos em aos carbono transportados pela MRS so:
Perfis leves (h < 80 mm);
Perfis mdios (80 mm < h 150 mm);
Vergalhes;
Fio-mquina (principalmente para arames);
-
49
Barras (qualidade construo civil);
Tubos sem costura;
Trefilados.
Os produtos longos em aos ligados/especiais, por sua vez, so:
Fio-mquina (para parafusos e outros);
Barras em aos construo mecnica;
Barras em aos ferramenta;
Barras em aos inoxidveis e para vlvulas;
Tubos sem costura;
Trefilados.
-
50
FIG. 5.1 Linha de Produo dos Materiais Siderrgicos.
Fonte: Companhia Siderrgica Nacional (2005).
5.2 DEMANDA DAS MERCADORIAS.
Conforme anteriormente elucidado, o presente estudo parte da premissa da aleatoriedade
do nmero de vages de produtos siderrgicos que chegam ao porto do Rio de Janeiro,
segundo atestam os dados estatsticos contidos na TAB 5.2 adiante.
-
51
TAB. 5.2 Dados Estatsticos referentes quantidade de Vages de
Produtos Siderrgicos que chegaram ao Porto em 2008.
MESES MDIA MXIMO MNIMO DESVIO PADRO
% CHEGADAS DE VGS ACIMA DE 20 VGS
jan/08 20 48 0 15 48,4% fev/08 10 40 0 12 16,1% mar/08 12 38 0 13 29,0% abr/08 16 51 0 14 25,8% mai/08 18 43 0 12 35,5% jun/08 12 35 0 12 29,0% jul/08 11 32 0 11 19,4%
ago/08 4 34 0 8 3,2%
Fonte: MRS Logstica (2008).
Observa-se que a TAB 5.2 registra que a mdia do ano de 2008 varia em torno de 18 a 20
vages de siderrgico por dia, com um desvio padro de 8 a 15 vages. O desvio pode ser
considerado grande entre os dias, mas est estvel durante os meses. J houve registro da
chegada de 51 vages no mesmo dia (abril/08), mas, em contrapartida, tambm houve dias em
que nenhum vago chegou ao porto. Portanto, a anlise dos dados estatsticos apresentados
ratifica a assertiva de que a chegada de vages de produtos siderrgicos ao ptio do Arar
ocorre de forma aleatria.
Outrossim, verifica-se na referida tabela que o percentual de vages de produtos
siderrgicos acima de 20 vem diminuindo a partir do ms de junho at agosto de 2008, sendo
que, de junho para julho deste ano, a reduo da demanda foi de 9,6%.
No que tange demanda de ferro gusa, cumpre mencionar que atualmente a quantidade
de vages que chega ao referido porto constante, qual seja, 60 vages por dia.
A FIG. 5.2 faz uma representao grfica da quantidade de vages de produtos
siderrgicos e de ferro gusa que chegaram ao porto do Rio de Janeiro no ano de 2008, dessa
forma, tornando evidentes a aleatoriedade da demanda dos vages de siderrgico e a
constncia dos vages de ferro gusa.
-
52
Quantidade de vages/dia que chegam ao Porto
0
10
20
30
40
50
60
70
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do ms
Qtd
de
vag
es
po
r d
ia
jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 Gusa
FIG. 5.2 Quantidade de Vages de Siderrgico e Ferro Gusa que chegaram ao Arar em 2008.
Fonte: MRS Logstica (2008).
Isto posto, pode-se dizer que o desenvolvimento e conseqente concluso deste trabalho
possibilitaro Unidade de Atendimento do Rio de Janeiro da MRS dispor de uma ferramenta
de suporte de deciso, que ser utilizada para avaliar as variaes de demanda do produto
siderrgico, ou mesmo quando houver um aumento de volume para este destino e carga.
5.3 A OPERAO FERROVIRIA.
A operao ferroviria tem incio no estado de Minas Gerais, onde ocorre o carregamento
do ferro gusa nos ptios de Sarzedo Novo e Murtinho. H apenas um carregamento por dia em
um dos ptios, nunca ocorrendo nos dois simultaneamente.
J o carregamento de produtos siderrgicos feito nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e So Paulo. Tem como origem os ptios de Manoel Feio (SP), Volta Redonda (RJ),
Murtinho e Dias Tavares (ambos em MG).
O trem que transporta o ferro gusa considerado unitrio por no realizar paradas para
anexao de vages durante seu percurso e por trazer consigo apenas os vages de ferro gusa.
-
53
O trem tipo, que utilizado no transporte de ferro gusa, composto por 3 locomotivas na
cabea do trem e mais 60 vages gndolas na cauda. Os vages hoje utilizados, quais
sejam, GPS, GFS, GDS, GDR e GQS, so cativos neste fluxo, em funo da grande demanda.
O trem que leva os vages de siderrgico at o ptio do Arar denominado trem de
carga geral, o qual realiza paradas durante seu trajeto para anexar e desanexar vages, sendo,
por este fato, comumente chamado de parador. Seu tempo de circulao na ferrovia um
pouco maior em relao aos demais, por ter que realizar tais atividades. Os vages utilizados
neste transporte so, basicamente, os plataformas liso.
Aps o carregamento das referidas mercadorias e seu transporte pela malha ferroviria,
nos moldes acima descritos, os vages chegam ao seu destino final, o ptio do Arar. Este o
momento crucial a partir do qual tem incio o presente trabalho, ou seja, a partir da chegada
dos trens carregados com ferro gusa e produtos siderrgicos ao Arar que a operao
ferroviria de manobras ser detalhadamente analisada.
Atualmente, chegam 2 trens por dia ao ptio do Arar (um carregado com ferro gusa e
outro com produto siderrgico). O trem que transporta ferro gusa chega sempre com 60
vages, enquanto o que traz produto siderrgico tem quantidade varivel de vages, cujo
nmero determinado segundo a necessidade do cliente, consoante se observa na TAB. 5.3.
TAB. 5.3 Estatstica do Nmero de Vages de Produtos Siderrgicos
transportados em cada Trem.
Fonte: MRS Logstica (2008).
Cadncia de chegadas N. de vages
Trem 1 5Trem 2 10Trem 3 15Trem 4 20Trem 5 25Trem 6 30Trem 7 35Trem 8 40Trem 9 45
Trem 10 50
-
54
Cumpre mencionar que o nmero de vages informado na TAB. 5.3 foi extrado com
base em uma relao histrica dos ltimos 8 meses, e no de 1 a 2 anos atrs, porque o
cenrio atual bem diferente daquele dos ltimos anos. Hoje, a demanda de produtos
siderrgicos est muito mais voltada para o mercado interno, principalmente para o estado de
So Paulo, mas h dias e semanas em que se podem registrar picos no descarregamento de
produtos siderrgicos destinados para exportao.
Aps a chegada dos trens ao ptio do Arar, os vages de gusa demoram 1 hora para
serem manobrados e entregues ao Alencastro. Os vages de siderrgico, por sua vez, gastam
150 minutos para serem manobrados e tambm entregues ao Alencastro.
Ressalta-se que o Alencastro um ptio de reteno de vages, tambm localizado no
porto do Rio de Janeiro, e utilizado com a finalidade de facilitar o posicionamento de vages e
aliviar o ptio do Arar. Sua capacidade o permite absorver 85 vages em suas 3 linhas, as
quais, somadas, totalizam 450m de extenso. Alm disso, est localizado mais prximo dos
terminais de descarga.
Com a entrega dos vages ao Alencastro, preciso que os mesmos fiquem aguardando
solicitao de posicionamento nos terminais dos armazns 8/9 ou no metlico. O armazm 8/9
o local onde ocorre a descarga dos vages de ferro gusa, que so trazidos para este armazm
em nmero de 8 a cada posicionamento, e o metlico onde ocorre a descarga dos vages de
produtos siderrgicos, sendo trazidos de 5 em 5 vages por posicionamento.
A restrio ao nmero de vages levados para os armazns a cada posicionamento
decorrente do pequeno comprimento da linha e da limitao da locomotiva, que no consegue
tracionar mais vages em virtude do excesso de peso.
O tempo de circulao (deslocamento) dos vages do Alencastro at o armazm 8/9 de
30 minutos, e do Alencastro at o metlico de 20 minutos, por posicionamento. Com a
entrada dos vages no ponto de descarga, o tempo gasto de 2 horas em ambas as pontas de
descarga, isto , tanto o ferro gusa (no Armazm 8/9) quanto o siderrgico (no metlico)
demandam 2 horas para serem descarregados.
-
55
Aps a execuo de toda a operao descrita, findo o descarregamento de ferro gusa e de
produtos siderrgicos, os vages vazios so novamente levados para o Alencastro, local onde
ficam aguardando at que uma locomotiva do ptio do Arar venha busc-los a fim de
retornarem s suas respectivas origens para um novo carregamento. Dessa forma, encerram-se
os ciclos dos vages de produtos siderrgicos e de ferro gusa, os quais esto representados nas
FIG. 5.3 (a) e 5.3 (b), respectivamente.
FIG. 5.3 (a) Diagrama do Ciclo dos Produtos Siderrgicos.
Fonte: MRS Logstica (2008).
CARGA
TTC TTV
DESCARGA
IEF
FVRFDMFDT
FAR
-
56
FIG. 5.3 (b) Diagrama do Ciclo do Ferro Gusa.
Fonte: MRS Logstica (2008).
5.4 MODELAGEM.
Ser utilizado o aplicativo Arena, que se baseia na simulao com emprego de tcnicas
matemticas em computadores, com o propsito de imitar uma atividade ou uma operao
real. Assim, para se realizar uma simulao preciso construir um modelo computacional que
corresponda real situao que se deseja simular.
Isto posto, o diagrama a seguir ilustrado pela FIG 5.4 representa as atividades ferrovirias
desenvolvidas no porto do Rio de Janeiro (operao real), as quais se pretende simular com o
auxlio do Arena.
CARGA
TTC TTV
DESCARGA
FDM OU FDT
FAR
-
57
s id e r u r g ic o sv a g o e s
C h e g a d a d e
g u s av a g o e s d e
C h e g a d a d e
E G u s a ?
E n t it y . T y p e = = G U S A
E ls e
A r m 3 0 ?T r u e
F a ls e
T r u e
F a ls e
M e t a lic o ?
G U S A 1L O C OS I N A L
A G U A R D A R
A R M 3 0T E R M I N A LG U S A D EV A Z I O S
R E T I R A D A
G U S AA R M 3 0
T E R M I N A L O C U P A
A R M 3 0T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
G U S AP O S I C I O N A M E N T O
A L E N C A S T R O3 0 P A R A
G U S A A R MC I R C U L A O
G U S AP A R A
L O C OL I B E R A
A le n c a s t r o 1V A Z I OG U S A
p o s ic io n a m e n t oM a n o b r a
G U S A 2L O C OS I N A L
A G U A R D A R
A R M 8 9T E R M I N A LG U S A D EV A Z I O S
R E T I R A D A
G U S AA R M 8 9
T E R M I N A LO C U P A
A R M 8 9T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
G U S AP O S I C I O N A M E N T O
A L E N C A S T R O8 9 P A R A
G U S A A R MC I R C U L A O
A le n c a s t r o 2V A Z I OS I D E R
p o s ic io n a m e n t oM a n o b r a
A R M 8 9T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
G U S AC I R C U L A O
A R M 3 0D E S O C U P A
A R M 8 9D E S O C U P A
v g s AR e t ir a d a d o s
S I D E R 1L O C OS I N A L
A G U A R D A R M E T A L I C OA R M
T E R M I N A LS I D E R D EV A Z I O S
R E T I R A D A
G U S AA R M M E T A L I C O
T E R M I N A L O C U P A
M E T A L I C OA R M
T E R M I N A LP A R A
C A R R E G A D OS I D E R
P O S I C I O N A M E N T O
A L E N C A S T R OP A R A
M E T A L I C OS I D E R A R M
C I R C U L A O
A le n c a s t r o 1V A Z I OS I D E R
p o s ic io n a m e n t oM a n o b r a
S I D E R 2L O C OS I N A L
A G U A R D A R
A R M 8 9T E R M I N A LS I D E R D EV A Z I O S
R E T I R A D A
S I D E RA R M 8 9
T E R M I N A LO C U P A
A R M 8 9T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
S I D E RP O S I C I O N A M E N T O
A L E N C A S T R O8 9 P A R A
S I D E R A R MC I R C U L A O
S I D E RP A R A
L O C OL I B E R A
A le n c a s t r oV A Z I OS I D E R
p o s ic io n a m e n t oM a n o b r a
A R M 8 9T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
S I D E RC I R C U L A O
A R M M E T A L I C OD E S O C U P A
A R M 8 9 2D E S O C U P A
M E T A L I C OA R M
T E R M I N A LP A R A
C A R R E G A D OS I D E R
C I R C U L A O
A R M 3 0T E R M
R E Q U I S T A R
A R M 8 9T E R M
R E Q U I S T A R
M E T A L I C OT E R M
R E Q U I S T A R
A R M 8 9 2T E R M
R E Q U I S T A R
lo t e s d e G u s aS e p a r a e m 8
O r ig in a l
D u p lic a t e
d e s id e rlo t e s d e 5 v g s
S e p a r a e m
O r ig in a l
D u p lic a t e
lo t et a m a n h o d o
A t r ib u i
o r ig in a l g u s aR e t ir a d a
o r ig in a l s id e rR e t ir a d a
D e c id e 9
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 1 0T r u e
F a ls e
D e c id e 1 1T r u e
F a ls e
D e c id e 1 2T r u e
F a ls e
D e c id e 1 3T r u e
F a ls e
D e c id e 1 8
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
G U S A A R M 3 0D E S C A R G A
G U S A A R M 8 9D E S C A R G A
A R M M E T A L I C OS I D E R
D E S C A R G A
S I D E R A R M 8 9D E S C A R G A
c h e g a d a AC o n t r o le 1
c h e g a d a BC o n t r o le 1
D e c id e 1 9
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 2 0
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls eD e c id e 2 1T r u e
F a ls e
A le n c a s t r oc a r r e g a d o
g u s ap o s ic io n a m e n t o
M a n o b r a
A le n c a s t r oc a r r e g a d o
s id e rp o s ic io n a m e n t o
M a n o b r a
G U S A 2P A R A
L O C OL I B E R A
v g s 2 AR e t ir a d a d o s
S I D E R 2P A R A
L O C OL I B E R A
D e c id e 2 2
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 2 3
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 2 4
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O G U S A 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 2 5
N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 1 . Q u e u e ) > = 1 | | N Q ( A G U A R D A R S I N A L L O C O S I D E R 2 . Q u e u e ) > = 1
E ls e
D e c id e 2 6T r u e
F a ls e
D e c id e 2 7T r u e
F a ls e
S A I D A S
v g s 2 BR e t ir a d a d o s
v g s BR e t ir a d a d o s
A R M 3 0T E R M I N A L
P A R AC A R R E G A D O
G U S AC I R C U L A O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
J u ly 8, 2 00 8 12:00:00
0
0
FIG. 5.4 Diagrama das Atividades Ferrovirias.
Fonte: MRS Logstica (2008).
Portanto, o processo ferrovirio retratado na FIG. 5.4 corresponde realidade da
operao desenvolvida no porto do Rio de Janeiro atravs de uma amostra representativa,
cujas atividades ferrovirias sero objeto de simulao neste trabalho.
De posse dos dados reais, o Arena ir analis-los e compar-los com todas as
distribuies estatsticas possveis, indicando aquela que melhor se adapta realidade. O
otimizador simula a evoluo do tempo e movimenta a entidade pelos caminhos e estaes.
As entidades so objetos que se movem atravs do sistema. Cada entidade po