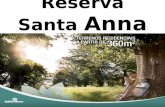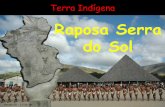Anna Chaves e Paulo Caetano
-
Upload
anna-cecilia-chaves -
Category
Documents
-
view
51 -
download
1
Transcript of Anna Chaves e Paulo Caetano

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
“GALINHAS, JUSTIÇA”, DE NUNO RAMOS:
as condicionantes de um crime como um arquivo ignorado
Anna Cecília Santos Chaves
[email protected] Universidade de São Paulo
Paulo Roberto Barreto Caetano
[email protected] Universidade Federal de Minas Gerais
Nuno Ramos nasceu em São Paulo, em 1960. Artisticamente versátil, “é pintor,
desenhista, escultor, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor.”¹ Em 2009, recebeu o
Prêmio Portugal Telecom por Ó, cuja sofisticação literária faz-se notar, entre outros aspectos,
por suas consistentes reflexões, pela singularidade de sua “escrita-devaneio” e pela aptidão
de seus textos de transcenderem o formato de gêneros específicos.²
Uma das características que merece análise nesse livro diz respeito ao uso da
enumeração caótica. Estabelecendo um rico diálogo com autores que se servem desse
expediente (tais como Quevedo, Walt Whitman, Jorge Luis Borges, Ítalo Calvino, Georges
Perec), o “narrador” de Ó confere um tratamento sofisticado a tal recurso. Para além dos
objetivos de sondagem de uma plenitude, de um infinito ou, ainda, para além do desejo de
subverter o ilusório processo humano de classificar o que o rodeia, muitos dos itens que são
elencados são alçados a uma materialidade que parece sutilmente discutir o alcance da
linguagem.
Seria possível pensar, então, que a enumeração caótica diz respeito a uma tentativa de
expressão do entorno diverso e multifacetado. Michel Foucault, em As palavras e as coisas,

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
55 trata dessa questão, tecendo reflexões acerca do modo como a enumeração é feita, a partir da
emblemática lista presente em “O idioma analítico de John Wilkins”, de Jorge Luis Borges.
Em seu texto, Borges cita uma classificação de espécies animais oriunda das “remotas
páginas” de uma enciclopédia chinesa: “(...) os animais se dividem em (a) pertencentes ao
imperador, (b) embalsamados, (c) amestrados, (d) leitões, (e) sereias, (f) fabulosos, (g) cães
soltos, (h) incluídos nesta classificação, (i) que se agitam como loucos, (j) inumeráveis (...)”
(BORGES, 1999, p. 94).
Para Michel Foucault, essa lista é risível ao olhar de um ocidental do século XX. Com tal
afirmação, ele desloca o foco de sua análise do aparente insólito dessa classificação para um
olhar pasteurizado do leitor europeu (ou europeizado). A citação acima permite ver um
processo demarcatório: o do mesmo e o do outro. A China, até então como um lugar do
exótico, é fonte dessa rotulação.
Assim, a enumeração permite ao leitor entrever forças legitimadoras contidas no
discurso: aquele que cria a classificação concebe poder exprimi-la sob determinados critérios
por ele escolhidos (talvez caprichosos, talvez pouco rigorosos, talvez ricos em imaginação); o
leitor, por sua vez, ao lançar um olhar sobre a enumeração também traz consigo uma
operação de poder: ao qualificá-la como (im)pertinente, ou mesmo (des)considerá-la, ele
(des)legitima o processo enumeratório e seus arranjos sistemáticos.
O prefácio de As palavras e as coisas discute essas intricadas relações de legitimação.
Foucault afirma que os seres enumerados encontram-se no não-lugar (imaterial, inexistente)
da linguagem. E é esta que permite que “códigos fundamentais de uma cultura”
(FOUCAULT, 2007, p. XVI) instaurem uma ordem. Códigos esses que regem a linguagem, os
esquemas da percepção, as trocas, as técnicas, os valores, e que, juntamente com teorias
(científicas, filosóficas), reafirmam e explicam o modo como se organiza o entorno. Regendo
técnicas, trocas e afins, os códigos que perpassam o plano imaterial da linguagem enformam
práticas sociais.
Portanto, a epistémê, onde os conhecimentos tais como são estão estabelecidos,
manifesta o que o filósofo francês chamou de uma história de suas “condições de
possibilidades” (FOUCAULT, 2007, p. XIX). Assim, seu modo de ser evidencia seus limites. E

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
56 o ato de listar parece ser por vezes produto de uma organização a priori, mas tal alistamento
também parece ter uma propriedade de enformar. Dessa maneira, faz-se importante discutir
as funções das enumerações e o modo como elas são concebidas.
Em “Galinhas, justiça”, objeto de análise deste texto,³ há enumerações que parecem
reclamar um lugar de menos indiferença. No caso, o enunciador “levanta uma bandeira”: a da
relevância do vasto contexto que precede o crime. Assim, ele sugere que a sentença judicial
consubstancia uma instância de esquecimento das condicionantes do ato delituoso. Contudo,
antes de chegar a essa contundente provocação, o texto é aberto tratando de algo talvez tão
comum quanto os crimes: galinhas.
Os habitáculos (de lojas, de caminhões, etc.) que encerram multidões comprimidas de
animais recebem o olhar desse narrador, que sente aversão a essas clausuras: “(...) há ainda
nas feiras ou mercados de periferia, lojas macabras onde ficam amontoadas, num cubo de
penas e cacarejos, esperando para morrer.” (RAMOS, 2010, p. 73-74). Para essa voz analítica
e opinativa, a impossibilidade de movimentação – consequência da compressão física –
causaria mais horror do que a própria degola. Por essa razão, ela reclama para todos os seres
o direito à locomoção: “é preciso renunciar à compressão física como castigo”. (RAMOS,
2010, p. 80).
É nesse “momento” do “conto” que ocorre uma das passagens temáticas – aspecto
recorrente em Ó. A maioria dos “contos” desse livro possui um título composto por uma
enumeração de assuntos díspares (“Manchas na pele, linguagem”, “Perder tempo, vontade,
uma cena escura”, dentre vários outros), e uma das características notáveis dessas
“narrativas” é o modo quase imperceptível com que o enunciador faz a passagem de um tema
para outro. No caso de “Galinhas, justiça”, é com a aproximação entre multidão no galinheiro
e multidão nas prisões, que a voz desse “ensaio literário” tratará dos veredictos como forças
homogeneizadoras, restando ao preso as tatuagens e cicatrizes como expressões identitárias.
O enunciador afirma que mais do que uniformizar indivíduos e suas ações, a sentença
judicial lançaria um olhar estanque sobre o crime. Segundo ele, a justiça não passaria de um
recorte indiferente ao passado e às condicionantes do ato criminoso. Isso seria feito à revelia
de uma longa e intricada cadeia de eventos que teria culminado na ação delituosa:

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
57
A sentença, para que sentencie, precisa encarar cada sentenciado um pouco como uma ave no galinheiro, sem especificar a cor de sua penugem, as notas de seu canto nem o tom de seu penacho. Deve ignorar a longa cadeia causal que elevou ao ato ilegítimo que, caso fosse reconstruído minuciosamente, acabaria quase sempre por justificar-se. Pois mesmo o pior assassino, visto de muito perto, torna-se um homem comum, e seu ato vai aos poucos deixando de ser dele, resultando de uma escolha sua, única, monstruosa, para pertencer ao ciclo de condicionantes que o levaram a fazer aquilo. (RAMOS, 201o, p. 82–83).
A citação aponta para uma crítica da justiça institucionalizada, cujo exercício operaria
um esquecimento proposital. A argumentação desloca do criminoso a plenitude da culpa
para distribuí-la na longa e difusa cadeia de eventos que precedem o delito. Segundo esse
enunciador, tal série de acontecimentos seria desconsiderada deliberadamente na atuação
judicial.
Cabe dizer, no entanto, que, se para o enunciador, a vida pretérita do criminoso é
dotada de uma aptidão absolutória em relação ao delito – “um estrangulador, um violador de
crianças, acompanhado desde a infância parecerá talvez uma vítima de seu destino, ao invés
de autor” (RAMOS, 2010, p. 83) –, a lógica do sistema de justiça criminal se estrutura de
maneira inversa. Embora lance seu foco sobre o ato delituoso, pois é a ação antijurídica que
faz nascer a intervenção estatal, a sentença não desconsidera os eventos ocorridos no passado
do réu. Conforme analisa Ana Lúcia Schritzmeyer, durante o processo e julgamento “a vida
do acusado é resumida e representada, a partir de marcas criminais ou da ausência delas.”
(SCHRITZMEYER, 2001, p. 103).
O Código Penal, ao orientar o julgador na mensuração da pena entre o mínimo e
máximo estabelecidos em cada tipo penal, deixa expresso que ele deverá fazê-lo “atendendo à
culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima”. A partir
dessa análise, deverá estabelecer o quantum e a forma de cumprimento da pena “conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Assim, “se o réu ou ré possui registros de passagens anteriores pela polícia,
antecedentes criminais ou mesmo provas testemunhais de que seu comportamento é
‘condenável’, isso lhe será desfavorável.” (SCHRITZMEYER, 2001, p. 103-104). Réus que não
possuem qualidades socialmente valorizadas, como a de serem trabalhadores, honestos ou

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
58 pais responsáveis, “ficam mais vulneráveis aos ataques da acusação, pois o desenrolar de
suas vidas é enfatizado a partir desses aspectos, de modo que o comportamento criminal
surge, ‘naturalmente’, como consequência do mau comportamento social.”
(SCHRITZMEYER, 2001, p. 104).
Nesse contexto surgem as chamadas “testemunhas de beatificação”, ou “abonatórias”
ou ainda “testemunhas de caráter”. Isso porque seu depoimento se limita a fornecer ao
julgador elementos relativos a características de personalidade do réu, de sua vida pregressa
e de sua forma de se conduzir em seu meio social, deixando de ser um meio probatório
tradicional porque não guarda ligação direta com os fatos a ele imputados. É uma espécie de
testemunho bastante comum e busca carrear ao processo elementos que exorbitam a
objetividade da análise seca do ato delituoso. Entretanto, trata-se de uma avaliação parcial,
perpassada pelo subjetivismo inerente à qualidade das relações pretéritas entre o réu e tais
testemunhas.
Assim, num processo criminal, “o resumo da vida dos réus é pautado por essas
características”. (SCHRITZMEYER, 2001, p. 103). Defensores tentam ressaltar aspectos
virtuosos e acusadores ressaltam as qualidades opostas, de modo a que o julgador possa
perceber o ato delituoso em análise como apenas a culminação de uma cadeia de eventos
socialmente desviantes ou uma excepcionalidade dentro de um contexto de probidade. Essa
percepção é a balança do julgador.
Nesse sentido, Schritzmeyer aponta que “a manipulação dessas marcas sociais é que
está em jogo em qualquer julgamento”. Na duração de um processo e no curto espaço de
tempo reflexivo que culminará na decisão do julgador, serão resumidos “anos e modos de
vida que justificarão passagens da liberdade ao aprisionamento ou vice-versa”. A lógica dos
bons e maus comportamentos é aquela que orientará “a construção do tempo das vidas dos
réus (...) e disso dependerá o desfecho dos julgamentos”. (SCHRITZMEYER, 2001, p. 103-
104). Tal percepção se coaduna com a reflexão do enunciador em “Galinhas, justiça”,
segundo o qual “talvez a própria ideia de justiça comungue com esse movimento de
compressão, se não física, simbólica, aplicada a cada uma das histórias a ser julgadas”.
(RAMOS, 2010, p. 82).

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
59 Os processos judiciais são, portanto, montagens narrativas que se conduzem segundo
uma lógica linear, absolutamente despida de complexidades, repleta de classificações
estereotipadas que se fundam na oposição entre princípios bons e ruins, e análises simplórias
acerca da organização e do funcionamento da vida social.
Ao longo do processo, a vida pré-crime do réu é filtrada segundo esses parâmetros e
de acordo aos interesses defendidos pelas partes. O velho axioma jurídico segundo o qual “o
que não está nos autos não está no mundo” retrata o chamado “processo de representação”,
conceito cunhado por Clifford Geertz. Para o antropólogo norte-americano,
a descrição de um fato de tal forma que possibilite aos advogados defendê-lo, aos juízes ouvi-lo, e aos jurados selecioná-lo, nada mais é do que uma representação: como em qualquer comércio, ciência ou culto, ou arte, o direito, que tem um pouco de todos eles, apresenta um mundo no qual suas próprias descrições fazem sentido. (...) A parte “jurídica” do mundo não é simplesmente um conjunto de normas, regulamentos, princípios, e valores limitados, que geram tudo que tenha a ver com o direito, desde decisões do júri até eventos destilados, e sim parte de uma maneira específica de imaginar a realidade. Trata-se, basicamente, não do que aconteceu, e sim do que acontece aos olhos do direito. (GEERTZ, 1997, 258-259)
Nessa esteira, afirma que “seja lá o que for que o direito busque, certamente não é a
estória real e completa” (GEERTZ, 1997, 258-259). Ou seja, são operados, no processo e na
sentença, recortes da vida do réu que denotam esquecimentos seletivos. Permanecem vívidos
fatos pretéritos e características pessoais que robusteçam convicções consoantes aos papéis
jurídicos desempenhados. As demais informações, quando contrárias às percepções que
fundamentaram o arcabouço de argumentações e a própria decisão judicial, são relegadas ao
esquecimento.
Harald Weinrich, em “Lete: arte e crítica do esquecimento”, trata do caráter
fronteiriço do esquecimento: como uma operação que pode ser ativa ou passiva, ou seja,
como ação que pode ser feita conscientemente ou não. O filólogo alemão abre seu texto
usando da etimologia a fim de ver como isso se daria, inicialmente, na linguagem, concluindo
que a origem da palavra “esquecer”, em idiomas diversos, traz em seu bojo o significado de
algo que está latente, dissimulado.
Weinrich ainda busca na psicanálise exemplos sobre a “parcialidade no
esquecimento”. Ele lembra que Sigmund Freud concebe o inconsciente como uma ante-sala

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
60 que é censurada pelas emoções – que funciona como uma sentinela que coíbe a entrada no
salão da consciência: “O inconsciente é algo ex-sabido que foi esquecido, mas que nem por
isso desapareceu do mundo. Continua formando uma camada ‘latente’ da alma”.
(WEINRICH, 2001, p. 188). Dessa maneira, Freud afirma que o que aconteceu com o
indivíduo continuaria enformando-o, mesmo que ele não perceba, pois tal atuação seria da
ordem do inconsciente.
A memória como depositário é, como dito por Weinrich, metáfora preciosa para
Freud. Esse lugar onde os mais diversos eventos, sensações, etc., são amontoados seria
responsável por dar forma ao indivíduo. Em consonância com tal potencial, o enunciador de
“Galinhas, justiça” trabalha com a enumeração caótica para evidenciar a força e disparidade
dos acontecimentos enformadores, para mostrar ainda os (des)limites da linguagem que
tentaria encerrar esses episódios. Como um valioso arquivo, a enumeração nesse texto de
Nuno Ramos lida com esses elementos relegados.
A necessidade de ignorar o arquivo que consubstancia a integralidade da cadeia
causal de acontecimentos anteriores ao crime, deriva, para o enunciador de “Galinhas,
justiça”, do binômio poder/dever do Estado de julgar e aplicar penas. A recomposição
integral da vida do réu no durar de um processo é tarefa impossível, já que ao julgador
chegam informações selecionadas, moldadas, fragmentadas, e é por meio desses cacos de
existência e de características atribuídas a uma suposta essência da personalidade do réu que
o julgador decide. Por essas razões, o enunciador conclui que “toda justiça é aplicada a um
segmento isolado, a uma parte apenas da intrincada cadeia da liberdade humana, e neste
sentido talvez seja correto dizer que toda justiça é parcial.” (RAMOS, 2010, p. 83).
Atentos à necessidade de apreciação mais cuidadosa, pelo sistema jurídico penal,
desse arquivo de condicionantes do crime, Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli elaboraram a Teoria da Coculpabilidade do Estado, de acordo com a qual os
sujeitos atuam segundo uma dada circunstância e com dado âmbito de autodeterminação. O
Estado exerce influências neste último âmbito, já que não dispõe de meios de garantir a todos
os seus integrantes iguais oportunidades. Consequentemente, sujeitos que se formam em
contextos de privação de direitos seriam indivíduos com menor âmbito de autodeterminação,

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
61 ou seja, seu livre-arbítrio, instituto sobre o qual se fundamenta e legitima a punição penal, é
reduzido.
Por essa razão, não poderia o Estado imprimir o mesmo grau de reprovação na
apreciação da culpabilidade dos réus, ou estaria sobrecarregando-os também com sua
inépcia em fornecer direitos iguais a todos os cidadãos. Da omissão do Estado nasce, pois, a
sua coculpabilidade. Nessa teoria, o contexto em que se construiu a existência do réu é
dotado de um peso que exorbita a lógica simplista do bom e mau agir: “(...) para ser
efetivamente justa, [uma sentença deveria] examinar o caso desde o nascimento. Ao invés
disso, condenamos um único ato (o crime), isolado da naturalidade que o viu nascer”
(RAMOS, 2010, p. 84-85).
Notas
¹ Disponível em <http://nunoramos.com.br/portu/biografia.asp>. Acesso em: 08/08/2012.
² Os textos não se permitem reduzir a classificações como “contos” ou “ensaios”. O próprio autor, em entrevista à Revista Cult, fez um gracejo relativamente a essa questão, ao dizer que eles seriam “falsos ensaios”, “ensaios amalucados”, num esforço de não se fazer uma “prosa de ateliê”.
³ Este texto é uma versão preliminar, desenvolvida para apresentação no Colóquio Internacional Crimes, Delitos e Transgressões de 2012, em cujos anais faz-se veicular a presente publicação. O trabalho completo será publicado posteriormente, em livro a ser organizado pelos autores, no qual serão abordadas relações entre Literatura e Direito.
Referências
BORGES, Jorge Luis. O idioma analítico de John Wilkins. In: BORGES, Jorge Luis. Outras
inquisições. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2001. GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Trad. Vera
Mello Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 1997. RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras, 2010. SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore. Controlando o poder de matar: uma leitura
antropológica do Tribunal do Júri – ritual lúdico e teatralizado, 2001. 284f. Tese (Doutorado em Antropologia do Direito) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

Colóquio Internacional | Crimes, Delitos e Transgressões
62 WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica do esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001. Entrevista com Nuno Ramos. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/
entrevista-com-nuno-ramos/>. Acesso em: 18/06/12.