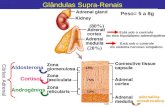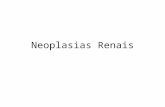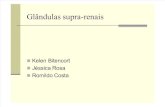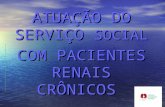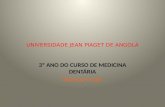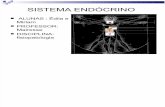Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos
Click here to load reader
-
Upload
lucianafsalles -
Category
Documents
-
view
57 -
download
3
Transcript of Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS

2
Resumo
A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de saúde séria, podendo estar associada à
depressão e a ansiedade. O estudo teve como objetivo investigar a presença de depressão e
ansiedade em pacientes em fase pré-dialítica. Um estudo transversal foi realizado em 140
pacientes através das Escalas Beck de Depressão e Ansiedade. Foram encontrados graus
significativos de depressão (43%) e ansiedade (37,2%). Observou-se correlação positiva entre
depressão e ansiedade (p=0,001), e negativa entre ansiedade e idade (p=0,02). As mulheres
apresentavam maiores escores de ansiedade (p=0,03), que se associou com o estágio da DRC
(p=0,04). Concluiu-se que a DRC está associada à depressão e ansiedade, que precisam ser
diagnosticadas precocemente para que possam ocorrer melhorias na qualidade de vida destes
pacientes.
Palavras-chave: ansiedade; depressão; doença renal crônica

3
ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Abstract
Chronic Kidney Disease (CKD) is a serious health condition and may be associated with
depression and anxiety. The study aimed to investigate the presence of depression and anxiety in
patients with pre-dialysis. A survey was conducted in 140 patients using the Beck Scale for
Depression and Anxiety. We found significant levels of depression (43%) and anxiety (37.2%).
We observed a positive correlation between depression and anxiety (p=0,001), and negative
correlation between anxiety and age (p=0,02). Women had higher anxiety scores (p=0,03), which
was associated with the stage of CKD (p=0,04). We conclude that CKD is associated with
depression and anxiety, which must be diagnosed early so that improvements can occur in the
quality of life.
Keywords: anxiety; depression; chronic kidney disease

4
Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos
Introdução
O diagnóstico da doença renal crônica (DRC) é caracterizado pela diminuição da função
renal e sua evolução é marcada por estágios, caracterizando-se o estágio 1 da doença por um
ritmo de filtração glomerular (RFG) ≥ 90 mL/min/1,73m2 (funcionamento renal normal), estágio
2 um RFG entre 60-89 (diminuição leve do funcionamento renal), estágio 3 um RFG de 30 a 59
(diminuição moderada do funcionamento renal), estágio 4 um RFG entre 15-29 (diminuição
severa do funcionamento renal) e estágio 5 um RFG < 15 (falência renal; inclui tanto a fase pré-
dialítica como a terapia renal substitutiva, onde os rins perdem o controle do meio interno, e é
necessária uma terapia renal substitutiva ou um transplante (K/DOQI, 2002; Romão Junior,
2004).
As intervenções em saúde mental junto a pacientes renais crônicos em fase pré-dialítica
(estágio 1 a 5) são pautadas na profilaxia e tratamento, auxiliando o paciente na escolha da
modalidade de terapia renal substitutiva (hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal) de
acordo com seu perfil psicossocial (Almeida, 2003).
Pacientes com DRC podem apresentar sintomas como os de depressão e ansiedade, o que
pode reduzir a aderência ao tratamento, influenciar negativamente a qualidade de vida, além de
aumentar o risco de desfechos desfavoráveis, como hospitalização e morte, independente da
presença de comorbidades e da gravidade da doença (Hedayati, Minhajuddin, Afshar, Trivedi &
Rush, 2010). A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequente em pacientes renais, porém
muitas vezes é subdiagnosticada. Ela pode influenciar não somente a adesão ao tratamento, mas

5
também a qualidade de vida desta população (Almeida & Meleiro, 2000). Além disso, a
depressão pode estar associada a maior risco de declínio da taxa de filtração glomerular,
impactando, assim, na evolução da doença. (Kop et al., 2011).
Apesar de sua alta prevalência entre pacientes renais crônicos, a depressão é muitas vezes
de difícil avaliação e tratamento. A ansiedade é também uma comorbidade muito comum em
pacientes com DRC e pode ter um impacto negativo na qualidade de vida (Cukor et al ., 2008). A
presença de sintomas como os de ansiedade entre portadores da doença podem ser indicativos de
que transtornos psicopatológicos possam ser mais frequentes do que se espera previamente, e por
isso necessitam de tratamento adequado (Cukor et al., 2007). Além disso, problemas familiares e
conjugais e baixo nível sócio-econômico podem influenciar no estado de saúde de pacientes
renais crônicos e nos resultados do tratamento (Cukor, Cohen, Peterson & Kimmel, 2007).
Porém, percebe-se uma tendência na literatura ao direcionamento para estudos com
pacientes já submetidos ao tratamento dialítico ou em transplante renal, havendo escassez de
dados relacionados à saúde mental de pacientes em fase pré-dialítica.
Em função disto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a presença de sintomas de
depressão e ansiedade entre os pacientes que são acompanhados pelo Serviço de Psicologia em
um ambulatório de prevenção e tratamento da doença renal pré-dialítica e a relação entre estes
transtornos. Como objetivo específico buscou-se analisar a associação entre depressão, ansiedade
e aspectos sócio-demográficos e clínicos.
Métodos
Amostra: Estudo quantitativo de corte transversal, sendo avaliados 140 pacientes
portadores de DRC em fase pré-dialítica, acompanhados no PREVENRIM (Programa
Interdisciplinar de Prevenção e Tratamento de Doenças Renais), ambulatório pertencente ao

6
Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (NIEPEN) da Fundação IMEPEN,
vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foram avaliados todos os pacientes em
consulta no Serviço de Psicologia no programa PREVENRIM no ano de 2009, que aceitaram
participar do estudo, maiores de 18 anos.
Instrumentos: Para a avaliação da depressão foi utilizada a versão em português do
Inventário de Depressão de Beck -BDI (Cunha, 2001), que consiste em uma escala de auto-
avaliação, com 21 itens incluindo sintomas e atitudes, que visa medir o grau de depressão. A
intensidade varia de 0 a 3, sendo que 0-11 é considerado grau mínimo, 12-19 leve, 20-35
moderado, 36-63 grave. Os itens referem-se a tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de
satisfação, sensação de culpa, punição, auto-depreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crise de
choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção do sono, fadiga, perda de apetite, peso,
diminuição da libido e preocupações somáticas.
O Inventário de Depressão de Beck encontra-se entre os principais instrumentos usados
para triagem de sintomas depressivos em pacientes renais crônicos. (Cohen, Norris, Acquaviva,
Peterson & Kimmel, 2007).
Para a avaliação de ansiedade foi utilizada a versão em português do Questionário de
Ansiedade de Beck -BAI (Cunha, 2001), que é uma escala de auto avaliação com 21 itens, que
contém sintomas comuns de ansiedade, principalmente sintomas fisiológicos. Sua intensidade
varia de 0 a 3 , onde 0-10 expressa grau mínimo, 11-19 leve, 20-30 moderado, e 31-63 grave. Os
itens referem-se a dormência, sensação de calor, tremores, capacidade de relaxamento, medo,
tonturas, equilíbrio, nervosismo, dificuldade de respirar, indigestão, sensação de desmaio e suor.
Em ambos os questionários não se considerou o grau mínimo como significativo de
sintomas de depressão e ansiedade.

7
Além das avaliações de depressão e ansiedade foram analisadas as variáveis: idade, sexo,
escolaridade, estado civil, profissão e estágio da doença, que foram colhidas através dos registros
nos prontuários dos pacientes.
Procedimentos: Os questionários foram aplicados individualmente pelos pesquisadores
durante as consultas dos pacientes no PREVENRIM, programa que se caracteriza pela
intervenção precoce, pois acompanha o paciente do início da doença até sua entrada em diálise ou
transplante. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais,
educador físico, dentista, farmacêutico e nutricionistas. Assim, o programa fornece informações
maiores sobre a doença, reforça a importância do tratamento e a sua adesão, e prepara melhor
fisica e psicologicamente os pacientes para a terapia renal substitutiva. (Santos et al., 2008). A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Federal de
Juiz de Fora, seguindo-se os preceitos da Resolução 196/96 (protocolo número 0089/09). Os
participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Análise estatística: Foi realizada análise exploratória dos dados através de estatística
descritiva, no intuito de apresentar os principais resultados, como também definir o perfil dos
pacientes que participaram do estudo. Foi realizada análise dos escores de depressão e ansiedade
e as variáveis: idade (através da Correlação de Pearson), escolaridade e estágio da doença (Qui-
Quadrado), sexo e ocupação (Teste T para Amostras Independentes). Para avaliar a associação
com estágio da doença e escolaridade utilizou-se os graus de depressão e ansiedade (mínimo,
leve, moderado e grave) e para as demais variáveis foram utilizados os escores brutos.
Foi considerado significante p<0,05.
Resultados

8
O perfil da amostra pode ser visualizado na Tabela 1. Entre os pacientes avaliados, 52,9%
eram do sexo masculino. Pode-se observar que a média de idade dos pacientes avaliados foi de 59
15 anos. A escolaridade da amostra era baixa, uma vez que a maioria possuía apenas o ensino
fundamental (61,4%) e médio (19,3%). A maioria dos pacientes analisados eram casados (55,2%)
e viúvos (22,1%). Em relação à situação laboral constatou-se que a maioria (46,8%) eram
aposentados e apenas 23,6% exerciam atividade laborativa. A respeito do uso de psicofármacos,
pode-se que 85,7% faziam uso de ansiolíticos, seguidos de antidepressivos (14,3%). Pode-se
perceber que a maioria dos pacientes encontravam-se nos estágio 3 (40,1%) e 4 (32,9%),
seguidos dos estágios 5 (13,8%), 2 (11,8%) e 1 (1,3%). Com relação à presença de depressão e
ansiedade, a média dos escores do BDI foi de 11,15 8,33 e do BAI de 10,34 8,22.
Tabela 1
Quando os escores são divididos em graus dos transtornos acima citados, pode-se
observar que 43% dos pacientes apresentavam algum grau de depressão, sendo que 27,7%
apresentavam grau leve, 14,6% moderado e 0,7% grave, uma vez que o grau mínimo não foi
considerado a partir do ponto de corte em 11 pontos. Um percentual também significativo
(37,2%) foi observado com relação à presença de sintomas de ansiedade. (TABELAS 2 e 3).
Tabela 2
Tabela 3
Outro aspecto observado foi a correlação positiva (p=0,001) entre depressão e ansiedade,
ou seja, a medida que há a presença de sintomas depressivos, há também o aumento dos sintomas
de ansiedade.
Não foi encontrada correlação entre os escores de depressão e a idade (p=0,47). Porém,
foi observada correlação negativa entre os escores de ansiedade e a idade (p=0,02), ou seja,

9
quanto maior a idade, menores os níveis de ansiedade, o que nos aponta maior presença de
sintomas ansiosos nos pacientes mais jovens da amostra.
Comparando-se os resultados de depressão entre homens e mulheres, não foi encontrada
diferença significativa entre os dois grupos (p=0,85). Por outro lado, houve diferença
significativa entre homens e mulheres no que diz respeito à ansiedade (p=0,03), sendo que as
mulheres apresentavam os maiores escores. Comparando-se pacientes que trabalhavam com
aqueles que não tinham atividade laborativa no período do estudo em função de desemprego ou
aposentadoria, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos
com relação à presença de depressão ou ansiedade.
Ao se avaliar a associação entre depressão, ansiedade e nível de escolaridade, foi
observado que a depressão leve e moderada foi mais frequente nos pacientes que possuíam
ensino médio e fundamental (p=0,001). Por outro lado, não foi encontrado resultado significativo
com relação à ansiedade (p=0,22).
Além disso, não foi observada associação significativa entre grau de depressão e estágio
da DRC (p=0,56). Porém, o estágio se associou com o grau de ansiedade (p=0,04), sendo que nos
graus leve e moderado de ansiedade havia mais pacientes nos estágios 3 e 4 da DRC.
Discussão
A hipótese deste estudo era avaliar a presença de sintomas de ansiedade e depressão em
renais crônicos em tratamento conservador, o que foi corroborado pela prevalência de 43% de
sintomas de depressão e 37% de sintomas de ansiedade na amostra. Considera-se um percentual
significativo, se consideramos que os pacientes avaliados ainda se encontram em fase pré-
dialítica. Em geral encontram-se na literatura estudos voltados apenas para a prevalência de
depressão e ansiedade em pacientes renais crônicos já em terapia renal substitutiva. No Brasil há

10
poucas pesquisas relacionadas à saúde mental de pacientes renais em fase pré-dialítica, uma vez
que ainda é comum a prática da Psicologia direcionada apenas a pacientes em condições crônicas
mais avançadas, com pouco investimento nos trabalhos de prevenção. Em trabalho realizado com
pacientes brasileiros em hemodiálise Duarte, Mattevi, Berlim, Morsch, Thome e Fleck (2000)
encontraram uma prevalência de 24,39% de depressão maior, 12,19% apresentavam remissão
parcial de transtorno depressivo maior, 9,76% apresentavam transtorno depressivo menor e
12,19% apresentavam distimia. Na literatura existe uma grande variação na prevalência de
depressão em pacientes com DRC, o que dependerá do instrumento utilizado para estabelecer o
diagnóstico. Neste estudo, utilizou-se o inventário de Beck, pois ele representa a medida de auto-
avaliação de depressão mais usada em pesquisa clínica. De acordo com o “Center for Cognitive
Therapy”, um escore de dez ou mais pontos já é sugestivo de depressão (Castro et al., 2007).
Entre os pesquisados, 55,2% dos pacientes eram casados, o que demonstra a existência da
possibilidade de suporte familiar. Estudos apontam que existe forte relação entre suporte
social/familiar com melhora da qualidade de vida. O suporte social influencia o comparecimento
nas sessões de hemodiálise em pacientes em terapia renal substitutiva, estando relacionado à
mortalidade e à adesão ao tratamento. O suporte social em renais crônicos tem uma ação
preventiva sobre os efeitos negativos em situações de estresse elevado. O mesmo se dá em
relação ao suporte familiar, uma vez que a família, ou a relação de casal, está incluída na rede de
suporte desses pacientes, o que pode influenciar positivamente na saúde. A segunda estratégia de
enfrentamento mais utilizada entre pacientes submetidos a transplante renal é a busca de um
suporte social e familiar, que funciona como um redutor de estresse e indica tendência a utilizar
enfrentamento externo para lidar com as dificuldades (Zimmermann, Carvalho & Mari, 2004).
A respeito da atividade laborativa, constatou-se em nosso estudo que a maioria dos
pacientes eram aposentados (46,8%). É importante considerar que a DRC é incapacitante a médio

11
e longo prazo, principalmente associada a outras doenças de base como diabetes, lúpus e
hipertensão arterial. Em estudo realizado por Silva, Pereira, Martinelli e Rocha (1995) observou-
se que o desemprego entre o portador de DRC é um problema extremamente freqüente em nosso
meio, principalmente em pacientes que estão em programas de diálise regular. Os autores
destacam que pacientes em diálise peritoneal se encontram em menor risco de desemprego, pois
este tipo de terapia renal substitutiva possibilita ao paciente uma maior autonomia. Comparando-
se hemodiálise com diálise peritoneal, os pacientes em diálise peritoneal têm maior probabilidade
de atividade profissional (chances de até 2,6 vezes) que pacientes em programa crônico de
hemodiálise. Em nosso estudo não se pode atribuir a aposentadoria apenas à doença, mas também
ao envelhecimento, uma vez que a média de idade dos entrevistados era de 59 anos.
No que se refere à utilização de psicofármacos, observamos um uso significativo,
prevalecendo os ansiolíticos, seguidos de antidepressivos. Sabe-se que há um aumento do uso de
psicofármacos na população em geral. O consumo de antidepressivos e ansiolíticos vêm
crescendo, sendo vinculado a necessidades e sintomas, não se analisando muitas vezes suas
origens e causas. Um fato importante a ser destacado é que 37,2% dos pacientes apresentavam
ansiedade, mas 85,7% utilizavam ansiolítico.
A média de idade dos entrevistados foi de 59 anos, e em geral, observa-se que na medida
em que a idade aumenta, uma série de fatores ocorrem concomitantemente, como maior
probabilidade de comorbidades, incidência de depressão, perdas, dentre outros. No presente
estudo não encontramos relação entre depressão e idade, porém, foi observado que quanto maior
a idade, menores os níveis de ansiedade, o que nos aponta maior presença de sintomas ansiosos
em pacientes mais jovens.
Houve uma diferença significativa entre homens e mulheres no que diz respeito à
ansiedade, sendo que as mulheres se apresentam mais ansiosas que os homens, já em relação à

12
depressão não houve diferença entre os dois grupos. Segundo Kinrys e Wygant (2005), mulheres
apresentam risco maior comparadas aos homens para o desenvolvimento de transtornos de
ansiedade. De acordo com pesquisas realizadas na população geral dos Estados Unidos da
América (EUA), as mulheres têm probabilidade significativamente maior de desenvolver
Transtornos do Pânico, Transtornos de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno do Estresse
pós Traumático (TEPT); os dados de tal estudo sugerem que os hormônios sexuais femininos e
seu ciclo podem influenciar o desenvolvimento e o curso de sintomas de ansiedade. Mulheres
com transtornos de ansiedade relatam maior gravidade dos sintomas e tendem a apresentar com
mais freqüência uma ou mais comorbidades psiquiátricas em comparação aos homens. As
mulheres com DRC geralmente tem ciclos irregulares, o que pode provocar uma alteração do
estado de humor, a prevalência de disfunção ovariana é bastante alta, além de altos níveis de
prolactina. Já na mulher transplantada ocorre uma melhora na fertilidade, o que pode estabilizar
os níveis de humor (Gassen, Herter, Garcia, Marroni, Milagre & Barros, 2009).
Estudos revelam que na população geral quadros de pânico e transtornos de ansiedade são
mais associados ao sexo feminino, pacientes jovens e de baixo status socioeconômico.
Adolescentes com DRC possuem índices mais elevados de queixas associadas à ansiedade. Os
sintomas ansiosos podem se dar devido à ansiedade antecipatória ao tratamento e adaptação
frente a este. Pesquisas apontam que os jovens com DRC estão em maior risco para a alteração
do bem-estar psicológico, pois não só necessitam se confrontar com os processos do
desenvolvimento normal e as dificuldades a ele associadas, como precisam cumprir exigências
adicionais que a doença lhes coloca. Alguns processos que ocorrem tipicamente na adolescência
podem sofrer alterações e mudanças quando se trata de um paciente renal crônico (Bizarro,
2001).

13
É sabido que existe uma relação entre ocupação e baixo nível de escolaridade com
surgimento de alguns transtornos. No entanto, em nosso estudo tais fatores parecem não ter sido
determinantes, pois, ao se analisar a relação entre depressão e ansiedade com ocupação, não
foram encontradas relações significativas entre os dois grupos, assim como foi observado
também que os graus de depressão e ansiedade não aumentavam na medida em que aumentavam
os anos de estudo.
Embora Castro et al., (2007) apontem que, na medida em que a doença renal crônica
evolui, maior é o comprometimento familiar e social, os resultados obtidos nesta pesquisa não
permitiram identificar associação entre comprometimento psíquico e a evolução da doença.
Observou-se que existe uma correlação entre depressão e ansiedade, ou seja, à medida que
há presença de sintomas depressivos, há também sintomas de ansiedade. A depressão é comum
em pacientes com doenças crônicas e, assim como na doença renal, frequentemente não é
diagnosticada. Segundo Moura Junior; Souza; Oliveira; Miranda; Teles e Neto (2008), depressão
e ansiedade são as síndromes mais freqüentes em pacientes em diálise, devido às inúmeras
pressões psicológicas e adaptação às novas condições de doença. Ainda segundo os autores,
embora o diagnóstico de depressão em doentes renais crônicos não esteja diretamente relacionado
à mortalidade, a qualidade de vida e a adesão ao tratamento estão associadas ao nível de
depressão destes pacientes. Tais sintomas de ansiedade e depressão na pré-diálise podem decorrer
de sentimentos como medo do desconhecido e incerteza com relação ao futuro, medo da morte,
falta de compreensão da doença, negação da doença pelo paciente e pela família, dentre outros.
A respeito da relação entre ansiedade e depressão, Teixeira (2001), em estudo realizado
ao longo de cinco anos de observação, constatou que o diagnóstico de depressão passa para
ansiedade em 2% dos casos e, no sentido contrário, da ansiedade para a depressão, em 24% dos
casos.

14
Uma limitação deste estudo consiste no fato de se tratar de um estudo transversal. Embora
não aponte resultados de um acompanhamento da amostra no decorrer do tempo, sua relevância
se faz pela raridade do tema voltado para a DRC pré-dialítica, abrindo uma nova perspectiva de
atuação nos profissionais de saúde nessa fase da doença, ressaltando-se a importância dos
trabalhos de prevenção não apenas direcionados aos parâmetros clínicos convencionais, mas
também voltados à saúde mental destes pacientes.
Considerações Finais
Os resultados obtidos neste estudo sugerem que os pacientes com DRC avaliados em
tratamento conservador, apesar de ainda não submetidos a tratamento dialítico, apresentam níveis
importantes de ansiedade e depressão, os quais precisam ser diagnosticados e tratados
precocemente. Torna-se, assim, necessária a realização de estudos prospectivos que visem
observar o impacto da saúde mental em desfechos, como a melhora da qualidade de vida, maior
estabilização na evolução da doença e maior aceitação do tratamento quando necessária a entrada
em terapia renal substitutiva.
Referências
Almeida, A.M. (2003). Revisão: a importância da saúde mental na qualidade de vida e sobrevida
do portador de insuficiência renal crônica. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 25, 209-214.
Almeida, A.M., & Meleiro, A.M.AS. (2000). Depressão e insuficiência renal crônica: uma
revisão. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 22, 192-200.
Bizarro, L. O bem estar psicológico de adolescentes com insuficiência renal crônica. (2001).
Psicologia, Saúde e Doenças, 2, 55-67.

15
Castro, M.C.M., et al. (2007). Screening, diagnosis, and treatment of depression in patients
with end-stage renal disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2,
1332-1342.
Cukor, D., Cohen, S.D., Peterson, R.A. & Kimmel, P.L. (2007). Psychosocial Aspects of
Chronic Disease: ESRD as a Paradigmatic Illness. Journal of the American Society of
Nephrology, 18, 3042–3055.
Cukor, D., et al. (2007). Depression and Anxiety in Urban Hemodialysis Patients. Clinical
Journal of the American Society of Nephrology, 2, 484-490.
Cukor, D., et al. (2008). Anxiety Disorders in Adults Treated by Hemodialysis: A Single-Center
Study. American Journal of Kidney Diseases, 52, 128- 136.
Cunha, J.A. (2001). Manual da versão em português das Escalas Beck. São Paulo: Casa do
Psicólogo.
Duarte, A.P., Mattevi, B.S., Berlim, M.T., Morsch, C., Thome, F. S. & Fleck, M.P.A. (2000).
Prevalência da depressão maior nos pacientes em hemodiálise crônica Revista do Hospital
das Clínicas de Porto Alegre, 20, 240-246.
Gassen, D,T., Herter, L.D., Garcia, C., Marroni, R., Milagre, M.M., Barros, V. Aspectos
ginecológicos e hormonais de pacientes nefropatas e transplantadas renais. (2009). Revista
do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 29, 239-245.
Hedayati, S.S., Minhajuddin, A.T., Afshar, M., Toto, R.D., Trivedi, M.H., Rush, A.J. (2010).
Association between major depressive episodes in patients with chronic kidney disease
and initiation of dialysis, hospitalization, or death. Journal of the American Medical
Association, 303, 1946-1953.

16
KIDNEY DISEASE OUTCOMES QUALITY INITIATIVE (K/DOQI) – Clinical practice
guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. (2002).
American Journal of Kidney Diseases, 39, S1-S246.
Kinrys, G., Wygant, L,E. (2005). Transtorno de Ansiedade em mulheres: gênero influencia o
tratamento? Revista Brasileira de Psiquiatria, 27, 43-50.
Kop, W.J., et al. (2011). Longitudinal association of depressive symptoms with rapid kidney
function decline and adverse clinical renal disease outcomes. Clinical Journal of the
American Society of Nephrology, 6, 1-11.
Moura Junior, R., Souza, C.A.M., Oliveira, I.R., Miranda, R.O., Teles, C. & Neto, J.A.M. (2008).
Risco de suicídio em pacientes em hemodiálise: evolução e mortalidade em três anos.
Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 57. 44-51.
Romão Júnior, J.E. (2004). Doença Renal crônica: Definição, Epidemiologia e Classificação.
Jornal Brasileiro de Nefrologia, 26, 1-3.
Santos, F.R., Lima, S.A., Elias, F.C., Magacho, E., Oliveira, L.A., Fernandes, B., Carmo, W.B.,
Abrita, R.R. & Bastos, M.G. (2008). Satisfação do paciente com atendimento
interdisciplinar num ambulatório de prevenção da doença renal crônica. Jornal Brasileiro
de Nefrologia, 30, 151-156.
Silva, O.M.M., Pereira, L.J.C., Martinelli, R. & Rocha, H. (1995) Fatores de risco para o
desemprego entre pacientes submetidos a programas de diálise regular. Jornal Brasileiro
de Nefrologia, 17, 47-50.
Souza, J.A.C. (2007). Inter-relações entre variáveis demográficas, perfil econômico, depressão,
desnutrição e diabetes mellitus em pacientes em programa de hemodiálise. Jornal
Brasileiro de Nefrologia, 29, 143-151.

17
Teixeira, J.M. (2001). Comorbidade: Depressão e Ansiedade. Revista de Psiquiatria, 3, 09-20.
Zimmermann, P.R., Carvalho, J.O. & Mari, J.J. (2004). Impacto da depressão e outros fatores
psicossociais no prognóstico de pacientes renais crônicos. Revista de Psiquiatria, 26, 312-
318.