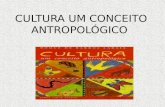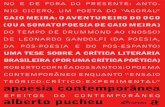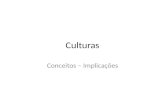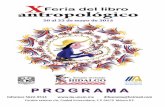Anuário Antropológico II (2012) - Percepções Da Presa - Caça, Sedução e Metamorfose Entre Os...
-
Upload
bolaxa-kausradio -
Category
Documents
-
view
100 -
download
36
description
Transcript of Anuário Antropológico II (2012) - Percepções Da Presa - Caça, Sedução e Metamorfose Entre Os...
-
Anurio AntropolgicoII (2012)2011/II
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rane Willerslev
Percepes da presaCaa, seduo e metamorfose entre os Yukaghirs daSibria................................................................................................................................................................................................................................................................................................
AvisoO contedo deste website est sujeito legislao francesa sobre a propriedade intelectual e propriedade exclusivado editor.Os trabalhos disponibilizados neste website podem ser consultados e reproduzidos em papel ou suporte digitaldesde que a sua utilizao seja estritamente pessoal ou para fins cientficos ou pedaggicos, excluindo-se qualquerexplorao comercial. A reproduo dever mencionar obrigatoriamente o editor, o nome da revista, o autor e areferncia do documento.Qualquer outra forma de reproduo interdita salvo se autorizada previamente pelo editor, excepto nos casosprevistos pela legislao em vigor em Frana.
Revues.org um portal de revistas das cincias sociais e humanas desenvolvido pelo CLO, Centro para a edioeletrnica aberta (CNRS, EHESS, UP, UAPV - Frana)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Referncia eletrnicaRane Willerslev, Percepes da presa, Anurio Antropolgico [Online], II|2012, posto online no dia 01 Outubro2013, consultado no dia 20 Novembro 2013. URL: http://aa.revues.org/143
Editor: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social (UnB)http://aa.revues.orghttp://www.revues.org
Documento acessvel online em: http://aa.revues.org/143Este documento o fac-smile da edio em papel. Anurio Antropolgico
-
anurio antropolgico2011|II
dezembro de 2012
ISSN 0102-4302
Dossi humanos e animais
biodiversidadedomesticaoCaaAmazniaSibriaIntersubjetividadecinciaanimais de estimao
Anurio Antropolgico VII.indd 1 18/03/2013 14:52:44
-
Anurio Antropolgico VII.indd 2 18/03/2013 14:52:44
-
sumrioApresentaoCarlos Emanuel Sautchuk e Guilherme S
Artigos
Animais demais os xerimbabos no espao domstico Matis (Amazonas)Philippe Erikson
O funeral do caador: caa e perigo na AmazniaUir F. Garcia
Percepes da presa: caa, seduo e metamorfose entre os Yukaghirs da Sibria Rane Willerslev
Outra espcie de companhia: intersubjetividade entre primatlogos e primatas Guilherme S
A ona-pintada e o gado brancoFelipe Sussekind
Nada d certo: pequenos quadros controversos de geopoltica do coelhoLucienne Strivay & Catherine Mougenot
Devorando a carcaa: contracozinhas e dietas alternativas na alimentao animalBernardo Lewgoy & Caetano Sordi
Os ces com depresso e os seus humanos de estimaoJean Segata
A biodiversidade domstica, uma dimenso desconhecida da biodiversidade animalJean-Pierre Digard
15
57
77
111
135
159
177
205
33
9
Anurio Antropolgico VII.indd 3 18/03/2013 14:52:44
-
Crtica
Ensaio Bibliogrfico - O que humano? Variaes da noo de domesticao em Tim IngoldCarlos Emanuel Sautchuk e Pedro Stoeckli
HAUDRICOURT, Andr-Georges. 2010. Des gestes aux techniques: Essai sur les techniques dans les socits pr-machinistes. Fabiano Campelo Bechelany
INGOLD, Tim. 2011. Being alive: essays on movement, knowledge and description.Rafael Antunes Almeida e Potyguara Alencar dos Santos
RUBIN, Christina de Rezende(org.). 2012. Iluminando a face escura da lua.Priscila Faulhaber
LEA, Vanessa R. 2012. Riquezas intangveis de pessoas partveis: os Mbngkre (Kayap) do Brasil Central.Julio Cezar Melatti
227
247
253
257
263
Anurio Antropolgico VII.indd 4 18/03/2013 14:52:44
-
summaryPresentationCarlos Emanuel Sautchuk e Guilherme S
Articles
Animals galore pets in Matis domestic space (Amazonas) Philippe Erikson
The hunters funeral: hunting and danger in the AmazonUir F. Garcia
Perceiving Prey: hunting, seduction, and Shapeshifting among the Siberian Yukaghir Rane Willerslev
Company of another kind: intersubjectivity between primates and primatologists Guilherme S
The jaguar and the white cattle Felipe Sussekind
Nothing works: short controversial frames of rabbit geopolitics Lucienne Strivay & Catherine Mougenot
Carrion devouring: counter-cuisine and alternative diets in animal feedingBernardo Lewgoy & Caetano Sordi
Depressed dogs and their human petsJean Segata
Domestic biodiversity, a little-known aspect of animal biodiversity Jean-Pierre Digard
15
57
77
111
135
159
177
205
33
9
Anurio Antropolgico VII.indd 5 18/03/2013 14:52:44
-
Critique
Review essay - What is a human? Variations of the concept of domestication in Tim IngoldCarlos Emanuel Sautchuk e Pedro Stoeckli
HAUDRICOURT, Andr-Georges. 2010. Des gestes aux techniques: Essai sur les techniques dans les socits pr-machinistes.Fabiano Campelo Bechelany
INGOLD, Tim. 2011. Being alive: essays on movement, knowledge and description.Rafael Antunes Almeida e Potyguara Alencar dos Santos
RUBIN, Christina de Rezende (org.). 2012. Iluminando a face escura da lua.Priscila Faulhaber
LEA, Vanessa R. 2012. Riquezas intangveis de pessoas partveis: os Mbngkre (Kayap) do Brasil Central.Julio Cezar Melatti
227
247
253
257
263
Anurio Antropolgico VII.indd 6 18/03/2013 14:52:45
-
7apresentao
Anurio Antropolgico VII.indd 7 18/03/2013 14:52:45
-
Anurio Antropolgico VII.indd 8 18/03/2013 14:52:45
-
9Carlos Emanuel Sautchuk e Guilherme S
Apresentao
Carlos Emanuel Sautchuk e Guilherme SUniversidade de Braslia
A realizao deste dossi especial do Anurio Antropolgico busca retratar e impulsionar uma faceta cada vez mais vigorosa da antropologia contempor-nea, voltada gerao de evidncias etnogrficas e produo de novas abor-dagens conceituais acerca das relaes entre humanos e animais. Procuramos oferecer uma amostra do que tem sido produzido no Brasil a este respeito, num cenrio de pesquisas e discusses em ritmo crescente. Ademais, qui-semos proporcionar aqui mais uma arena de dilogo com pesquisadores es-trangeiros, sobretudo aqueles que jamais publicaram no pas, associando-os a outros pesquisadores, como Philippe Erikson, que j transita em nossas dis-cusses etnolgicas h algum tempo.
Sem pretender uma cobertura exaustiva do tema (o que, devido ao estado da arte dos estudos das relaes interespecficas, exigiria um volume bem mais extenso), os textos aqui reunidos apontam para um conjunto significativo de vertentes dos estudos contemporneos sobre a relao entre humanos e animais na antropologia. Buscou-se reunir diferentes geraes de pesquisadores, com enfoques tericos e empricos diversos, passando pela etnologia amerndia, a cincia, as questes ambientais, os animais domsticos urbanos, retornando tambm s problematizaes acerca da noo de domesticao, fundamental e no menos controversa, neste domnio.
Abre o nmero Philippe Erikson, um dos pioneiros na sistematizao de dados e abordagens em torno do estatuto do animal na Amaznia, que deli-neou com clareza as questes maiores do significado da morte da presa e da distino que se deve estabelecer entre o apprivoisement (familiarizao) e a domesticao propriamente dita. Ele retorna aqui sua etnografia, nos ofere-cendo um rico e detalhado panorama da presena de animais de companhia no espao domstico dos Matis.
Seguindo o rastro dos coletivos amerndios, Uir Garcia, etnlogo dedi-cado ao estudo da caa entre os Aw-Guaj, disserta sobre uma das questes fundamentais da relao entre humanos e animais na atividade cinegtica, a Anurio Antropolgico/2011-II, 2012: 09-11
Anurio Antropolgico VII.indd 9 18/03/2013 14:52:45
-
10 Apresentao
saber, o risco que o animal representa para o caador, em funo justamente da permeabilidade das fronteiras ontolgicas entre ambos e do papel desestabili-zador que a caa joga nisso.
A forma de se lidar com o risco da desumanizao inerente caa tambm o ponto de Rane Willerslev, antroplogo dinamarqus com uma das mais cria-tivas e valiosas contribuies ao estudo das relaes entre caadores e presas na atualidade. Tal conexo entre reas etnogrficas no fortuita, visto que um dos principais eixos de elaborao de questes mais gerais sobre caadores na atua-lidade tem sido traado entre a Amaznia e a Sibria, baseado, evidentemente, no na suposta generalidade de aspectos biofsicos, como se quis outrora, mas sim em constataes etnogrficas similares a respeito do estatuto dos animais e das relaes de predao, na perspectiva destes grupos.
H um trao marcante nesse movimento, que a necessidade de dar conta, de uma forma ou de outra, da subjetivao dos animais, que a manifestao dos caadores parece apontar de forma inequvoca. Mas isto no uma exclusividade da etnologia de povos indgenas, como nos mostra Guilherme S ao analisar o relato de primatlogos sobre suas relaes com primatas no humanos no m-bito de suas pesquisas de campo. As relaes intersubjetivas so tomadas como aspecto inseparvel da atividade cientfica, fundamentada que na relao entre sujeitos de diferentes espcies.
A relao entre cincia e subjetivao aponta igualmente para outro tipo de situao, que a multiplicidade de sentidos que uma mesma espcie assume en-tre atores diferentes. o que transparece no caso dos projetos de conservao da ona-pintada no Pantanal que, como mostra Felipe Sussekind a partir de deta-lhada exposio de situaes de campo, enceta agentes e perspectivas distintas, como as de bilogos, vaqueiros e pecuaristas, que se associam parcialmente na prtica de interaes com a espcie selvagem.
Dois dos aspectos evocados por Sussekind, como a tenso entre as disposi-es de eliminao e de conservao e o carter contingente da empresa cien-tfica, so justamente tema de discusso para Strivay e Mougenot, que tratam do manejo do coelho europeu ao redor do mundo. Adotando uma visada hist-rica, as autoras desfiam vertiginosa mirade de aes para eliminar, conservar ou reintroduzir os coelhos em diferentes lugares, com o uso de conhecimentos locais e cientficos, a exemplo do desenvolvimento de agentes de controle biol-gico. Elas evidenciam no apenas como atores e propsitos contrapostos devem ser considerados (mesmo entre cientistas), mas tambm o carter surpreenden-temente imprevisvel e incontrolvel das consequncias advindas destas aes.
Voltando sua anlise aos eventos conhecidos como a crise da vaca louca e ao
Anurio Antropolgico VII.indd 10 18/03/2013 14:52:45
-
11Carlos Emanuel Sautchuk e Guilherme S
recente pet recall nos EUA, Lewgoy e Sordi demonstram como tais controvrsias cientficas acerca da vida dos animais esto de par com deslocamentos importan-tes nas concepes a respeito do que sejam os animais, em especial os chamados animais de corte e de estimao. Os autores focam suas atenes nos efeitos de objetificao dos primeiros e de hipersubjetivao dos ltimos, que passam a ser tratados semelhana dos humanos em vrios aspectos, como atesta o floresci-mento de um peculiar mercado de produtos alimentcios.
Em linha semelhante, mas a partir de pesquisa de campo em pet shops, Jean Segata apresenta com riqueza de detalhes os procedimentos veterinrios e as aflies pessoais envolvidas na medicalizao de animais de estimao. Trata-se, em especial, de aes de subjetivao que assumem um carter muito particular, expondo as mltiplas formas de homologia entre humanos e animais, inclusive atravs de suas dimenses biofarmacolgicas.
Finalizando a srie de artigos, Jean-Pierre Digard, possivelmente o antrop-logo que mais se dedicou ao tema da domesticao animal, argumenta aqui em defesa da valorizao da biodiversidade de animais domsticos, delineando um quadro de situaes em que os humanos contriburam para a gerao e a conser-vao de espcies animais. Atravs desta chave, ele busca inverter a propalada relao negativa entre humanidade e biodiversidade animal, ao menos para uma parte considervel das interaes entre humanos e animais.
Encerra esse conjunto de contribuies o ensaio bibliogrfico de Sautchuk e Stoeckli, sobre a noo de domesticao e a relao entre humanos e animais na obra do antroplogo Tim Ingold. As variaes internas obra de Ingold em torno deste mesmo conceito podem ser lidas como uma demonstrao da diver-sidade das reflexes que a questo da relao entre humanos e animais tem susci-tado na antropologia. Por outro lado, algo que ressalta em Ingold e que perpassa em alguma medida os trabalhos aqui reunidos e, qui, esse campo de estudos o fato de que o enfoque nas relaes com os animais parece levar reviso do humano e, no raro, da prpria abordagem antropolgica.
Anurio Antropolgico VII.indd 11 18/03/2013 14:52:45
-
Anurio Antropolgico VII.indd 12 18/03/2013 14:52:45
-
13
artigos
Anurio Antropolgico VII.indd 13 18/03/2013 14:52:45
-
Anurio Antropolgico VII.indd 14 18/03/2013 14:52:45
-
15Philippe Erikson
Animais demais os xerimbabos no espao domstico matis (Amazonas)
Philippe EriksonUniversit Paris Ouest Nanterre
Traduo: Carlos Emanuel Sautchuk e Jos Pimenta
Animais demais: o ttulo deste artigo , em primeiro lugar, uma aluso ao que se poderia chamar de uma onipresena dos animais no somente no imaginrio e na alimentao, mas tambm no espao domstico das populaes indgenas da Amaznia. Concretamente, os animais esto em todos os lugares nas malocas, nas roas, nos locais de banho e at sobre a cabea das crianas. Animais demais, como no deixaram de notar os primeiros observadores, es-tupefatos com a superabundncia e a importncia conferida aos animais de com-panhia nas aldeias que eles encontravam.
Vejamos, por exemplo, como Jules Crevaux (1987 [1879]:32), no sem hu-mor, descreveu sua chegada entre os amerndios da Guiana Francesa: Jacamins, jacus, araras vm esvoaar em torno de mim; uma pequena ona amansada se lana de uma vez sobre minhas costas e rasga minha jaqueta. Namaoli faz um gesto e todos esses animais batem em retirada.... Aproximadamente na mesma poca, o general Couto de Magalhes escreveu em sua obra O Selvagem (1876):
Quem visita uma aldeia selvagem visita quase um museu vivo de zoologia da regio onde est a aldeia; araras, papagaios de todos os tamanhos e cores, macacos de diversas espcies, porcos, quatis, mutuns, veados, avestruzes e at sucurijus, jiboias e jacars. [...] O cherimbabo do ndio (o animal que ele cria) quase uma pessoa de sua famlia (apud Calavia Saez, 2010).
Apesar de seu tom algo anacrnico, tais observaes no perderam nada de sua pertinncia. Em todo caso, elas poderiam se aplicar situao dos Matis, tal como tive o privilgio de encontr-los no incio dos anos 1980, quando de minhas primeiras pesquisas de campo realizadas sob o patrocnio de Julio Cezar Melatti (da Universidade de Brasila) e sob a batuta de Patrick Menget. Os ensinamentos deste ltimo, na Universidade Paris X-Nanterre, haviam me sensibilizado para a
Anurio Antropolgico/2011-II, 2012: 15-32
Anurio Antropolgico VII.indd 15 18/03/2013 14:52:45
-
16 Animais demais
questo da catividade no universo amaznico, de tal maneira que no me restava seno transport-la ao registro das relaes homem-animal (Erikson, 1987).
Animais demais igualmente uma piscada de olhos a um texto recente, inti-tulado donos demais, no qual Carlos Fausto (2008) atualiza a questo essencial do controle social, tal como ele vivido e conceitualizado na Amaznia indgena. Este precisamente o segundo eixo em torno do qual estruturado o texto abai-xo (cuja primeira verso remonta a 1988), que parte de uma reflexo sobre a in-sero de animais de estimao no espao domstico matis, para tentar estabele-cer uma relao entre esta prtica e as representaes que a sustentam. Em outras palavras, um texto que se interessa pelas relaes simblicas complexas que os amerndios estabelecem entre os lugares de que se apropriaram (seu habitat) e os seres vivos (animais, vegetais e humanos) que ali se encontram ou transitam. Em tal contexto, sem dvida a figura do dono e as noes de mestria (sobre os indivduos, mas tambm sobre os espaos) que so mobilizadas para caracterizar a relao dos humanos com os animais. Tanto aqueles cativos quanto os semiliber-tos, ou mesmo em simbiose perfeita, quer dizer, quando eles so tratados em p de igualdade com seus novos parentes humanos. Um dos argumentos principais deste texto, como da maior parte daqueles que escrevi sobre esta temtica, pre-cisamente que a relao homem-animal s pode ser interpretada considerando-se a situao de rivalidade (sobretudo com os espritos-donos da caa) que conduz a insero dos animais no espao domstico dos homens.
Ainda que elas tenham sido remanejadas tendo em vista esta nova publica-o, as ideias que seguem no so totalmente inditas. Uma primeira verso foi publicada no final dos anos 1980, numa revista francesa de difuso restrita (Erikson, 1988). Sem dvida, o texto envelheceu, mas parece que til retom---lo hoje por duas razes essenciais. Em primeiro lugar, porque ele antes de tudo baseado na etnografia que, longe de se degradar, tende a amadurecer com a idade, o que justifica assim uma nova verso em portugus, que tem, ademais, o mrito de ampliar a audincia do texto. Em segundo lugar, porque as temti-cas outrora abordadas parecem ter conhecido recentemente uma retomada de interesse que justifica talvez que ele seja retirado da sombra. Aps a apario de meus primeiros trabalhos sobre a relao entre homem e animal na Amaznia (Erikson, n.d. [1983]), o tema se enriqueceu e se sofisticou. Teses foram consa-gradas ao assunto (Cormier, 2003a, 2003b; Vander Velden, 2010, 2011), novas hipteses foram formuladas (Texeira Pinto, 1997; Descola, 1998a, 1998 b) e novos dados produzidos (Dal Poz, 1993; Villar, 2005; Dienst & Fleck, 2009; Koster, 2009), tudo chamando ao debate.
A questo da relao homem-animal incontestavelmente o que me levou no incio a trabalhar na Amaznia. Porm, um quarto de sculo aps meus
Anurio Antropolgico VII.indd 16 18/03/2013 14:52:45
-
17Philippe Erikson
primeiros passos no campo, foroso constatar que apenas uma nfima parte de minha produo acadmica tratou deste tema, e numa tica mais comparativa do que descritiva. Em outras palavras, de uma maneira claramente mais voltada sntese da literatura existente do que anlise de dados etnogrficos originais. Como toda carreira de etnlogo, a minha oscilou com frequncia entre os dois polos opostos que so o campo e a teoria. Entretanto, o essencial de meu traba-lho emprico, mesmo aquele resultante de meu prprio trabalho de campo entre os Matis, incitou-me sobretudo a falar de cosmologia, de rituais, de ornamentos corporais e de parentesco, mais do que de animais As reflexes abaixo consti-tuem uma das raras excees a esta regra e eu me sinto to mais feliz de v-las... reaparecerem hoje neste nmero especial do Anurio Antropolgico.
***Os Matis vivem em uma grande casa comum chamada shobo. Enquanto es-
pao coletivo, o shobo no pertence ao domnio pblico: os critrios de perten-blico: os critrios de perten-cimento e os protocolos de entrada so extremamente restritivos, ainda que sua codificao seja apenas tcita na maior parte dos casos. Alm disso, cada coisa e cada pessoa dispem de um lugar tradicional em um shobo: os trofus ficam acima das entradas laterais, as zarabatanas entre os pilares centrais, as grandes peas de cermica nas extremidades, os arcos nas paredes, as redes de dormir em compartimentos especiais, os dos homens sobre os das mulheres, os bancos no crculo central Aqui, tudo ordem e tradio, composio, harmonia e organizao. Os detalhes e as propores podem variar de um shobo para outro, mas o esquema diretor permanece sempre idntico.
Alm de seus ocupantes humanos, um shobo abriga sempre alguns animais domsticos (ces e galinhas, de introduo recente), alguns quelnios destina-dos a um consumo diferido (reserva alimentar estocada in vivo) e, sobretudo, incontveis animais familiares, cuja gama varia tanto quanto o leque alimentar: pssaros, roedores, preguias e uma quantidade impressionante de pequenos macacos, que seus donos portam quase sempre sobre a cabea (ver a lista deta-lhada na tabela 1).1
Como estes animais familiarizados inserem-se no espao eminentemente civilizado do shobo? Se, num primeiro olhar, os xerimbabos esto por todos os lados, literalmente invadindo a casa, no haveria alguma ordem por trs disto? Os xerimbabos no so posicionados como o resto, com uma localizao bem definida e fisicamente circunscrita na casa dos homens?
Tais questes mostram-se ainda mais relevantes quando se leva em conside-rao que o espao humano concebido pelos Matis justamente numa relao
Anurio Antropolgico VII.indd 17 18/03/2013 14:52:45
-
18 Animais demais
com o espao animal. Ao invs de simplesmente oporem cultura humana e natureza animal, os Matis consideram que tudo cultura, inclusive a floresta que, acredita-se, foi plantada pelos animais ou espritos que nela vivem e dela se alimentam. Portanto, supe-se que cada parcela do universo tem um nico dono, em decorrncia do que h um grande cuidado em marcar a distino en-tre os locais ocupados pelos homens (habitaes, roas, caminhos) e os demais. Infeliz daquele que, incapaz de distinguir o traado de um antigo caminho encoberto pela vegetao secundria, se aventura a urinar ali: uma vez sob influncia, uma rea assim deve permanecer. Criar um enclave socializado no meio da floresta significa, desta forma, tomar posse de um lugar antigamente dominado por animais ou entidades sobrenaturais.
Assim, o espao desmatado pelos humanos foi conquistado no contra uma natureza abstrata, mas contra antigos ocupantes agora despossudos. Os luga-res dos homens se definem, portanto, em relao aos dos animais, mas pautados na exclusividade. Justamente por isto, um tanto paradoxal reintroduzir numa rea recentemente apropriada pelos humanos aqueles mesmos (os animais) que a dominavam antes e dela foram expulsos. Compreende-se facilmente que cada coisa disponha de um lugar predefinido num shobo, mas parece, por outro lado, dificilmente concebvel que os animais tenham a o seu lugar.
O problema lgico apresentado pelo deslocamento de animais destinados a se tornarem xerimbabos parece de alguma maneira contido na definio do termo wiwa, que designa os seres familiarizados. O componente essencial desta noo que se aplica igualmente aos vegetais no tanto a ideia de controle sobre a reproduo (as plantas cultivadas no so wiwa), mas a ideia de se responsabilizar por indivduos deslocados de seus locais de origem para en-trarem na esfera de influncia dos humanos. A muda de um cip estimulante (tachik) torna-se, por exemplo, tachik wiwa aps ter sido transplantada para a proximidade de uma habitao, num local que facilitar sua colheita posterior. De certa maneira, pode-se dizer que os wiwa animais foram, eles tambm, ar-tificialmente implantados num local controlado pelos humanos, o que con-fere a eles um estatuto altamente ambguo, que Behrens (1983:233) observou a propsito da categoria dos ina (equivalente de wiwa entre os Shipibo, tambm de lngua pano): Ina [] uma categoria de transio [] i.e. [] ina so animais selvagens que se tornaram domesticados como plantas cultivadas. Esta posio intermediria para no dizer bastarda no deixa de gerar cer-ta contradio que, alis, muito bem ilustrada pela vigilncia intensa qual os xerimbabos so submetidos quando acompanham seu dono em antigas reas de floresta derrubada.2
Anurio Antropolgico VII.indd 18 18/03/2013 14:52:46
-
19Philippe Erikson
Quando desses deslocamentos pelas antigas roas, os Matis ficam realmente muito atentos a seus xerimbabos, cuidando, em particular, para que eles no provem de certos alimentos por vezes desenterrados; trata-se de razes ou tu-brculos (no identificados) cujos nomes indgenas so chombo, marun pwa, machi-cho, ssn dayo e dupamasho. De fato, tais comestveis, descritos como o que se comia antes da agricultura, so muito pouco valorizados, mas seu consumo no proibido aos bebs, nem, a fortiori, aos adultos. Por que tal proibio aos wiwa, seno em razo do paralelo facilmente estabelecido entre o estatuto ambguo dos xerimbabos tidos como crianas, ainda que vindas de alhures e aquele, no menos paradoxal, dos vegetais cuja presena apenas em parte imputvel ao direta do homem? Mesmo brotando em reas preparadas para o plantio, eles no aparecem na lista bem definida de cultivares ordinrios.
Para os Matis, as plantas encontradas numa rea em via de reflorestamento representam certamente uma constatao do fracasso da domesticao, do retor-no ao selvagem, que incompatvel com seu ideal de controle permanente sobre os espaos limpos. O prprio nome de uma das razes incriminadas o comprova: literalmente, marun pwa, que significa inhame de esprito maru, este ltimo en-ltimo en-ltimo en-carnando a anttese dos valores matis. Compreende-se ento porque os xerimba-bos so mantidos distncia dos vegetais: o carter feral, ou ao menos percebido como tal, destes ltimos poderia se transferir metonimicamente aos wiwa que os consumissem, incitando-os a asselvajarem-se. Assim como as reas de floresta der-rubada, os animais familiares foram retirados da floresta e podem a ela retornar.
Os animais eram selvagens e tornaram-se familiares. As plantas eram doms-ticas e tornaram-se novamente selvagens. plenamente compreensvel que se faa o possvel para evitar uma conjuno to desconcertante. O seguinte esquema sintetiza os contrastes que se opem na conjuno dos wiwa e das plantas ferais:
wiwa plantas ferais
animal vegetalno comestvel comestvelsocializado associal(cultura) (natureza)descendente ascendente(pueril) (ancestral)
Anurio Antropolgico VII.indd 19 18/03/2013 14:52:46
-
20 Animais demais
Se o contato com lugares e plantas mal familiarizados pode influenciar os wiwa, o inverso no menos verdadeiro. necessrio ento perceber a maneira como os Matis resolvem a dificuldade lgica ligada incluso de xerimbabos em seu espao domstico. De fato, uma overdose de presena animal seria sem dvida arriscada no plano simblico, e pode tornar-se um problema o nmero muito elevado de cativos humanos de origem estrangeira em uma dada socie-dade.3 A antiga identidade, assim como os antigos donos sobrenaturais nunca esto muito longe...
A fim de justificar a presena perturbadora de seus corresidentes animais, os Matis recorrem a diferentes estratagemas, a maioria consistindo em humaniz---los (ou seja, desanimaliz-los). Em primeiro lugar, eles no usam mais para os xerimbabos o nome que designa normalmente seu ancestral de origem, prefe-rindo empregar termos especiais que se ouvem com frequncia, e duplicados, no vocativo (tabela 1). Os animais criados na aldeia so assim terminologicamente distintos da caa, sem dvida com o objetivo de dissimular sua origem silves-tre.4 Esta inteno fica clara, em particular, na transformao de kwbu em shui, pois os dois termos so perfeitamente antinmicos: o primeiro evoca de forma clara o sexo feminino (kw), enquanto o segundo homnimo de pnis (shui). O xerimbabo pode ser caracterizado ento como o contrapeso semntico da caa, simtrico e complementar, de acordo com um esquema extremamente difundi-do na Amaznia (Erikson, 1987). Tanto assim que, para chamar as galinhas, contenta-se em utilizar seu nome especfico, takara, apenas redobrado (takara, takara), pois no h razo alguma para camuflar a origem destes animais, despro-vidos de contrapartida silvestre.
A lista a seguir inclui todos os xerimbabos que pude observar em minha esta-da entre os Matis. Ela no tem, entretanto, nenhuma pretenso de exaustividade. Nela no esto, em particular, o caititu unkin (Tayassu tajacu), e o macaco bugio du (Alouatta sp.), para os quais nos faltam dados.
Anurio Antropolgico VII.indd 20 18/03/2013 14:52:46
-
21Philippe Erikson
Espcie Nome vernacular VocativoMacacos :
Sagui (Saguinus sp.) sipi chot ishpi ishpiSagui-de-mos-amarelas (Mydas sp.)
sipi wiren ishpi ishpi
Titi-vermelho(Callicebus cupreus)
masoko seri seri
Macaco-barrigudo (Lagotrix sp.) chuna poshtu poshtuMacaco-aranha (Ateles sp.) choshe musha mushaMacaco-de-cheiro (Saimiri sp.) tsama tsanga tsangaMacaco-da-noite (Aotus sp.) bushti bushigi bushigiMacaco-prego (Cebus sp.) chima ishpa ishpaMacaco-parauacu (Pithecia sp.) bushiro manan mamut
manan mamutDiversos mamferos:
Cachorros (Canis sp.) wapa kuri kuriQueixada (Tayassu albirostris) chawa pusa pusaPreguia (Bradypus & Choelus spp.)
pusin nai nai
Quati (Nasua sp.) sise kashta kashtaPssaros:
Jacutinga (Pipile sp.) niwa titan titanJacu (Penelope sp.) kwbu shui shuiMutum (Crax sp.) wesnit kushti kushtiTucano (Ramphastos sp.) chankwish shuku shuku
Tabela 1: nomeao dos xerimbabos
Outras precaues so tomadas para negar a animalidade dos xerimbabos e atribuir-lhes estatuto comparvel ao das crianas. Alm de modificar sua desig-vel ao das crianas. Alm de modificar sua desig-Alm de modificar sua desig-nao especfica, so dados a eles nomes pessoais de humanos (jamais usados, mas capazes de inseri-los numa parentela); eles so por vezes enfeitados com miangas, levados nos braos e, sobretudo, so enterrados aps a morte, evitan-do-se trat-los como seus congneres destinados panela. , portanto, extre-mamente mal visto bater num animal familiarizado (ao passo que a caa pode
Anurio Antropolgico VII.indd 21 18/03/2013 14:52:46
-
22 Animais demais
ser maltratada), proibido, mesmo aps sua morte, retirar dentes de macacos familiarizados (ainda que os colares feitos com esses dentes sejam o bem mais valioso entre os Matis). Enfim, e acima de tudo, proibido consumir sua carne.5
So, porm, as prticas ligadas sua alimentao que contribuem de modo mais eficaz para a socializao dos xerimbabos. A comensalidade , em toda a Amaznia, um critrio essencial de humanizao dos animais (Erikson, n.d.). Ainda que os Matis evidentemente saibam, por exemplo, que os pequenos maca-cos coletam insetos e que os caititus forrageiam aqui e ali, eles concedem muita importncia ideia de que seus wiwa recebem uma alimentao cultural. Os mamferos so alimentados no seio e depois, como os pssaros e os bebs huma-nos, recebem alimentos pr-mastigados oferecidos boca a boca. Considerados e mimados como crianas, supe-se que os xerimbabos se alimentem da mesma maneira, de modo que a coprofagia dos ces particularmente mal vista.
Os Matis discutem livremente as preferncias gastronmicas de seus animais, afirmando que tal variedade de banana convm melhor a tal espcie de macaco etc. Um jovem homem, interrogado sobre a dieta dos xerimbabos, chegou at a nos dizer que certas espcies no hesitavam em comer a carne dos parentes dele. O sorriso eloquente acompanhando essas palavras traduziria certamente a ironia da situao, mas tambm a satisfao real que tal prova de renncia sua prpria espcie parecia lhe trazer. Alimentando os onvoros com seus prprios congneres, os Matis contribuem evidentemente para humaniz-los.
Constata-se, alis, que o alimento cultivado que mais convm a um xerimbabo aquele que ser mais facilmente consumido para acompanhar a carne de seus congneres: se os homens foram caar macacos com suas zarabatanas, as mulhe-res tratam de cozinhar bananas antes de seu retorno; se eles perseguem caititus, elas vo recolher mandioca. O que bom para um animal igualmente bom como acompanhamento de sua carne...
Assim, os animais familiarizados apenas tm lugar no espao humano na medida em que so assimilados. No podendo ser considerados hspedes, eles permanecem ali enquanto membros naturalizados, ao contrrio dos animais privados de acesso casa, e cujo ponto comum justamente o fato de no se beneficiarem de nenhuma ligao interpessoal humanizante com um dono: seja no caso em que eles acabam de ser capturados, e se encontram ento em quaren-tena ou em trnsito nos abrigos perifricos construdos para tal fim, seja quando pertencem a espcies recentemente introduzidas (galinhas, patos) e, portanto, excludas do processo de familiarizao. Em todos estes casos, os animais em questo no tm ainda (ou no tero jamais) o estatuto social requerido para penetrar no shobo. A racionalizao segundo a qual as galinhas so demasiado barulhentas e vorazes para coabitar com os humanos ou para aproximar-se do
Anurio Antropolgico VII.indd 22 18/03/2013 14:52:46
-
23Philippe Erikson
telhado no enganar nenhum daqueles que j foram vtimas dos jacus insones ou dos micos abusados que, apesar disso, podem habitar a casa comum.
Uma vez considerados xerimbabos plenos, os animais familiares tornam-se quase um prolongamento do corpo de seu proprietrio, tendo, assim, acesso ao menor recanto da habitao. Constata-se, portanto, que os wiwa so atribudos a indivduos, mais do que a locais; so hspedes do homem mais que de sua casa, o que torna particularmente delicado um estudo topolgico de sua ocupao do espao. Seria ilgico, uma vez um animal familiarizado, confin-lo em um local especfico, e ao mesmo tempo buscar negar a sua especificidade. Os poleiros, os abrigos e outros recintos representam apenas solues provisrias, destinadas a desaparecer to logo a assimilao se realize.
Sobre isso, o caso dos cachorros particularmente interessante. Em tempos passados, estes companheiros mais recentes do homem, assim como as galinhas, estavam destinados a residir na periferia, presos em recintos. No presente, suas proezas cinegticas lhes valeram no apenas a entrada na casa comum, como tambm o direito de assento no crculo central, onde os homens fazem suas re-feies em conjunto. Aqui, a filognese acelerada que reproduz a ontognese, mais do que o inverso, pois os cachorros foram, enquanto espcie, pouco a pou-co integrados na casa, da mesma forma como os animais capturados na floresta o so individualmente.
Assim que possvel, portanto, o xerimbabo deixa de ser mantido em separado para ficar prximo de seu dono. Raramente um animal deixado s, exceto os mais volumosos. Se algum est cansado da presena de seu macaco sobre a cabea, ele o repassa a uma criana, recomendando-lhe que o coloque na de um parente, sem deix-lo solto. Idealmente, o xerimbabo vai onde est seu dono: eles dormem em suas redes (ao menos os macacos), vo se banhar com eles,6 acompanham-nos roa e inclusive caa, sobretudo no caso dos cachorros e dos pequenos macacos empregados como iscas naturais. A regra segundo a qual os animais devem seguir os humanos em seus deslocamentos , alis, explcita: recomendado, ou mesmo obrigatrio, lev-los por toda parte. Diz-se que os animais devem kapwek, deslocar--se na floresta, como os humanos. Ora, para se compreenderem as limitaes que isso pode acarretar, basta observar a dificuldade com que se movimenta a mais velha das macho (sobrenome dado s mulheres na menopausa) matis. Apesar de sua excelente condio fsica, ela geralmente s pode avanar mancando ou atravs de saltitos: mas, afinal, como fazer de outro modo com um enorme macaco-aranha agarrado panturrilha e um caititu caprichoso sempre atrs? ...
Para compreender a insero dos animais no espao matis, necessrio, portanto, demorar-se um pouco sobre as regras que presidem sua repartio entre os diversos indivduos.
Anurio Antropolgico VII.indd 23 18/03/2013 14:52:46
-
24 Animais demais
1: Nas expedies, os animais esto sempre junto... (Col. Erikson, 1995)
2: Mena e sua preguia domstica. (Col. Erikson, 1995)
Anurio Antropolgico VII.indd 24 18/03/2013 14:52:47
-
25Philippe Erikson
4: Os macacos so sempre levados sobre a cabea. (Col. Erikson, 1995)
3: Bin shono, Kana e sua preguia domstica. (Col. Erikson, 1995)
Anurio Antropolgico VII.indd 25 18/03/2013 14:52:49
-
26 Animais demais
Ainda que os animais familiares sejam comumente jovens trazidos da caa pelos homens, so geralmente as mulheres e as crianas que desfrutam da pro-priedade formal dos xerimbabos. Evidentemente, sua repartio no se efetua ao azar, e tampouco sem lembrar a diviso da carne: os homens os oferecem sobretudo a suas esposas, suas amantes e suas mes, por vezes a seus filhos. Individualmente falando, a possibilidade de algum se recusar a criar um animal trazido da caa sempre existe. Para uma jovem solteira, por exemplo, aceitar um jovem caititu equivaleria a tomar um encargo suplementar, e praticamente a se engajar na criao dos filhos do caador que o ofereceu. o caso, portanto, de refletir bem antes de aceitar.7 Mas para a maior parte das outras mulheres, a chegada de um novo animal de companhia consiste em um acontecimento dos mais agradveis. O xerimbabo servir de brinquedo para as meninas, de laboratrio de etologia para os meninos, de substituto de filho para as mulheres velhas ou estreis (particularmente predispostas ao processo de familiarizao), de divertimento para todos.
A partilha dos animais depende ento largamente da situao familiar de cada um. Constata-se, alis, uma forte tendncia repartio especfica dos animais, parecendo que os diferentes tipos de xerimbabos esto relacionados com as diversas etapas do ciclo vital. Isto fica particularmente claro em se tratando de macacos, cujas espcies menores so com frequncia atribudas s crianas, as mdias aos jovens adultos, e assim por diante, at o macaco-aranha negro (esta cor conotando a maturidade), reputado por sua inteligncia, em geral reservado aos ancios. Assim, observa-se um mico ou um sagui sobre a cabea dos bebs, enquanto os titis, um pouco maiores, so caractersticos das mes muito jovens e das esposas novas, os cara estando, por sua vez, se no reservados, ao menos preferencialmente ofertados a pessoas de meia-idade. Os macacos-barrigudos, enfim, talvez em razo de seu ventre inchado, que evoca o das grvidas e o dos bebs, costumam ser confiados s mulheres que h tempos no tm filhos.
Principal corolrio desse paralelo entre a faixa etria do proprietrio e a dimenso do xerimbabo: a repartio espacial dos animais segue a dos humanos e, via de regra, os pequenos animais brincam sobretudo no rio, enquanto os maiores dirigem-se mais roa. Em todos os casos, o lugar dos animais decorre mecanicamente daquele de seu dono, de maneira que difcil associ-los a um ponto fixo, a no ser a prpria pessoa que faz as vezes de seu vetor humano.
Concluindo, no podemos seno reafirmar o paradoxo matis: os animais no tendo e no podendo ter lugar algum na casa dos homens, na verdade esto por todos os lados, sendo, desde que so ali admitidos, considerados como membros plenos da comunidade. Pode-se, em suma, pensar que o seu espao topogrfico
Anurio Antropolgico VII.indd 26 18/03/2013 14:52:49
-
27Philippe Erikson
deriva logicamente do lugar que eles ocupam no seio de um sistema de valores no qual a questo do espao (humano ou animal) constitui um grande desafio.
Recebido em 22/10/2012Aceito em 29/10/2012
Philippe Erikson professor na Universit Paris Ouest Nanterre, e membro do Laboratoire dEthnologie et de Sociologie Comparative (Lesc, umr 7186). Especialista na famlia etnolingustica pano, pesquisou longamente entre os Matis da Amaznia brasileira (20 meses entre 1984 e 2006) e os Chacobo da Amaznia boliviana (23 meses entre 1991 e 2011). Em 2007, ele esteve tambm brevemente entre os Cashinahua, do lado peruano da fronteira. Alm da relao homem-animal, seus trabalhos abordam essencialmente a organizao social, as relaes entre o simbolismo e a cultura material, as mascaradas rituais, as tatua-gens, a ornamentao corporal e a construo de identidades coletivas nas terras baixas da Amrica do Sul.
Anurio Antropolgico VII.indd 27 18/03/2013 14:52:49
-
28 Animais demais
Notas
1. De todos os animais caados com frequncia, apenas a anta (Tapirus terrestris) nun-ca criada. Esta nica exceo provm antes do perigo sobrenatural que ela representa do que das dificuldades reais, suplantveis, relativas sua familiarizao (Frank, 1987). Tradicionalmente, nenhum dos animais dos Matis , propriamente falando, domesticado, pois sua reproduo se efetua apenas excepcionalmente em cativeiro. Acontece por vezes, segundo os Matis, que macacos nasam na aldeia, mas, contrariamente a Serpwell (1988), parece-nos difcil ver nisso um primeiro passo em direo domesticao. Por um lado, em razo da raridade extrema deste fenmeno (agravado pela taxa de sobrevivncia e a longevidade derrisrias dos xerimbabos); de outro lado, por razes ideolgicas esboadas em Erikson (1987, 2000), que diferem consideravelmente daquelas avanadas por Descola (1998a). Este defende, na verdade, a posio hiperculturalista, segundo a qual os animais no teriam sido domesticados na Amaznia porque eles j assim estavam no imaginrio. Para uma refutao desta posio, ver Erikson (1998), que leva em considerao o aspecto etnozootcnico da questo e amplia a reflexo, incluindo a introduo de animais domsti-cos de origem europeia. Para explicaes mais utilitaristas sobre a ausncia de domestica-o na Amaznia, ver Gade (1985, 1987).
2. Como a maior parte das populaes amaznicas, os Matis praticam uma policultura itinerante com o uso de queimadas, abrindo novas roas regularmente. Isto dito, ainda que as antigas roas sejam deixadas aps dois ou trs anos de produo, elas jamais so comple-tamente abandonadas, as pessoas as revisitam periodicamente para caar e, sobretudo, para recolher cachos de pupunha (wani; Guilielma gasipas).
3. Santos-Granero (2009) evoca alguns exemplos deste tipo. Na mesma direo, um Marubo contou-me certa vez que seus parentes, capturados outrora pelos Matses, ainda que perfeitamente integrados, teriam sido por fim mortos. Na verdade, eles se tornaram to numerosos que conseguiram fundar sua prpria maloca, em prejuzo de seus raptores.
4. Os Waypi (amerndios de lngua tupi) recorrem a estratagema idntico, camu-flando a origem silvestre de seus animais familiares ao modificarem seus nomes (Grenand, 1980). Entre os Matis, a maior parte dos termos novos no tem, at onde posso saber, ne-nhuma significao especfica, exceo de poshto (ventre) e musha (espinho). Alguns se encontram no lxico dos grupos Pano vizinhos, como designao ordinria de uma espcie. Dienst e Fleck (2009), primeiros a chamar a ateno dos linguistas sobre este fenmeno, propuseram designar tais termos de pet vocatives.
5. A maioria dos amerndios das terras baixas da Amrica tropical probe totalmente o consumo de animais familiarizados (Erikson, n.d.). Contrariamente maioria dos outros povos amaznicos (mas assim como os Tupis de Rondonia [Dal Poz, 1993] e outros mem-bros de sua famlia lingustica, tal como os Shipibo [Roe, 1982] ou os Cashibo [Frank,
Anurio Antropolgico VII.indd 28 18/03/2013 14:52:49
-
29Philippe Erikson
1987]), os Matis praticam um ritual no qual um animal familiar morto e comido depois que os consumidores tenham sofrido flagelaes rituais, como se para expiar tal trans-gresso. Isto posto, o consumo de xerimbabos fora desse contexto muito particular objeto de absoluta proibio. Cabe notar que isso particularmente estrito no caso dos adolescentes (buntak), que no podem em hiptese alguma consumir carne de animais familiarizados, sem dvida porque uma das condies necessrias para a suspenso da proibio desta carne suportar chicotadas rituais. Ora, em tempos ordinrios (mesmo fora do ritual de morte de um xerimbabo), os buntak so precisamente os principais recep-tculos das flagelaes rituais, destinadas a fortalec-los e a faz-los crescer. O chicote , portanto, normal entre eles, e no poderia ser assim excepcional
6. Note-se, entretanto, que algumas espcies (macacos barrigudos e titi-vermelhos, especialmente) so proibidas de ter contato com a gua. Os Matis dizem que elas no su-portam nem banho, nem chuva.
7. Teoricamente, proibido aos jovens adolescentes (buntak) criar animais. Aceitar a oferta de um caititu assim como assistir a um parto equivale a reconhecer uma mudana de estatuto. Inclusive, parece que toda a lgica simblica matis visa afastar siste-maticamente os adolescentes humanos dos animais familiares, sem dvida em razo da natureza simtrica e inversa de suas respectivas trajetrias (descendente para os animais, ascendente para os jovens). De fato, os xerimbabos, que jamais apanham, so de alguma maneira uma via de juventude, pois o objetivo da familiarizao justamente o de fazer crianas, enquanto os adolescentes, ao contrrio, so precisamente aoitados para que amaduream. Ou seja, uns como os outros esto em categorias que se poderia definir como transitrias, assegurando a passagem do domstico ao selvagem, num caso; do imaturo ao maduro, no outro. Sem dvida, igualmente em funo dessa propenso a encarnar a liminaridade de maneira quase icnica que os buntak so igualmente aqueles a quem se deve obrigatoriamente confiar o preparo ritual da primeira presa da metade ayakobo abatida com uma zarabatana nova, que at ento tenha servido apenas para matar presas da metade tsasibo (Erikson, 2001). Com efeito, ao final dessa refeio ritual, a zara-batana passa do status de uma arma jovem, destinada a matar animais prximos (tsasibo), ao de uma arma madura, usada para matar animais distantes (ayakobo).
Anurio Antropolgico VII.indd 29 18/03/2013 14:52:49
-
30 Animais demais
Referncias bibliogrficas
BEHRENS, Clifford. 1983. Shipibo Ecology and Economy. Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles, University Microfilms International, Ann Arbor.
CALAVIA SAEZ, Oscar. 2010. O melhor parente do homem. Disponvel em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/o-melhor-parente-do-homem. Acessado em: 21/04/2012.
CORMIER, Loreta. 2003a. Animism, cannibalism, and pet-keeping among the Guaj of Eastern Amazonia. Tipiti, v. 1, n.1:81-98.
_____. 2003b. Kinship with monkeys. The Guaj foragers of eastern Amazonia. New York: Columbia University Press.
CREVAUX, Jules. 1987 [1879]. Le mendiant de lEldorado. De Cayenne aux Andes, 1876-1879. Paris: Phbus.
DAL POZ, Joo. 1993. Homens, animais e inimigos: simetrias entre mito e rito nos Cinta Larga. Revista de Antropologia, So Paulo, USP, v. 36:177-206.
DESCOLA, Philippe. 1998a. Pourquoi les indiens dAmazonie nont-ils pas domestiqu le pcari? Gnalogie des objets et anthropologie de lobjectivation. In: Lemonnier & Bruno Latour (eds.). De la prhistoire aux missiles balistiques. Lintelligence sociale des techniques. Paris: Editions de la Dcouverte. pp. 329-244.
_____. 1998b. Estrutura ou sentimento: A relao com o animal na Amaznia. Mana, n. 4 (1):23-45.
DIENST, Stefan & FLECK, David W. 2009. Pet vocatives in Southwestern Amazonia. Anthropological Linguistics, 51 (3-4):209-243.
ERIKSON, Philippe. n.d. [1983]. Lanimal (sauvage, familier, domestique) en Amazonie indigne. Mmoire de matrise, Universit Paris X-Nanterre.
_____. 1987. De lapprivoisement lapprovisionnement. Chasse, alliance et familiari-sation en Amazonie amrindienne. Techniques et Cultures, 9:105-140.
_____. 1988. Apprivoisement et Habitat chez les Amrindiens Matis (Langue Pano, Amazonas, Brsil). Anthropozoologica, n. 9:25-35.
_____. 1998. Du pcari au manioc ou du riz sans porc ? Rflexions sur lintroduction de la riziculture et de llevage chez les Chacobo (Amazonie bolivienne). In: Martine Garrigues-Cresswell & Marie Alexandrine Martin (eds.). Rsistance et changements des com-portements alimentaires. Techniques & culture, n spcial 31-32:363-378.
Anurio Antropolgico VII.indd 30 18/03/2013 14:52:49
-
31Philippe Erikson
_____. 2000. The Social Significance of Pet-keeping among Amazonian Indians. In: Paul Poberseck & James Serpell (eds.). Companion Animals and Us. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 7-26.
_____. 2001. Myth and Material Culture: Matis Blowguns, Palm Trees, and Ancestor Spirits. In: Laura Rival & Neil Whitehead (eds.). Beyond the Visible and the Material: the Amerindianization of Society in the Work of Peter Rivire. Oxford: Oxford University Press. pp. 101-121.
FAUSTO, Carlos. 2008. Donos demais: maestria e propriedade na Amaznia. Mana 14:280-324.
FRANK, Erwin. 1987. Die Tapirfest die Uni. Anthropos, 82:151-181.
GADE, D.W. 1985. Animal/man Relationships of Neotropical Vertabrate Fauna in Amazonia. Nat. Geogr. Soc. Res. Rep., 18:321-326.
_____. (ed.). 1987. Festschrift to Honor Frederick J. Simoons. Journal of Cultural Geography, n spcial, 7(2).
GRENAND, Pierre. 1980. Introduction ltude de lUnivers Waypi. Ethnocologie des Indiens du Haut Oyapock, Guyane Franaise. Paris: SELAF.
KOSTER, Jeremy. 2009. Hunting Dogs in the Lowland Neotropics. Journal of Anthropological Research, v. 65:575-610.
ROE, Peter. 1982. The Cosmic Zygote. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
SANTOS GRANERO, Fernando. 2009. Vital Enemies. Slavery, Predation, and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: Texas University Press.
SERPELL, James. 1988. In the Company of Animals: A study of Human-Animal Relationships. New-York: Cambridge University Press.
TEXEIRA PINTO, Mrnio. 1997. Ieipari. Sacrifcio e vida social entre os ndios Arara. So Paulo: Editora Hucitec/Anpocs/Editora ufpr.
VANDER VELDEN, Felipe. 2010. Inquietas Companhias: sobre os animais de companhia entre os Karitiana. Tese de Doutorado em Antropologia Social, Universidade de Campinas.
_____. 2011. Rebanhos em aldeias: investigando a introduo de animais domesticados e formas de criao animal em povos indgenas na Amaznia (Rondnia). Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 5, n. 1:129-158.
VILLAR, Diego. 2005. Indios, blancos y perros. Anthropos (Sankt Augustin), 100 (2):495-506.
Anurio Antropolgico VII.indd 31 18/03/2013 14:52:49
-
32 Animais demais
Resumo
Para os Matis, o espao obtido da flores-ta para habitar e cultivar representa uma conquista sobre o universo dos animais e dos espritos, um espao socializado que deve ser preservado a todo custo contra o possvel retorno dos antigos donos. Por isso, os animais familiares admitidos na maloca formam, enquanto categoria li-minar, na fronteira entre o social e o anti--social, um perigo simblico que pode ser comparado aos trechos de florestas em processo de regenerao. As restri-es topogrficas impostas aos animais familiares refletem portanto a ambigui-dade inerente sua insero social.
Palavras-chave: Amaznia, Matis, po-vos indgenas, animais familiares, espri-tos-donos
Abstract
For the Matis, human dwelling space and areas used for slash-and-burn agriculture are but temporary clearings in the jungle and as such, ground gained against its original inhabitants. Great care is there-fore taken to protect this socialized space against possible recapture by its pristine owners: animals and forest-dwelling spirit beings. Pet animals, as a liminal category on the threshold between so-cial and anti-social, therefore appear as symbolically dangerous, in many ways like fallow gardens on their way towards forest regeneration. The topographical restrictions imposed on pets therefore reflect the inherent ambiguity and frailty of their social integration.
Keywords: Amazon, Matis, indigenous people, pets, masters spirits
Anurio Antropolgico VII.indd 32 18/03/2013 14:52:50
-
33Uir F. Garcia
O funeral do caador: caa e perigo na Amaznia*
Uir F. GarciaCESTA-USP
CPEI-UNICAMP
memria de T Guaj
A histria aconteceu na aldeia Juriti, durante o vero de 2008,1 em um quente ms de novembro. Um homem, excelente caador, procurava na mata por um grupo de guaribas (war [Alouatta belzebul]), cujo caracterstico som gutural (o canto, dizem os Aw) tinha sido ouvido ao longe na tarde anterior. Enquanto caminhava, este homem se deparou com o rastro de porcos quei-xada (txah [Tayassu pecari]), porm, por estar relativamente longe da aldeia e no estimar com preciso a que distncia estariam os animais, resolveu seguir sozinho ao encalo da vara. Tratava-se de uma atitude no usual, pouco reco-mendada para uma caada como aquela, cuja tendncia ser preferencialmente coletiva, reunindo o maior nmero possvel de homens (e por vezes mulheres).
Aps andar alguns quilmetros, de maneira silenciosa sobre o barulhento cho de folhas secas que preenchem a superfcie da floresta quela poca do ano, ouviu ao longe um som muito parecido com o coaxar do sapo warakakai (que no consegui identificar). Atento, continuou sua caminhada seguindo a trilha e, agora, ao se aproximar daquele coaxar familiar, percebeu no ser o tal sapo, porm o choro (ja) dos filhotes de queixadas (txah imymyra), o que renovou a sua confiana na caada. Logo em seguida, o homem pde avistar toda a vara, porm na mesma hora um jacupemba (jak [Penelope superciliaris]) ao v-lo se assustou, levantando voo, acusando a presena humana ali e espan-tando os queixadas mais alguns quilmetros frente pois, como lembram os Aw, os porcos so medrosos (irir tem medo) e se assustam a qualquer movimento ou som. O caador caminhava sozinho e era persistente, por isso, mais alguns quilmetros adiante voltou a alcanar os animais. Ao se aproximar novamente da vara que comia distraidamente em um cocal, uma cotia (akutx) gritou e correu, fazendo com que os animais sassem outra vez em disparada. O caador, no entanto, estava preparado e em boa posio, com condies de acertar alguns porcos. O homem armou a sua taboca no arco, puxando a corda
Anurio Antropolgico/2011-II, 2012: 33-55
Anurio Antropolgico VII.indd 33 18/03/2013 14:52:50
-
34 O funeral do caador
com retido, mas no exato momento do disparo a corda arrebentou. Aturdido, sentindo o cho estremecer, ao assistir passagem de uma grande
quantidade de queixadas controlando a ansiedade e mantendo calma nosso caador tentava remendar inutilmente a forte trana de fibras de tucum que dava forma corda do arco. Quando enfim a reparou, os porcos j se encontra-vam longe. O caador perdeu os porcos, a caada, a sade... a sorte, e retornou para casa triste e doente aps o episdio.
Quem me narrou boa parte desta histria foi Piraima, o genro deste ca-ador quando eu tentava descobrir o motivo da sbita doena que se abatera sobre aquele homem enquanto eu realizava mais uma etapa de trabalho de campo em 2008. Parto deste pequeno relato, agregando outros elementos no decorrer do texto, para discutir o paralelismo entre caa, guerra e sade enfati-zado nas atividades de caa aw-guaj. Trata-se de um tema j abordado em ou-tros trabalhos da literatura etnolgica sul-americana (Descola, 1996; Erikson, 1987; Hugh-Jones, 1996; Lima, 1996; Viveiros de Castro, 2008), e que ser explorado aqui a partir da etiologia das doenas que regem boa parte da relao entre caadores e presas.
Apresento o universo de agresses morais sofridas por caadores, discutindo uma sintomatologia particular s passvel de entendimento ao conhecermos as concepes aw-guaj sobre a pessoa e os animais. Argumento que as agresses fsicas e morais dos animais vida humana so centrais para o entendimento de como se configura a caa aw-guaj, sendo o conhecimento sobre a origem de tais agresses (que acarretam sorte e azar; sade e doena) parte importante do conjunto de saberes que regem a relao entre humanos e animais. O artigo no pretende ser um balano terico sobre o tema, mas uma contribuio etnogrfi-ca ao debate sobre a caa amerndia e etnologia sul-americana de uma maneira geral. Os materiais subsequentes so baseados na minha experincia de nove meses de trabalho de campo entre os Aw-Guaj, entre os anos de 2007 e 2009, que originou a minha tese de doutorado defendida em 2011 (Garcia, 2010).2
ContextoOs Aw-Guaj so um pequeno grupo de caadores, habitantes da por-
o oriental da Amaznia, mais exatamente a poro noroeste do estado do Maranho, entre as bacias dos rios Gurupi, Turiau e Mearim. Falantes de uma variante do tupi-guarani, sua populao estimada em cerca de 400 pessoas, distribudas por quatro aldeias que se situam em trs reas indgenas diferentes (Terras Inggenas Alto Turiau, Aw e Car), formando um conjunto: Guaj, Juriti, Tiracamb e Aw. Alm destes, h evidncias de grupos vivendo em
Anurio Antropolgico VII.indd 34 18/03/2013 14:52:50
-
35Uir F. Garcia
isolamento voluntrio nas reas Caru e Arariboia (tambm no Maranho), cuja populao no pode ser estimada com preciso. Historicamente, no constru-am aldeias permanentes e, at o contato, organizavam-se em pequenos aglome-rados baseados em acampamentos semipermanentes, formados por uma ou duas famlias nucleares, dispersos sobre um territrio tambm ocupado por outros povos indgenas (Tenetehara e Kapor).
At a poca do contato (cujo processo foi intensificado durante a dcada de 1980) no praticavam agricultura, atividade que tem sido introduzida ao longo dos anos nas aldeias pela Fundao Nacional do ndio (Funai), principalmente o cultivo de mandioca, macaxeira, milho, arroz, abbora, feijo, frutas, dentre outros. Tal atividade, no entanto, ainda est diretamente ligada Funai, que or-ganiza os trabalhos com as comunidades. Trabalhadores temporrios so con-tratados para auxiliar os indgenas em roas coletivas, e o sistema de trabalho o mesmo adotado pela tradicional agricultura de corte e queima maranhense (ver Forline, 1997).
Trata-se de um povo composto por caadores habilidosos, que possuem uma tcnica apurada para a captura de mamferos arborcolas. As caadas so realiza-das de diversas maneiras: individuais; em casal; com grupos de irmos, cnjuges e filhos; caadas de uma jornada diurna ou esperas noturnas; e at mesmo gran-des caadas coletivas, que podem mobilizar boa parte de uma aldeia. Executadas com espingardas, arco e flechas e armadilhas, as caadas chamadas generica-mente de wat (andar-caar), como j discuti em outra ocasio (Garcia, 2012) so a matria mesma da vida aw. Por serem momentos importantes, os tipos de animais caados (hamaa, minha caa), as atitudes dos caadores, sade e pessoa so temas que aparecem juntos e que devem ser compreendidos aqui an-tes de darmos prosseguimento anlise.
Caa e pessoaFisiologicamente, os Aw-Guaj definem a pessoa humana como constituda
por trs elementos caractersticos: ipirra, haitekra e haaera, respectivamente; ou como traduzido para o portugus: couro (ipirra), carne (haitekra) e raiva (haaera). Nas palavras dos Aw: quando um indivduo morre, seu cou-ro permanece na terra at apodrecer, e sua carne vai para o iw (um conjunto de patamares celestes), enquanto a raiva... esta segue para a floresta (kaa), para o mato, de preferncia os locais recnditos, e se transforma em aj (es-pectros necrfagos que vivem na floresta e atacam os humanos com doenas, e que tm os gambs como animais de criao).3 Noes centrais para o entendi-mento da sociocosmologia aw-guaj, ipirra, haitekra e haaera so os princpios
Anurio Antropolgico VII.indd 35 18/03/2013 14:52:50
-
36 O funeral do caador
que formam a pessoa, promovem a vida e possibilitam a separao do ser aps a morte. Poderamos traduzir grosseiramente ipirra por corpo-pele; haitek-ra por vitalidade (cujo correspondente ocidental, apenas como paralelo, seria alma); e haaera por raiva ou alma penada. Nenhum destes elementos um princpio abstrato, tais como representaes do que seria a pessoa humana, pelo contrrio, todos relacionam noes fisiolgicas centrais como anatomia e sintomatologia e fornecem uma terminologia apropriada para o entendimento das relaes humanas (ver Garcia, 2010:79-119).
comum na literatura de nossa disciplina traduzirmos conceitos amerndios referentes s diversas formas com que concebido e experimentado o destino da pessoa post mortem, atravs de ideias como alma, sombra, esprito, espec-tro, princpio vital, e tantos outros. Fausto (2001:390) pontua o fato de existi-rem povos que postulam a existncia de vrios desses princpios (como os Pano), outros que os reduzem a um ou dois (como os Tupi-Guarani). Cesarino observa que noes recorrentes nas culturas amerndias, tais como o vak marubo, os karon/garon j, a e o tao we dos Arawet, entre outras tantas, parecem orbitar em um campo semntico distinto daquele que caracteriza as noes de alma de nos-sa herana clssica, muito embora a etnografia se utilize frequentemente da mes-ma palavra (Cesarino, 2008:34). Ou, como ilustra Lima, ao argumentar que a dicotomia entre corpo e alma no se aplicaria realidade yudj (povo Tupi do baixo Xingu), uma vez que a alma no um princpio estabelecido em oposio a corpo, como se se referisse exclusivamente humanidade, mas, ao contrrio, algo que relaciona muitas outras ideias do mundo yudj, como animais, duplos, princpios vitais, fantasmas, e outros (Lima, 2002).
Viveiros de Castro (1992:202) tambm se mostra reticente na utilizao de termos como alma, sombra e princpio vital como tradutores de ideias a res-peito da separao da pessoa Arawet, uma vez que tal populao apresenta uma multiplicidade de enunciaes a respeito da morte, sendo difcil reduzi-las a uma nica noo. Soma-se a isto o fato de a morte no ser para os Arawet (tal como para outros povos) um evento finalizador das relaes entre os seres, ao contrrio: a ideia de haitekra, defendo, prope os mesmos questionamentos. Se, por um lado, o haitekra pode ser superficialmente comparado s nossas noes de esprito ou alma, tal princpio no poder ser devidamente compreendido se o reduzirmos somente a isto. Dentre outras particularidades, o haitekra englobaria elementos fsicos, como o corao (jaaina) e o fgado (ipia).
O que nos interessa aqui, no entanto, a relao entre caa, presas e, digamos, sade humana, algo que aparece naquele episdio inicial. Porm, para entender-mos o que ocorreu quele caador, se faz necessrio apresentar, alm do haitekra,
Anurio Antropolgico VII.indd 36 18/03/2013 14:52:50
-
37Uir F. Garcia
outro princpio da pessoa aw, o haaera4 noo central para a compreenso da boa e da m sorte de um caador. Os Aw traduzem haaera para o portu-gus como raiva, no se tratando da mesma raiva expressa pelo termo imahy (bravo, aborrecido). Esta ltima um sentimento que, apesar de perigoso e desprezado, muito comum e importante em diversas situaes, como na guerra. Haaera, ao contrrio, pode ser traduzido pela ideia de raiva-espectro, devido tan-to sua condio de sombra/alma bestial, liberada aps a morte processo cuja consequncia a sua transformao em um ser que pura raiva, os aj quanto ao fato de atuar durante a vida como um dos componentes da pessoa humana. Para uma melhor definio do termo, podemos contrastar o haaera com o haitekra, sendo este ltimo um princpio que agencia a vida, enquanto o haaera agencia a morte, as dores e os sofrimentos.
O haaera uma substncia constitutiva do prprio ser: Est por aqui!, me disse certa vez um interlocutor, apontando para o seu peito e barriga. Humanos e alguns animais possuem haaera e, no caso dos animais, esta potncia que ator-menta os humanos, sobretudo os caadores na forma de vingana animal aps as caadas emanando doenas e retirando a sorte para caadas futuras. No caso particular da constituio da pessoa, o haaera aquilo que diversos autores chama-riam de espectro de um morto (ver, por exemplo, o Jurupari dos Waipi; Gallois, 1988:178). O haaera no seria apenas o espectro de um morto recente, uma som-bra da pessoa morta que um dia se transformar em fantasmas aj, mas tambm uma substncia que compe vida e, somente aps a morte, vaga como alma pe-nada e se mescla massa de seres aj, que so dependentes do haaera para viver.
No possvel afirmar que o haaera possua uma aparncia, ao contrrio, os Aw o definem literalmente como uma substncia, algo espectral. como o seu repelente! me disse certa vez um agente que possui o poder de penetrao to capilar quanto gases, odores ou fumaa. Um princpio invisvel e espectral, porm dotado de grande penetrao. algo que todo humano carrega, pois faz parte da composio fsica humana, porm, ao ser liberado violentamente aps a morte, funciona como uma energia formadora de seres ligados morte, os aj.5
Assim como os humanos, diversas presas animais tambm liberam haaera, dificultando em muito a vida das pessoas.
Animais e perigoA caa uma atividade que envolve perigo, tanto por sua complexidade tc-
nica (por ser extremamente desgastante, com o caador sujeito a ser atacado por animais, machucar-se de vrias maneiras e mesmo falecer), quanto pelo fato de muitos animais caados serem dotados de haaera e, atravs disso, se vingarem
Anurio Antropolgico VII.indd 37 18/03/2013 14:52:50
-
38 O funeral do caador
dos humanos. O haaera em questo homlogo ao princpio nocivo e raivoso que compe a pessoa aw. No caso dos animais, o haaera no se transforma em aj, mas est prximo ao que a literatura etnolgica sul-americana denomina de vingana animal e termos congneres (ver, por exemplo, Lima, 1996; Hugh-Jones, 1996; Viveiros de Castro, 2008). No que concerne caa, o haaera pode ser lanado aos humanos por animais mortos, pelos fantasmas aj, e at mesmo por humanos falecidos. Assim me foi definido por Uirah, um interlocutor:
Quando vamos matar os guaribas, eles ficam muito aflitos, pois pensam que ns somos madeireiros (ou inimigos). Aps comermos sua carne, um deles vem durante a noite enquanto estou dormindo, e me diz: voc me matou, n, seu madeireiro? Agora vou jogar minha raiva (haaera) em voc.
No dia seguinte, o homem pode acordar doente, com febre, indisposto ou, mesmo que goze de alguma sade, pode experimentar um completo estado de azar em sua vida. O haaera pode atingir mulheres e crianas, porm, quase sempre lhes causam doenas, mas quando atinge e se aloja nos homens chamado pnemuhum (pne-muhum, termo complexo que pode ser traduzido por pane-ma, ou azar na vida).
Em um sentido estrito, a ideia de pnem-uhum faz referncia a um conjunto de circunstncias e estados que vo desde um mal-estar como uma indisposio, dores e cansao excessivo passando por doenas mais graves e chegando at mesmo perda do haitekra (o princpio vital). Uma vez pnemuhum irritado, fracassado e sem pacincia o homem deve permanecer s em sua rede at que as coisas melhorem. Os Aw no gostam de conversar sobre o pnemuhum como fazem com outros assuntos, o assunto em si deve ser evitado e, quando conver-svamos sobre o tema, era comum eu ouvir: assim mesmo!, ou No sei no, eu no lembro!, ou ainda Pergunte para outro!. Como se o mero fato de fa-lar sobre o pnemuhum fosse perigoso. Algo parecido foi observado por Clastres em relao aos Guayaki. O autor informa que seus interlocutores tinham pouca prolixidade quando tratavam do pane (palavra guayaki anloga ao pnemuhum aw-guaj): O que pane? Sob aparncia andina, essa pequena palavra perigosa designa de fato a pior das coisas que pode acontecer a um ndio: a m sorte na caa (Clastres, 1995:19).
Em um sentido amplo, pnem um conhecido cognato tupi encontrado des-de a lngua tupinamb (Magalhes, comunicao pessoal), estando presente em diversos grupos Tupi contemporneos como os Wajpi e os Guayaki signifi-cando infeliz/ sem sorte na caa. O sufixo -uhu um intensificador (Magalhes,
Anurio Antropolgico VII.indd 38 18/03/2013 14:52:50
-
39Uir F. Garcia
2007), compondo a forma pnemuhum, sendo este um qualificador atribudo a algum com algum tipo de azar; azarado seria a melhor traduo do termo. Neste ponto, o pnemuhum seria anlogo ideia de panema, o azar na caa, na pesca e outros infortnios, tal como conhecido por diversas comunidades tradi-cionais do norte brasileiro (Galvo, 1976; Matta, 1973; Wagley, 1988; e para um caso amerndio, Clastres, 1995),6 tendo sido discutido recentemente por Mauro Almeida (2007). Mesmo os Aw podem se referir aos seus azares atravs do termo panema, em portugus, da forma como aprenderam com os funcionrios do posto indgena nesses anos de contato ideia que traduz de maneira muito satisfatria o pnemuhum. relativamente comum um homem voltar mudo da floresta e, ao chegar em casa, comentar em portugus, T panema!, como se dissesse que a caada foi improdutiva, ou mesmo como um sinal de que algo pior houvesse acontecido. Mas o que ocorre de fato nessas situaes? O que, alm de um acidente fsico e o azar nas caadas, pode ocorrer de to ruim a um caador na floresta?
PanemaO estado pnemuhum acomete um caador no cotidiano, sendo quase sempre
o resultado de uma vingana animal, uma descarga de haaera oriunda de algu-ma presa abatida. Os aj tambm, decerto, podem lanar o haaera em um hu-mano, deixando-o doente e/ou pnemuhum. Veados, macacos, antas, guaribas, porcos, cotias, tatus, dentre outros animais, so dotados de um haaera violento. Desta forma, podemos formular de maneira simples que o pnemuhum um estado circunstancial que experimenta um caador (mas no s) aps o ataque de um haera, seja ele produzido pelos animais abatidos ou pelos fantasmas aj.
Alm disso, h um conjunto de atitudes e pequenos eventos que podem pro-duzir uma exclusiva m sorte na caa, e nem sempre esto relacionados ao potencial assassino do haaera. Em outras palavras, pnemuhum pode ser tanto o sintoma grave de um ataque espectral e assassino relacionado sade e ao desequilbrio na composio de uma pessoa quanto um azar momentneo, resultado da quebra de uma regra ou prescrio menor (algo como uma quebra de tabu). Existiria, como em tudo na vida, graus de azar e de sorte, coragem, medo, alegria, tristeza... Da mesma forma, Clastres observa que o pane entre os Guayaki era evocado a propsito de circunstncias ora graves, ora fteis de sua existncia cotidiana (Clastres, 1995:18).
Se um homem permanece durante sucessivas caadas matando apenas pe-quenos animais (tal como aves menores, tatus, roedores, ou mesmo capturando apenas jabutis), ele deve se preocupar, pois pode estar pnemuhum, uma vez que
Anurio Antropolgico VII.indd 39 18/03/2013 14:52:50
-
40 O funeral do caador
as grandes caas podem ter desaparecido. Assim, podem provocar o pnemuhum: 1. um acesso de raiva (ou a raiva contida); 2. tristeza ou aborrecimento de uma esposa em relao ao seu marido; 3. saudades e lembranas de algum; 4. qual-quer outro sentimento que altere o humor do caador, ou de algum para com o caador, tornando-o triste, kii. Notem que kii um termo cuja traduo pode ser medo e/ou tristeza, sentimentos que, neste contexto, so experimentados de maneira simultnea a partir da ideia de um medo-tristeza; 5. uma esposa ou filhos no podem fazer ccegas (kinihi) nas axilas de seu marido/pai, pois ele perderia a firmeza no arco ou na espingarda, seus braos ficariam moles e ele se tornaria pnemuhum; 6. da mesma forma, no se deve caar aps o nascimento de um filho, pois os homens, alm de no matarem nada, podem enlouquecer. Caso um homem v caar no perodo de resguardo do nascimento do filho, um calor intenso se apossar do seu corpo, calor este que um prenncio da loucura; 7. em alguns casos (como as caadas de espera noturna), anunciar que est indo mata pode causar panem, pois os animais ouvem (nu) e, por isso, sabem (akw) que sero caados; 8. alguns sonhos com cobras, por exemplo tambm podem deixar o caador sem sorte.
Alm destas, h vrias prescries de ordem sexual e de atitude que engros-sam esta lista. Em linhas gerais, quando um homem est pnemuhum, ele tem dificuldades em encontrar animais para caar (embora os animais no alterem o seu ciclo), e muito comum ele caminhar durante todo um dia e no encontrar presa alguma e, caso encontre, bem provvel que no a mate. Os bichos sim-plesmente desaparecem. um estado que, tal como uma doena, a pessoa que a contraiu sente. Nesses casos, ele deve voltar para casa, falar com sua esposa o que est havendo e descansar, pois quando o pnemuhum/ haaera de um tipo fraco, ele tende a passar.
Trata-se aqui de um conceito altamente abstrato, como gravidade, como ob-serva Almeida sobre a complexidade da ideia de panema entre seringueiros do Acre uma ideia que envolve mecanismos e regras particulares que, por sua vez, so postos em relao a uma ontologia distinta da nossa ontologia naturalista que distingue domnios naturais e domnios morais, constituindo uma economia ontolgica da caa (Almeida, 2007:08-09):
[Panema] um estado que sentido no corpo, assim como sentimos um peso; [...] Panema, exatamente porque to generalizado como a gravidade, e to difuso como a honra pessoal, algo que se confirma a todo o momento pela experincia. Tudo se passa, de fato, como se panema fosse parte do mundo. [Panema um componente generalizado da ontologia de caadores da plancie
Anurio Antropolgico VII.indd 40 18/03/2013 14:52:50
-
41Uir F. Garcia
amaznica; e confirmado-corroborado por encontros pragmticos cotidia-nos. Para meu pai, que na infncia viveu na mata com meu av seringueiro, e depois tornou-se bancrio de carreira, assim como para o lder poltico e sindical Osmarino Amncio, panema nada tinha a ver com superstio, ou com religio, que ambos rejeitavam por razes diversas. Panema era um fato do mundo, que a experincia confirmava.] (Almeida, 2007:08-09)
Um fato do mundo, confirmado pela experincia, tambm me parece uma excelente definio para o pnemuhum aw-guaj, uma vez que tal estado sen-tido e experimentado por todos em um ou outro momento, em diferentes situ-aes de vida.
Um dos principais e mais devastadores efeitos do pnemuhum o poder de desconectar a pessoa de seu princpio vital, de sua vitalidade, o haitekra, como vimos acima. Uma clssica perda da alma, em termos xamnicos amaznicos, j foi bem discutida por alguns autores (para um balano, ver Viveiros de Castro, 2002:345-399). esse mal que a vingana dos animais (haaera) e dos aj produz nos seres humanos. Se pensarmos o pnemuhum a partir da fisiologia da pessoa aw, da relao entre os elementos haitekra (princpio vital), haaera (raiva) e ipirra (suporte fsico, corpo-pele), veremos que o pnemuhum pressupe um enfraquecimento, muitas vezes um abandono do haitekra (o princpio vital), de-vido a algum trauma como um susto ou uma grande dor sobre o ipirra (o corpo), ou mesmo um elevado acmulo de haaera (raiva) no corpo, provoca-do por mau-humor (imahy, braveza) ou tristeza (kii, medo-tristeza). Desta forma, um dos piores males a acometer um caador (e em consequncia, sua famlia) ele receber uma grande dose de haaera como vingana de uma presa abatida, capaz, inclusive, de expulsar o seu haitekra do corpo e deixando em troca o pnemuhum.
Em uma traduo geral, podemos afirmar que o haaera dos animais so agen-tes patognicos, lanados aos humanos por algum ser (animais, aj) como ataque ou vingana, causando doenas e eventualmente a morte. Quem ataca os huma-nos o prprio haaera do animal, uma parte dessubjetivada da presa morta, que se transforma em espectro, sendo liberado pela presa aps a sua morte, podendo se instalar no corpo de qualquer um. De acordo com a fala de Uirah, um ami-go interlocutor, o haaera de um guariba seria uma parte do guariba que sabe (akw) ter sido morta por um caador e, ao mesmo tempo, o prprio guariba. No meio da noite, o caador, e dependendo da potncia do golpe, toda a sua famlia podem acordar doentes. Muitos animais possuem um haaera perigoso: guariba, paca, cotia, veado, anta so sempre lembrados.
Anurio Antropolgico VII.indd 41 18/03/2013 14:52:50
-
42 O funeral do caador
O pnemuhum, como estamos vendo, um complexo que envolve ataques e cuidados de diferentes ordens. Vejamos um exemplo etnogrfico.
Uirho estava com um abscesso em sua testa, algo como uma grande espinha, dura e inchada, que j lhe doa h meses. Alm disso, e embora fosse um grande caador, estava passando por uma mar de azar, perdendo muitos animais duran-te as caadas. Quanto ao ferimento sem querer espremer a bola de pus que se formara na testa estava usando anti-inflamatrios que lhe eram fornecidos pelos auxiliares de enfermagem do posto indgena. Certo dia, relatou-me que estava cansado das dores em sua testa e estava decepcionado com os remdios dos kara (os no indgenas). Segundo ele, os remdios que estava tomando deveriam ex-pulsar aquele chumbo de espingarda que se alojara em sua testa, e que lhe fora lanado, meses antes, por um tatu que sobreviveu a um tiro seu.
Ele contou que, aps avistar o tatu durante uma caada, atirou no animal, que conseguiu, com sua carapaa, fazer com que o chumbo do tiro retornasse e se alojasse exatamente em sua testa (por isso ela estaria to inchada) e em seus braos (por esta razo vinha errando tantos alvos durantes suas caadas). Cansado da medicao que vinha tomando e disposto a resolver a situao, Uirah acabou pedindo a ajuda de um auxiliar de enfermagem, que fez um pequeno rasgo com um bisturi em sua testa, fazendo ser expelido do ferimento uma grande quantida-de de sangue e pus venenos (hawy), assim os Aw definem que estavam em seu corpo. Aps limpar o ferimento, o funcionrio o suturou com alguns pontos e, dias depois, Uirah estava recuperado de seu mal-estar (pnemuhum).
Inicialmente, o funcionrio se recusou a intervir na testa de Uirah, argu-mentando que, devido grande quantidade de pus, aquele abscesso demoraria a supurar, e que, com os remdios que lhe administrava, aquele inchao desa-pareceria. Mas o homem insistiu com o auxiliar de enfermagem, pois defendia que o que estava em seu rosto era como pedacinhos de chumbo que o tatu lhe mandara de volta. At mesmo animais de pequeno porte, como as cotias e os tatus, podem apresentar perigo e lanar haaera aos humanos. O perigo do tatu, por exemplo, est no seu couro duro (ipir hat) e, segundo os Aw, ele pode sobreviver aos tiros, alm de fazer pedaos de chumbo voltarem para o caador e se alojarem de forma invisvel em seus corpos. Trata-se aqui de um ataque fsico ao caador, o que embaralharia uma suposta separao entre as agresses fsicas e no fsicas (haaera) lanadas pelos animais abatidos, e que pode ser compreendido a partir daquilo que Almeida denomina economia ontolgica da caa, como j citei, em que os domnios fsicos e morais no podem ser tomados em separado (Almeida, 2007:08-09).
Anurio Antropolgico VII.indd 42 18/03/2013 14:52:50
-
43Uir F. Garcia
Medo e lembranaSe um homem vai caar desconfiado ou amedrontado, estar mais suscetvel
a ataques do haaera de animais e consequente perda do seu haitekra, tornando--se pnemuhum. E isso pode atingir tanto o caador quanto o seu equipamento de caa: espingardas, arcos e flechas. As espingardas, por exemplo, que apresentam muitos problemas, principalmente em suas molas e em seus parafusos, muitas vezes so avariadas por foras invisveis provenientes dos animais caados, cha-madas haaera (mas tambm faquinhas, flechinhas, foguinhos, chumbos, dentre outros nomes em portugus). Por isso, no episdio que abre este artigo, o arco do caador teria reagido to mal no momento em que foi acionado, e arrebentou.
O medo (kii) uma palavra que definitivamente no pode figurar no lxico de um caador. Os animais devem ser abatidos sem remorso, e o momento da morte das presas, mesmo que relembrado nas conversas noturnas sobre caadas, deve ser em seguida esquecido. Um bom caador no pode ter piedade das pre-sas, pois ele ficar fraco (memeka mole) e imprestvel para a caa (pnemuhum). Permanece o feito heroico, porm as preocupaes, as angstias e os medos que todos podem sentir no devem ser rememorados (imarakw, lembrana). Boa parte dos riscos de uma vingana animal eliminada quando o caador simples-mente no se importa em matar suas presas, ou esquece (imahar) as situaes em que as mortes ocorreram.
noite, e mesmo durante alguns dias seguidos, um caador pode se reunir com outros e contar suas proezas: vangloriando-se de como enganou uma paca; comentando a sua pacincia durante a espera de um veado; a boa estratgia na emboscada a um bando de guaribas; a forma como o vento dificultou sua audi-o durante a perseguio a uma ave; a resistncia a mordidas de muriocas em uma noite que esperava uma anta em um p de pequi; a alegria de saber que o jacar que mergulhou, aps ser ferido de raspo, emerge morto superfcie; o encontro com os aj durante uma espera noturna, quando o caador na ma-drugada fria soube manter a calma e no se apavorar, esperando os espectros se dissiparem, demonstrando grande coragem e sabedoria; a mordida de uma va-lente cotia que se escondeu no fundo de um buraco j devastado (mas l resistia), e de como, mesmo ferido o caador, aguentando a dor da mordida, agarrou-a pelo pescoo conseguindo asfixi-la; a flecha certeira, o tiro perdido, a plvora molhada, tudo lembrado noite, meia-luz, ao som de comentrios atentos, risonhos e curiosos.
Estes e outros acontecimentos, ora insignificantes, ora fantsticos, compem a vida de um caador. Tais momentos de embate, no entanto, no devem ser
Anurio Antropolgico VII.indd 43 18/03/2013 14:52:50
-
44 O funeral do caador
lembrados com remorso nem tristeza, mas, ao contrrio, com orgulho e rego-zijo. Eu sou melhor do que uma ona, no tenho medo dela, disse-me certa vez Piraima aps me mostrar orgulhoso dois caninos de uma ona pintada que ele havia matado. Se ela tem unhas, eu tenho a minha espingarda. Quando eu percebo uma ona no mato, eu a chamo bem alto, pode vir bicho, eu tenho uma espingarda e vou te matar!. E a ona, vista como bicho (hamaa, minha caa), se torna menos perigosa.
Caso as lembranas negativas de caadas sejam sistematicamente relembradas (como o engasgue ou a falha de uma espingarda; o corte profundo no p; o rom-pimento da corda do arco, ou qualquer outro evento desastroso), as coisas podem ficar perigosas. No que a lembrana em si crie o problema, mas ela acentuar o que j est errado (os erros e os azares que um homem pode estar tendo). Por isso, a frieza de um caador a sua melhor arma. Os jovens caadores so mais suscetveis a ataques de fantasmas (aj) e a outros haaera e, por vezes, perdem o controle ao voltarem da aldeia, gritando, quebrando coisas e flechando tudo o que encontram pela frente. Esquecer (imahar) a dor e o momento da morte do animal imprescindvel. Esquecendo-se do bicho, a sua raiva (haaera) no se aproxima dos humanos, ou ter menos chance de se aproximar. por esta razo que no gostam de falar sobre o haaera (a vingana animal) e o azar pnemuhum.
Muitas vezes diziam desconhecer o assunto; outras, que os animais no lanam mais haaera, isso s existe em outras aldeias. como se dissessem, Eu no acre-dito em vocs, haaera!, vocs no me atingem pois no existem!. Contam que, quando uma paca morta, seu haaera fica no buraco onde ela vivia at ir embora. O mesmo ocorreria com os tatus e as cotias, cujos haaera ficam no buraco; ou os guaribas, cujo haaera permanece nas copas das rvores. A lembrana (imarakw) sempre um componente perigoso. assim com os mortos, que devem ser esque-cidos, e assim ser com os animais abatidos que, mesmo depois de mortos, podem ser perigosos.
Faquinhas de queixadasO caso apresentado na abertura deste artigo, portanto, pode ser entendido
como um ataque do haaera dos queixadas que fugiram. Agora que sabemos um pouco mais sobre o funcionamento dos ataques dos animais, gostaria de retomar o episdio de nosso caador luz do que apresentei at o momento.
Aps perder a vara de porcos e a corda de seu arco arrebentar, o nosso ca-ador passou muitos dias em sua rede sem se levantar, comendo pouco e muito plido. Foi quando me relataram que os porcos haviam jogado suas faquinhas (takya mitxikain) contra ele, e foram essas faquinhas que cortaram a corda do
Anurio Antropolgico VII.indd 44 18/03/2013 14:52:51
-
45Uir F. Garcia
arco. Elas so invisveis e s os porcos as enxergam. As faquinhas ainda teriam entrado no corpo do caador, por isso ele estava pnemuhum, e deveria permane-cer em sua rede, descansando, sem dormir e comendo pouco, pois seu organis-mo, principalmente o fgado (ipi), estava fraco e sensvel a diversos alimentos.
Devido a esta caada malsucedida, este homem sonhou (imuh, sonho dele) enquanto passava os dias em sua rede. Sobre o sonho ele narrou:
Eu andava pela floresta e encontrei os rastros de uma vara de porcos. Caminhei bastante e, ao segui-la, fui surpreendido por inimigos kara (no indgenas, madeireiros, neste caso) que, ao me verem, me deram um tiro, e me mataram.
Ao acordar, sentiu-se ainda mais doente e, por isso, foi enfermaria do posto pedir analgsicos. Aps ter restabelecido a sade, o nosso caador passou a uti-lizar um outro arco que mantinha em sua casa, e aposentou temporariamente o que foi atingido pelas faquinhas dos queixadas. Tal como a caa aos guaribas, os porcos podem ser oponentes difceis, sendo desejvel ca-los em conjunto com outras pessoas e, tal como os guaribas, tambm enxergam os humanos como inimigos (miha), atacando-os com o seu haaera, aqui chamado de fa-quinhas (takya mitxikain).
Os Aw lembram que nas caadas os queixadas feridos pelos humanos que conseguem escapar so tratados por suas esposas, irms (e parentes prxi-mos) ao chegarem em casa. A glndula dorsal encontrada nesta espcie (Tayassu pecari) libera uma secreo branca com odor forte definida pela biologia oci-dental como uma forma de os indivduos do mesmo bando demarcarem o terri-trio e se comunicarem em situaes de perigo uma substncia leitosa chamada pelos Aw de txah poh (remdio dos queixadas), que os animais carregariam para passar uns nos outros, caso fossem feridos por inimigos como os Aw (vis-tos pelos porcos como caboclos, kara no indgenas ou madeireiros). Vemos aqui que o nosso caador foi caar porcos, mas foi atingido por eles, ficando doente, como se, ao invs dos porcos, ele mesmo tivesse se transformado em presa para os animais um reverso da caada, uma possibilidade real na vida de caadores especializados como os Aw.
Desta vez, tal como fazem os porcos entre si ao sobreviverem a uma caada de forma paralela um humano teve que procurar medicao para se curar do ataque de porcos, e no o contrrio, como agem sempre os porcos, que tm como recurso a sua glndula dorsal. Alm disso, aps o infortnio na caa, nosso caador sonhou com inimigos, foi morto por eles, e acordou ainda mais doente.
Anurio Antropolgico VII.indd 45 18/03/2013 14:52:51
-
46 O funeral do caador
comentando o sonho, no qual este homem experimenta a morte devido m sorte na caa (pnemuhum), que eu desejo finalizar este artigo.
O funeral do caadorOs sonhos, lembra Descola, desempenham um papel muito particular na
cinegtica ashuar. Os chamados kuntuknar, espcies de sonhos premonitrios,
constituem augrios favorveis caa e seu significado latente se interpreta por uma inverso, termo por termo, do seu contedo manifesto. Um sonho geralmente definido por kuntuknar quando pe em cena seres humanos agressi-vos ou particularmente inofensivos, enigmticos ou muito numerosos, deses-perados ou sedutores (Descola, 2006:136).
A partir desta ideia, o autor apresenta diversas situaes em que sonhar com uma mulher de carnes fartas que convida para o coito exibindo o seu sexo, ou so-nhar com uma multido de gente tomando ruidosamente banho num rio indica um encontro com queixadas (2006), dentre outras correlaes que associam o sonho e a caa de animais. Para Descola, tais interpretaes baseiam-se
em discretas homologias de comportamento ou aparncia: a vulva bem aberta simboliza a carcaa estripada do porco-do-mato, uma atitude belicosa evoca o temperamento batalhador desses animais, enquanto as brincadeiras aquticas de uma multido lembram o tumulto provocado por um bando de animais ao atravessar o curso dgua (2006).
Outras tantas homologias ainda ajudariam os Ashuar a interpretarem e a planejarem a caa de macacos-barrigudos, guaribas, emplumados, peixes, alm de outras presas. Este dispositivo tambm referido por Descola como um asselvajamento do mundo humano, um processo de naturalizao metafrica da humanidade, o que faz com que o autor defenda a ideia de propriedades do inconsciente (estabelecendo aqui uma correlao lvi-straussiana, sim, mas talvez ainda freudiana entre sonho e inconsciente), de forma a estruturar o pensamento segundo
[...] regras de converso que supem uma correspondncia entre setores da prtica, ou conjuntos de conceitos, aparentemente inconciliveis: os huma-nos e os animais, o alto e o baixo, o aqutico e o areo, os peixes e as aves, as atividades dos homens e as das mulheres. [...] Cada sonho torna-s