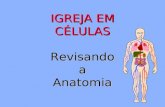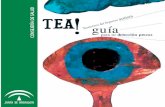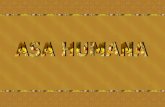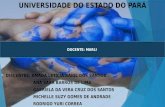APOSTILA O AUTISMO E SUAS...
-
Upload
nguyenquynh -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of APOSTILA O AUTISMO E SUAS...
1
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO – FAVENI
APOSTILA
O AUTISMO E SUAS CARACTERÍSTICAS
ESPÍRITO SANTO
2
AUTISMO
http://boaformaesaude.com.br/autismo-causas-sintomas-e-tratamentos/
CONCEITO
A palavra autismo se origina do grego "auto” que significa "próprio". A criança
autista parece em si mesma, pouco reagindo ou respondendo ao mundo que a rodeia.
O autismo significa que o mundo não faz sentido. O mundo não forma os padrões
necessários de símbolos interligados que torna a vida compreendida para essas
crianças. As experiências sensoriais chegam à sua mente a toda hora como uma língua
estranha que ela nunca ouviu.
ETIOLOGIA
A etiologia é desconhecida, mas acredita-se em alteração orgânica metabólica.
INCIDÊNCIA
De 10.000 crianças há de 4 a 5 casos com menos de 12 ou 15 anos. Com retardo
mental severo, a taxa pode subir para 20 casos em 10.000 crianças. E é 4 vezes mais
comum em meninos do que em meninas; porém as meninas são mais seriamente
acometidas.
3
QUADRO CLÍNICO
http://wwwportalpedagogico.blogspot.com.br/2015/09/saiba-mais-sobre-autismo.html
http://biolugando.blogspot.com.br/2016/04/autismo.html
4
Definição
O autismo é uma síndrome de etiologia puramente orgânica, para qual existem,
presentemente, três definições que podemos considerar como adequadas:
A da ASA - American Society for Autism (Associação Americana de Autismo)
A da Organização Mundial de Saúde, contida na CIS-10 (10a. Classificação
Internacional de Doenças) de 19991;
A do DSM-IV - diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (Manual
Diagnóstico e estatístico dos distúrbios Mentais), da Associação Americana de
Psiquiatria.
http://boaformaesaude.com.br/autismo-causas-sintomas-e-tratamentos/
A definição da ASA desenvolvida e aprovada em 1997, por uma equipe de
profissionais conhecidos pela comunidade científica mundial, por seus trabalhos,
estudos, pesquisas na área do autismo é resumidamente, a seguinte:
5
1 - “O autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira
grave por toda a vida. Acomete cerca de vinte entre cada dez mil nascidos e é quatro
vezes mais comum entre meninos do que em meninas. Não se conseguiu até agora
provar nenhuma causa psicológica, no meio ambiente destas crianças, que possa causar
a doença”.
Os sintomas, causados por disfunções físicas do cérebro, são verificados pela
anamnese ou presentes no exame ou entrevista com o indivíduo. Incluem:
1o - Distúrbios no ritmo de aparecimentos de habilidades físicas, sociais e
linguísticas.
2o - Reações anormais às sensações. As funções ou áreas mais afetadas são:
visão, audição, tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e maneira de manter o corpo.
3o - Fala ou linguagem ausentes ou atrasados. Certas áreas específicas do
pensar, presentes ou não. Ritmo imaturo da fala, restrita compreensão de ideias. Uso de
palavras sem associação com o significado.
4o - Relacionamento anormal com os objetos, eventos e pessoas. Respostas não
apropriadas a adultos ou crianças. Uso inadequado de objeto e brinquedos. "
http://pt.slideshare.net/craeditgd/incluso-deficincia-mental-sndromes-e-autismo
6
2 - Segundo a CID-10, é classificado como F84-0, como "Um transtorno invasivo de
desenvolvimento, definido pela presença de desenvolvimento anormal e/ou
comprometimento que se manifesta antes da idade de 3 anos e pelo tipo característico
de funcionamento anormal em todas as três áreas: de interação social, comunicação e
comportamento restrito e receptivo. O transtorno ocorre três a quatro vezes mais
frequentemente em garotos do que em meninas. "
http://pt.slideshare.net/craeditgd/incluso-deficincia-mental-sndromes-e-autismo
3 - O DSM-IV apresenta o seguinte critério de diagnóstico:
A. Se enquadrar em um total de seis (ou mais) dos seguintes itens:
(1) Comprometimento qualitativo em interação social, com pelo menos duas
das seguintes características:
a) Acentuado comprometimento no uso de múltiplos
comportamentos não verbais que regulam a interação social, tais
como contato olho a olho, expressões faciais, posturas corporais
e gestos;
7
b) Falha no desenvolvimento de relações interpessoais apropriadas
à idade;
c) Ausência da busca espontânea em compartilhar de divertimentos,
interesses e empreendimentos com outras pessoas
http://oficinadalinguagem.com/2015/09/28/autismo/
(2). Comprometimento qualitativo na comunicação, em pelo menos um dos
seguintes itens:
a) Atraso ou ausência total no desenvolvimento da fala (sem a
tentativa de compensá-la por meio de comunicação por gestos ou
mímicas);
b) Acentuado comprometimento na habilidade de iniciar e manter
uma conversação, naqueles que conseguem falar;
c) Linguagem estereotipada, repetitiva ou idiossincrática;
d) Ausência de capacidade, adequada à idade, de realizar jogos de
faz-de-conta ou imitativos.
(3). Padrões de comportamento, interesse ou atividades repetitivas ou
estereotipados, em pelo menos um dos seguintes aspectos:
8
a) Preocupação circunscrita a um ou mais padrões de interesse
estereotipados e restritos, anormalmente, tanto em intensidade
quanto no foco;
b) Fixação aparentemente inflexível em rotinas ou rituais não
funcionais;
c) Movimentos repetitivos e estereotipados
d) Preocupação persistente com partes de objetos.
B. Atraso ou funcionamento anormal, antes dos três anos, em pelo menos uma das
seguintes áreas: interação social, linguagem de comunicação social e jogos
simbólicos ou imaginativos.
C. O distúrbio não se enquadra na síndrome de Rett ou no Distúrbio Desintegrativo
da Criança.
O Autismo pode ocorrer isoladamente ou em associação com outros distúrbios que
afetam o funcionamento do cérebro, tais como Síndrome de Down e epilepsia. Os
sintomas mudam e alguns podem até desaparecer com a idade.
O Q.I de crianças autistas, em aproximadamente 60% dos casos, mostram
resultados abaixo dos 50,20% entre 50 e 70 e apenas 20% tem inteligência maior do que
70 pontos.
http://www.ipappi.com.br/autismo/
9
O Portador de Autismo tem uma expectativa de vida normal.
Formas mais grave podem apresentar comportamento destrutivo, autoagressão e
comportamento agressivo, que podem ser muito resistentes às mudanças.
O Autismo jamais ocorre por bloqueios ou razões emocionais, como insistiam os
psicanalistas. As causas são múltiplas. Algumas já têm sido relacionadas, como:
fenilcetonúria não tratada, viroses durante a gestação, principalmente durante os três
primeiros meses (inclusive citomegalovirus), toxoplasmose, rubéola, anoxia e
traumatismos no parto, patrimônio genético, etc. Ultimamente, pesquisas mostram
evidências de aparecimento do autismo após aplicações da vacina tríplice.
FISIOTERAPIA
http://boaformaesaude.com.br/autismo-causas-sintomas-e-tratamentos/
A atuação fisioterápica só é dada as crianças autistas com atraso motor, onde são
trabalhadas todas as fazes motoras até a marcha livre, estimulando as etapas do
desenvolvimento normal, prevenindo deformidades e dando orientação familiar. Caso
contrário existe algumas terapias na qual a criança deve se identificar.
10
TERAPIAS
MÉTODO DE DOMAN
A forma de trabalhar uma criança pode seguir muitos métodos distintos. O método
adequado depende muito do terapeuta e também das condições e capacitações da
criança.
http://www.innovaeducativa.com.ec/intelectum/metodo-de-doman/
Uma observação inicial que pode ser feita é que assim como a flor nasce, o peixe
nada e os pássaros cantam, a criança deve engatinhar andar e falar, nesta sequência.
São seus impulsos naturais. Quando ela falha no seu desenvolvimento está também
deve ser a sequência a ser seguida no seu trabalho terapêutico, segundo apreciação do
Dr. Doman, notável especialista americano, que depois de trabalhar, durante anos, com
crianças deficientes, segundo os métodos então tradicionais, chegou a uma conclusão
absolutamente espantosa: "As crianças que tinham permanecido sem tratamento
estavam incomparavelmente melhores do que as tratadas por nós". Buscando razões
deste fracasso, através da observação, que as mães que não lhe deram ensejo de
imobilizar os filhos pelo tratamento, levaram-nos para casa, puseram-nos no chão e
11
permitirá que eles fizessem o que lhes aprouvesse. Estas crianças, por instinto,
passaram a rastejar, engatinhar, obtendo melhoras consideráveis.
O seu método nasceu daí e visa estimular a evolução natural da criança. Este
método tem muito seguidores no Brasil, prevê um programa de exercícios que chega a
ser extenuante, mas que tem se revelado eficaz.
http://en.guarderiatxanogorritxu.com/who-we-are-nursery/nursery-education-project/glenn-doman-method-of-reading/
HOLDING TERAPY
A terapia do abraço vem sendo empregada e defendida com crescente entusiasmo
por um grupo bastante numeroso. A revista Communication da National Autistic Society
de junho de 89 apresentou um artigo de Michele Zappella (Psiquiatra) e John Richer
(Pediatra) que resumimos a seguir.
O holding é uma forma de intervenção intrusiva cujo objetivo é reduzir o isolamento
social, aumentar a comunicabilidade e desenvolver laços de união. O holding deve ser
12
sempre parte de um pacote maior de terapias, mas parece ser uma eficiente terapia para
desenvolver as condições da maioria das crianças autistas e de remover
comportamentos indesejáveis. Welch desenvolveu esta forma de terapia como parte de
uma ampla abordagem.
https://silviareginasimoes.wordpress.com/2014/09/05/beneficios-do-abraco-para-a-saude/
Ainda não está claro como o Holding atua, porque a eficácia depende de quem a
aplica e qual a inter-relação com as demais terapias aplicadas simultaneamente. O fato
é que se obtêm resultados, independente de gravidade do autismo. Vamos dar um
exemplo:
"Uma criança com 1 ano e meio foi diagnosticada como autista e colocado em um
programa de um hospital escola, onde ficava a maior parte do dia com outras crianças
autistas. Depois de dois anos ela se apresentava seriamente retardada e com
comportamento fortemente autístico, com péssimo prognóstico. Foi submetida então a
tratamento envolvendo interações físicas acentuadas, com Michele Zappella. Depois de
13
6 meses o comportamento social da criança estava dentro da faixa normal da idade. Este
exemplo é uma ilustração e não pode, evidentemente, ser apresentado como evidência."
Deve ser lembrado. Inicialmente, que existem muitas variações de terapia do
abraço. De um modo geral, porém são elementos comuns:
O adulto mantém a criança abraçada mesmo que ela se oponha e lute para
se livrar, até que ela se acalme e relaxe.
O adulto deve manter o controle da criança
Uma seção atípica apresenta os seguintes passos:
Inicialmente a criança pode ficar quieta, mas a seguir começa a se debater.
Os pais continuam a abraçá-la.
A criança se debate mais e mais e ocasionalmente começa a gritar. O pai
mantém o abraço.
Os ciclos de luta, gritos e aquietamentos podem de estender até por mais
de uma hora.
http://www.monsanto.interdinamica.pt/artes/jj/x23yv125w.htm
14
Durante, em especial, as seções iniciais, a criança se enraivece mais, então
soluça, depois relaxa e se amolda ao corpo dos pais. A partir de então a criança se torna
mais comunicativa, aconchegante e aberta.
A insistência em confrontar a criança é uma importante característica do
HOLDING. A intervenção é realizada mantendo a criança em contato estreito, fixando-
lhe o olhar, beijando-a e falando com ela (Alguns usam um fundo musical).
Zappella aplicou a terapia a 50 crianças autistas, com idade de 3 a 15 anos,
envolvendo a família e tendo como base a terapia do abraço. Ela registra que 12% se
normalizaram após dois anos, 18% perderam o comportamento autístico e 44%
apresentaram progressos moderados e 26% não demonstraram resultados. J. Prekop,
na Alemanha reportou resultados similares. Ela também comparou o desenvolvimento
destas crianças com outras que não tinham sido submetidas ao HOLDING, concluindo
que, relativamente, fizeram maior progresso.
HIPOTERAPIA
http://ominho.pt/tag/hipoterapia/
15
Essa atividade ajuda a fornecer balanço e força e requer o uso de suas mãos,
portanto minimiza os movimentos estereotipados das mãos e aumenta o uso das
mesmas.
O autista ganha controle, trazendo confiança e satisfação.
MUSICOTERAPIA
http://www.ehow.com.br/musicoterapia-ajudar-criancas-autistas-como_92856/
A musicoterapia é um método muito eficaz. A música promove o relacionamento
entre o paciente e o terapeuta, que aproveita, na terapia tudo que possa provocar algum
ruído, som ou mesmo movimento.
A musicoterapia também utiliza o próprio corpo do paciente. No início, o terapeuta
espera que o autista se expresse de algum modo, um piscar de olhos, um som, um gesto
qualquer. O terapeuta, então, repete o gesto ou emite o mesmo som, tentando
estabelecer uma comunicação com o paciente. Ao mesmo tempo, procura mostrar ao
autista que ele será aceito, não importa a maneira como aja.
Se o autista retribui a mensagem, a primeira comunicação está feita. Ele começa
a se comunicar com os outros. Ele, agora, vê o mundo e o compreende.
16
Crescimento da independência escolhendo músicas e atividades
Comunicação (atividades musicais através de símbolos).
Desenvolvimento da autoimagem e da autoestima.
Estimulação pelo contato expressivo dos olhos.
Desenvolvimento da vocalização através da música.
Aumento do uso proposital das mãos enquanto toca os instrumentos
Aumento da socialização através da participação
A musicalidade induz ao relaxamento que facilita na liberdade de movimentos e
expressão.
Nem todo autista tem um atraso motor, mas o que tiver deve-se trabalha esse
atraso até a marcha livre.
http://www.indianopolis.com.br/artigos/autismo/autismo-e-integracao-sensorial/
17
AUTISMO – VISÃO DA PSIQUIATRIA
TRANSTRONOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
Os transtornos globais do desenvolvimento incluem um grupo de condições nas
quais há atraso ou desvio no desenvolvimento de habilidades sociais, linguagem,
comunicação e repertório comportamental.
http://slideplayer.com.br/slide/1782869/
Crianças afetadas exibem interesse intenso idiossincrático em uma estreita gama de
atividades, resistem à mudança e não respondem de maneira adequada ao ambiente
social. Esses fatores se manifestam cedo na vida e causam disfunção pertinente.
18
TRANSTORNO AUTISTA
O transtorno Autista (historicamente chamado de autismo infantil precoce/ autismo
da infância ou autismo de Kanner) é caracterizado por interação social recíproca anormal,
habilidades de comunicação atrasadas e disfuncionais e um repertório limitado de
atividades e interesses.
http://jusro.com.br/?tag=autista
PREVALÊNCIA
A taxa é de cinco casos por 10 mil crianças. O início do transtorno ocorre antes dos
3 anos de idade, ainda que possa não ser reconhecido até a criança ser muito mais velha.
DISTRIBUIÇÃO POR SEXO
É 4 a 5 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. Meninas com
transtorno autista têm maior probabilidade de apresentar um retardo mental grave.
ETIOLOGIA E PATOGÊNESE
Segundo Kanner poderia ser consequência de mães muito “geladeiras”, porém não
há validade de tal hipótese.
19
FATORES PSICOSSOCIAIS E FAMILIARES
Essas crianças podem responder com sintomas exacerbados a estressores
psicossociais, incluindo discórdia familiar, nascimento de um novo irmão ou mudança
familiar.
http://pt.slideshare.net/kerolayne12345/conhecendo-o-transtorno-do-espectro-autstico-14578110
FATORES BIOLÓGICOS
Cerca de 75% das crianças afetadas apresentam um retardo mental. Um terço tem
retardo mental leve a moderado e perto da metade tem retardo mental grave ou profundo
(essas crianças apresentam déficits mais importantes no raciocínio abstrato no
entendimento social e em tarefas verbais do que em tarefas de desempenho).
Podem apresentar também:
Convulsões;
Aumento ventricular;
Anormalidades eletroencefalográficas.
FATORES GENÉTICOS
Entre 2 e 4% dos irmãos de crianças autistas também tinham transtorno autista, uma
taxa 50 vezes maior do que na população geral.
20
FATORES IMUNOLÓGICOS
Incompatibilidades imunológicas (anticorpos maternos transferidos ao feto) podem
contribuir para o transtorno autista. Os linfócitos de algumas crianças autistas reagem com
anticorpos maternos, o que levanta a possibilidade de que tecidos neurais embrionários ou
extraembrionários possam ser danificados durante a gestação.
FATORES PERINATAIS
Uma incidência de complicações perinatais mais alta que o esperado parece ocorrer
em bebês mais tarde diagnosticados como autistas. Sangramento materno após o primeiro
trimestre. No período neonatal, estas têm uma alta incidência de síndrome de sofrimento
respiratório e anemia neonatal.
FATORES NEUROANATÔMICOS
Estudos de RM comparando indivíduos autistas e controles normais demonstraram
que o volume cerebral total era maior entre os primeiros, embora crianças com um retardo
mental grave em geral tenham cabeças menores. O volume pode sugerir: neurogenese
aumentada, morte neuronal diminuída e produção aumentada de tecido cerebral não
neuronal, como células gliais ou vasos sanguíneos. Acredita-se que o lobo temporal seja
uma área crítica de anormalidade cerebral no transtorno autista.
http://www.oestadoce.com.br/arteagenda/dia-do-autismo-nem-toda-deficiencia-e-visivel
21
FATORES BIOQUÍMICOS
Em algumas crianças autistas, altas concentrações de ácido homovanílico (principal
metabólito da dopamina) no liquido cerebrospinal (LCS) estão associados a aumento do
retraimento e estereotipias.
CARACTERISTICAS FISICAS
Crianças com transtorno autista costumam ser descritas como atraente e à primeira
vista, não apresentam nenhum sinal indicando o problema. Podem apresentar
malformações das orelhas, uma vez que a formação das orelhas se dá quase ao mesmo
tempo em que a formação de porções do cérebro. Também apresentam uma incidência
mais alta de demartoglifia anormal (impressões digitais) do que a população em geral.
http://saladerecursoseautismo.blogspot.com.br/
22
CARACTERISTICAS COMPORTAMENTAIS
Apresentam prejuízos qualitativos na interação social: não apresentam
sinais sutis com os pais e outras pessoas.
Não apresentam contato visual ou o mesmo é muito pobre.
Não reconhecem ou não diferenciam as pessoas mais importantes em
sua vida.
Podem apresentar ansiedade extrema quando ocorre alguma mudança
em sua rotina.
Há um déficit notável no brincar, seu comportamento social pode ser
desajeitado ou inadequado.
Incapazes de interpretar a intenção do outro (não desenvolvem a
empatia).
TRANSTORNOS DA COMUNICAÇÃO E NA LINGUAGEM
Os autistas têm dificuldade marcante em formar frases significativas mesmo quando
dispõem de vocabulários amplos.
http://pt.slideshare.net/WagnerdaMatta/psicolingustica-algumas-teorias-sobre-a-aquisio-da-linguagem
23
COMPORTAMENTOS ESTERIOTIPADO
Em seus primeiros anos de vida não explora o ambiente (ou pouco).
Os brinquedos são manuseados de formas ritualísticas, com poucos
aspectos simbólicos.
Suas atividades tendem a ser rígidas, repetitivas e monótonas, muitas
com retardo mental grave, exibem anormalidades no movimento.
Costumam ser resistentes a transição e mudança.
http://www.institutoannsullivan.org.br/#!Software-pode-auxiliar-no-diagn%C3%B3stico-de-crian%C3%A7as-com-
autismo/c1nl1/96F0E8B0-DA02-4149-A485-B5AB75EE51CA
SINTOMAS COMPORTAMENTAIS ASSOCIADOS
Hipercinesia é um problema de comportamento comum entre crianças
autistas.
Agressão e acessos de raiva são observados, em geral induzidos por
mudanças e exigências.
Comportamento automutilador (inclui bater a cabeça, morder, arranhar
e puxar o cabelo).
24
Período de atenção curto.
Baixa capacidade de focalizar-se em uma tarefa.
Insônia.
Enurese.
Problemas de alimentação.
http://seupsiquiatra.com.br/portfolio-item/autismo/
DOENÇA FISICA ASSOCIADA
Tem uma incidência mais alta do que o esperado de infecções do trato
respiratório superior e de outras infecções menores.
Constipação e aumento do transito intestinal.
Convulsões febris.
FUNCIONAMENTO INTELECTUAL
Capacidades cognitivas ou Visio motoras incomuns ou precoces ocorrem em
algumas crianças autistas. São chamadas de funções fragmentadas ou ilhas de
precocidade.
25
Memórias de hábitos ou capacidades de cálculos muitas vezes superiores aos seus
pares normais.
Hiperlexia e boa leitura (embora não possam entender o que leem. Memorização e
recitação, bem como capacidades musicais (cantar ou tocar melodias e reconhecer notas
musicais)).
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Os principais diagnósticos diferenciais são esquizofrenia com início na infância,
retardo mental com sintomas comportamentais, transtorno misto de linguagem receptivo-
expressiva, surdez congênita ou transtorno auditivo grave, privação psicossocial e psicose
desintegrativa (regressivas).
RETARDO MENTAL COM SINTOMAS COMPORTAMENTAIS
Crianças com retardo mental tendem a relacionar-se com adultos e outras crianças
de acordo com sua idade mental, usam a linguagem que tem para comunicar se e exibem
um perfil de prejuízos relativamente uniforme, sem funções fragmentadas.
AFASIA ADQUIRIDA COM CONVULSÃO
Afasia adquirida com convulsão é uma condição rara, às vezes difíceis de diferenciar
de um transtorno autista e transtorno desintegrativo na infância.
SURDEZ CONGÊNITA OU PREJUIZO AUDITIVO GRAVE
https://vivamelhoronline.com/tag/surdez/
26
Visto que crianças autistas com frequência são mudas ou apresentam um
desinteresse seletivo na linguagem falada, costumam ser julgada surda.
Os fatores de diferenciação incluem o seguinte: bebês autistas podem balbuciar com
pouca frequência, enquanto bebês surdos têm história de balbucio relativamente normal,
que vai diminuindo e pode parar entre 6 meses e 1 ano de idade. Crianças surdas
respondem a apenas sons altos, enquanto autistas podem ignorar sons altos ou normais e
responder a sons suaves ou baixos.
As crianças mesmo surdas gostam de se relacionar com seus pais, buscam sua
afeição e gostam de ser seguradas enquanto bebês, diferentemente do autista.
CURSO E PROGNÓSTICO
O transtorno autista costuma se uma condição para toda a vida com um prognóstico
cauteloso. Crianças autistas com um QI acima de 70 e aquelas que usam linguagem
comunicativa nas idades de 5 a 7 anos tendem a ter melhores prognósticos.
As áreas de sintoma que não parecem melhorar com o tempo foram àquelas
relacionadas a comportamentos ritualísticos e repetitivos.
Em geral, estudos do resultado em adultos indicam que cerca de dois trecos dos
adultos permanecem gravemente incapacitados e vivem em dependência completa ou
semidependência com seus parentes ou em instituições de longo prazo.
O prognóstico melhora quando o ambiente ou lar é sustentador e capaz de satisfazer
as necessidades extensivas dessas crianças. Embora os sintomas diminuam em muitos
casos, automutilação grave ou agressividade e regressão podem desenvolver em outros.
TRATAMENTO
Os objetivos do tratamento de criança com transtorno autista são aumentar o
comportamento socialmente aceitável e pró-social, diminuir sintomas comportamentais
bizarros e melhorar a comunicação verbal e não verbal.
Além disso, os pais muitas vezes confusos necessitam de apoio e aconselhamento.
No momento intervenções educacionais e comportamentais são mais indicadas.
Treinamento em sala de aula estruturada em combinação com métodos comportamentais
é o mais efetivo para muitas crianças autistas.
27
Não há medicamentos específicos para tratar os sintomas centrais do autista,
entretanto, a psicofarmacoterapia é um tratamento adjunto valioso para melhorar sintomas
comportamentais associados.
Foi relatado que ela atenua sintomas como agressividade, acesso de raiva grave,
comportamentos automutiladores, hiperatividade, comportamento obsessivo compulsivo e
esteriotipias. A administração de medicamentos antipsicoticos pode reduzir o
comportamento agressivo e automutilador.
HISTÓRICO DA EXCLUSÃO
http://apape-bh.blogspot.com.br/2012/09/por-que-as-criancas-autistas-sao-alvos.html
Nos anos 60 e 70, a marginalidade era vista como pobreza, uma consequência das
migrações internas que esvaziavam o campo da região nordeste, do norte e “incharam” as
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Entendia-se na época, que os problemas
urbanos de moradia (favelas), mendicância, delinquência etc., poderiam ter suas raízes
nesses processos migratórios.
28
Inicia-se aí a exclusão, onde competidores teriam a mesma chance na luta pelo
espaço, sendo que os mais aptos ganhariam melhores posições nesse ambiente construído
e disso resultariam zonas segregadas, onde os mais pobres excluíam-se dos anéis urbanos
e imediatamente passariam para o próximo e gradativamente, os melhores lugares estariam
ocupados pelos “vencedores”.
Nos anos 70, existia o dualismo: atrasado x moderno, não integrado x integrado,
rural x urbanos e os estudiosos passaram a ver as relações econômicas e sociológicas
inerentes ao capitalismo como constitutivas do sistema produtivo. As populações marginais
aparecem, nesse contexto, como consequência da acumulação capitalista, um exercício
industrial de reserva singular.
Nos anos 80, na chamada “década perdida”, ao contrário dos anos 60 e 70, quando
se chamava a atenção para os favelados e para a migração como figura emblemática dos
excluídos na cidade, pelo aumento da pobreza e da recessão econômica, ao mesmo tempo
em que se vivia a chamada “transição democrática”, chama-se a atenção para a questão
da democracia, da segregação urbana (efeitos perversos da legislação urbanística), a
importância do território para a cidadania, a falência das ditas políticas sociais, os
movimentos sociais, as lutas sociais.
O componente territorial implica não só que seus habitantes devem ter acesso aos
bens e serviços indispensáveis, mas que haja uma adequada gestão deles, assegurando
indispensáveis, mas que haja uma adequada gestão deles, assegurando tais benefícios à
coletividade. Aponta que o terceiro mundo tem “não cidadãos” (contraste entre massa de
pobres e a concentração de riqueza), porque se funda na sociedade do consumo, da
mercantilização e na monetarização. Em lugar do cidadão, surge o consumidor insatisfeito,
em alienação, em cidadania mutilada.
A cidadania é também o direito de permanecer no lugar, no seu território, o direito a
espaço de memória. O capitalismo predatório e as políticas urbanas que privilegiam
interesses privados e o sistema de circulação acabaram por descaracterizar bairros,
expulsar moradores como favelados (remoção por obra pública, reintegração de posse),
encortiçados (despejos, remoção, demolições), moradores de loteamento irregulares, sem
teto, num nomadismo sem direito às raízes.
29
Pedro Jacobi desenvolve seus trabalhos sobre a questão dos movimentos sociais
urbanos e as carências de habitação, equipamentos de saúde, escolas, lazer, enfim, dos
serviços urbanos. Assim a exclusão aparece como não acesso aos benefícios da
urbanização.
Nos anos 90 reeditam o conceito de exclusão como não cidadania, principalmente a
ideia de processo abrangente dinâmico e multidimensional.
O rótulo que parece empurrar as pessoas, os pobres, os fracos, para fora da
sociedade, para fora de suas melhores e mais justas corretas relações sociais, privando-os
dos direitos que dão sentido a essas relações. Quando, de fato, esse movimento as está
empurrando para dentro, para condição subalterna de reprodutores mecânicos do sistema
econômico, reprodutores que não reivindicam nem protestam em face das privações,
injustiças e carências.
Neste caso o termo exclusão é concebido como expressão das contradições do
sistema capitalista e não como estado de fatalidade. Através do consumismo dirigido, gera-
se uma sociedade dupla, de duas partes que se excluem reciprocamente, mas parecidas
por conterem as mesmas mercadorias e as mesmas ideias individualistas e competitivas,
só que as oportunidades não são iguais, o valor dos bens é diferente, a ascensão social é
bloqueada. Apesar disso, um bloco de ideias falso, enganador e mercantilizado acena para
o homem “moderno colonizado”, que passa a imitar, mimetizar os ricos e a pensar que nisso
reside à igualdade.
“É a sociedade da imitação, da reprodutividade e da
vulgarização, no lugar da criação e do sonho”. SAWAIA (2009)
Atribui-se a René Lenoir, em 1974, a concepção da exclusão como um fenômeno de
ordem individual, mas social, cuja origem deveria ser buscada nos princípios mesmos do
funcionamento das sociedades modernas. Dentre suas caudas destacava o rápido e
desordenado processo de urbanização, a inadaptação e uniformização do sistema escolar,
o desenraizamento causado pela mobilidade profissional, as desigualdades de renda e de
acesso aos serviços. Não se trata apenas de um fenômeno marginal, mas de um processo
em curso que atinge cada vez mais todas as camadas sociais.
30
“E os pobres passam a desconfiar de si próprios, numa
culpabilidade popular: caminhando sobre o chão pavimentado
pelo preconceito dos pobres contra os pobres, as classes
dominantes no Brasil começam a extravasar uma subjetividade
antipública que segrega, elabora pela comunicação imediática
uma ideologiantiestatal, fundada no grande desenvolvimento
capitalista, na desindustrialização, na terceirização superior, da
dilapidação financeira do estado e da imagem de um Estado
devedor”. SAWAIA (2009)
CONCEITO DE EXCLUSÃO
http://clubematerno.net/2016/02/18/autismo-quando-a-inclusao-e-na-verdade-exclusao/
O tema exclusão está presente na mídia, no discurso político e nos planos e
programas governamentais, a noção de exclusão social tornou-se familiar no cotidiano das
mais diferentes sociedades. Não é apenas um fenômeno que atinge os países pobres.
A concepção de exclusão continua ainda fluida como categoria analítica, difusa,
apesar dos estudos existentes, e provocadora de intensos debates. Muitas situações são
31
descritas como exclusão, que representam as mais variadas formas e sentidos advindos
da relação inclusão/ exclusão. Sob esse rótulo estão contidos inúmeros processos e
categorias, uma série de manifestações que aparecem como fraturas e rupturas do vinculo
social (pessoas idosas, deficientes, desadaptados sociais, minorias étnicas ou de cor,
desempregados de longa duração, jovens impossibilitados de aceder ao mercado de
trabalho, etc.). Assim os estudiosos da questão concluem que do ponto de vista
epistemológico, o fenômeno da exclusão é tão vasto que é quase impossível delimitá-lo.
... “Excluídos são todos aqueles que são rejeitados de nossos
mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores” SAWAIA
(2009).
A ruptura de carência, de precariedade, pode-se afirmar que toda situação de
pobreza leva a formas de ruptura do vínculo social e representa, na maioria das vezes, um
acúmulo de déficit e precariedade. A pobreza não significa necessariamente exclusão,
ainda que possa ela conduzir.
A pobreza e a exclusão no Brasil são faces de uma mesma moeda. As altas taxas
de concentração de renda e desigualdade persistentes em nosso país convivem como os
efeitos perversos do fenômeno do desemprego estrutural. Se, de um lado cresce cada vez
mais a distância entre os excluídos e os incluídos, de outro, essa distância nunca foi tão
pequena, uma vez que os incluídos estão ameaçados de perder direitos adquiridos.
A consolidação do processo de democratização, em nosso país, terá que passar
necessariamente pela desnaturalização das formas com que são encaradas as práticas
discriminatórias, portanto, geradoras de processo de exclusão.
De acordo com SAWAIA (2009), no livro as Artimanhas da Exclusão, a inclusão é
contraditória, onde a qualidade de conter em si a sua negação e não existir sem ela, isto é,
ser idêntico à inclusão (inserção social perversa). A sociedade exclui para incluir e esta
transmutação é condição da ordem social desigual, o que implica o caráter ilusório da
inclusão. Todos estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no
circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da humanidade
32
inserida através da insuficiência e das privações, que se desdobram para fora do
econômico. Portanto, em lugar da exclusão, o que se tem é a “dialética exclusão/ inclusão”.
A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividade especificas que vão desde o sentir-
se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas subjetividades não podem ser
explicadas unicamente pela discriminação econômica, elas determinam e são
determinadas por formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se
no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência.
“Em síntese, a exclusão é processo e multifacetado, uma
configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e
subjetivas. É processo sutil e dialético, pois só existe em relação à
inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um
estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas
relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma
falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba
a ordem social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do
sistema” (SAWAIA, 2009)
SAWAIA (2009) aponta vários estudos acerca da exclusão e todos eles reforçam a
tese de que o excluído não está à margem da sociedade, mas repõe e sustenta a ordem
social, sofrendo muito neste processo de inclusão social, pois a sociedade opera sobre o
homem (social e o psicológico), de forma que o papel de excluído engole o homem.
INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA
Muito se tem falado sobre o processo de inclusão, e quase sempre com a conotação
de que inclusão e integração escolar seriam sinônimas. Na verdade, a integração insere o
sujeito na escola esperando uma adaptação deste ao ambiente escolar já estruturado,
enquanto que a inclusão escolar implica em redimensionamento de estruturas físicas da
escola, de atitudes e percepções dos educadores, adaptações curriculares, dentre outros.
33
A inclusão num sentido mais amplo significa o direito ao exercício da cidadania,
sendo a inclusão escolar apenas uma pequena parcela do processo que precisamos
percorrer.
Um processo de inclusão escolar consciente e responsável não acontece somente
no âmbito escolar e deve seguir alguns critérios. A família do indivíduo portador de autismo
possui um papel decisivo no sucesso da inclusão. Sabemos que se trata de famílias que
experimentam dores psíquicas em diversas fases da vida, desde o momento da notícia da
deficiência e durante as fases do desenvolvimento, quando a comparação com demais
crianças é frequente.
http://revistavivasaude.uol.com.br/familia/criancas-autistas-na-escola/282/
O ambiente para o desenvolvimento da criança, tanto "normal" quanto "deficiente",
no que tange à organização de suas atividades de vida diária e ao processo de estimulação,
torna-se fundamental compreender como o ambiente influencia o desenvolvimento das
crianças, principalmente daquelas que apresentam algum tipo de deficiência. Vygotsky
(1994) afirma “que a influência do ambiente sobre o desenvolvimento infantil, ao lado de
outros tipos de influências, também deve ser avaliada levando em consideração o grau de
entendimento, a consciência e o insight do que está acontecendo no ambiente em questão”.
O microssistema da família não é o único que precisa ser estudado. Há também o
ambiente da escola, que constitui mais um espaço de socialização para a criança com
34
autismo. Em relação a isso, muito se tem discutido a respeito da inclusão da criança autista
em ambiente coletivo, mostrando a sua importância e necessidade.
É importante ressaltar a necessidade de mais orientação para as famílias de crianças
autistas, as quais devem ser mais bem informadas sobre este tipo transtorno e suas
consequências para o desenvolvimento da criança, bem como dos recursos necessários
para favorecê-lo. Nesse contexto, as políticas públicas têm um papel muito importante,
especialmente para as famílias de baixa renda, uma vez que o gasto com profissionais e
com atendimento especializado se torna necessário.
O nascimento de um filho com algum tipo de deficiência ou doença, ou o
aparecimento de alguma condição excepcional, significa uma destruição de todos os
sonhos e expectativas que haviam sido gerados em função dele. Durante a gravidez, e
mesmo antes, os pais sonham com aquele “filho ideal” que será bonito, saudável,
inteligente, forte e superará todos os limites; aquele filho que realizará tudo que eles não
conseguiram alcançar em suas próprias vidas. Além da decepção, o nascimento de um filho
portador de deficiência implica em reajustamento de expectativas, planos para o futuro e a
vivência de situações críticas e sentimentos difíceis de enfrentar.
Passado o período de luto simbólico, a forma como a família se posiciona frente à
deficiência pode ser determinante para o desenvolvimento do filho. Muitos pais, porque não
acreditam que seus filhos possuam potencialidades, deixam de ensinar coisas elementares
para o autocuidado e para o desenvolvimento da independência. Alguns optam pelo
isolamento e outros por infantilizarem seus filhos por toda a vida, esquecendo que eles não
são eternos e que o portador de necessidades especiais deve se tornar o mais autônomo
possível.
http://www.tempodecreche.com.br/palavra-de-especialista/palavra-de-solange-muszkat-inclusao-autismo-e-a-atuacao-do-educador/
35
Quando se propõe a inclusão de crianças autistas devem-se respeitar as
características de sua natureza, visando à aquisição de comportamentos sociais aceitáveis,
porém, respeitando as necessidades especiais de cada educando, e, sobretudo, trazendo
os pais para um comportamento mais realístico possível, evitando a fantasia da cura, tão
presente em pais de crianças especiais
A escola também pode colaborar dando sugestões aos familiares de como estes
podem agir em casa, de maneira que se tornem coautores do processo de inclusão de seus
filhos. Sendo assim, quando uma criança portadora de autismo é incluída na escola regular,
sua família também o é. Com efeito, é provável que antes da inclusão escolar a convivência
com os pais de outras crianças, o planejamento de visitas de coleguinhas na casa da
criança e a frequência a festinhas de aniversário dos colegas de sala eram possibilidades
muito distantes para essas famílias. O objetivo da educação especial é o de reduzir os
obstáculos que impedem o indivíduo de desempenhar completas atividades e participação
plena na sociedade.
Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de olhar acerca
do transtorno. Implica em quebra de paradigmas, em reformulação do nosso sistema de
ensino para a conquista de uma educação de qualidade, na qual, o acesso, o atendimento
adequado e a permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de
suas diferenças e necessidades. A concepção da Educação Especial como serviço segrega
e cria dois sistemas separados de educação: o regular e o especial, eliminando todas as
vantagens que a convivência com a diversidade pode nos oferecer.
http://www.comportese.com/2014/05/autismo-e-inclusao-escolar-o-passo-a-passo/
36
É preciso ter claro que para a conquista do processo de inclusão de qualidade,
algumas reformulações no sistema educacional se fazem necessário. Seriam elas:
adaptações curriculares, metodológicas e dos recursos tecnológicos, a racionalização da
terminalidade do ensino para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do Ensino Fundamental, em virtude das necessidades especiais, a
especialização dos professores e a preparação para o trabalho, visando à efetivação da
cidadania do portador de necessidades especiais.
A escola, por sua vez, para promover a inclusão deve eliminar barreiras que vão
além das arquitetônicas, mas principalmente as atitudinais. São necessárias algumas
adaptações de grandes e pequenos portes, tais como a adaptação curricular, a adaptação
do sistema de avaliação da aprendizagem, de materiais e equipamentos, a preparação dos
recursos humanos e a preparação dos alunos e pais de alunos que receberão o portador
de necessidades especiais. Sem as devidas adaptações, um processo de inclusão pode
ser mais segregador que a exclusão declarada, pois entendemos que a inclusão não pode
se restringir à convivência social, mas deve zelar pela aprendizagem da criança com
necessidades especiais. O atendimento educacional a crianças e jovens portadoras de
autismo tem sido realizado, em nosso país, em escolas especiais ou ainda em clínicas-
escolas, provavelmente porque educar uma criança autista ainda se constitui em um grande
desafio em função das características desta população. Uma desordem aguda do
desenvolvimento requer tratamento especializado para o autista por toda a sua vida.
É fato que a inclusão deve ser avaliada em seu custo-benefício para o aluno em
questão. Não podemos perder de vista que “a inclusão é um processo permanente e
contínuo, pois a inclusão sempre deve visar a aprendizagem dos alunos com necessidades
especiais e não simplesmente o convívio social, habilidade que a criança pode adquirir em
muitos espaços e não necessariamente na escola.
O desenvolvimento fantástico das novas tecnologias, a maneira de se produzir as
coisas e a maneira de se executar os serviços sofreram uma transformação profunda.
Surge o fenômeno da automação, isto é, as novas tecnologias criam instrumentos que
substituem a mão-de-obra humana. Com isso multidões de pessoas foram dispensadas de
seus empregos, e as novas gerações nem chegam a conseguir um local de trabalho. As
relações centrais que definem nossa sociedade não são mais apenas a dominação e a
37
exploração, como no modo de produção capitalista, pois são bem menos agora os que
podem ser dominados ou explorados.
A consequência do capitalismo é a competitividade, a qual exige a exclusão. É o
confronto, o choque entre interesses diferentes ou contrários, que vai fazer com que as
pessoas lutem, trabalhem, se esforcem para conseguir melhorar seu bem-estar, sua
qualidade de vida, sua ascensão. Podemos tomar como exemplo o filme exibido em sala
de aula - “Como as estrelas na terra, toda criança é especial”, onde Ishaan era rotulado de
burro, preguiçoso e desinteressado, pois não conseguia acompanhar as exigências do pai,
que era muito rígido. Ishaan não conseguia acompanhar os demais porque era disléxico e
por isso era excluído pela sociedade e pela própria família. Assim também acontece com a
criança autista.
http://sitiodaeducacao.blogspot.com.br/2014/06/o-educador-e-inclusao-da-crianca-com.html
38
Mas essa competitividade vai além da disputa de mercado, trata-se de uma
competitividade que se estabelece entre os seres humanos. O ser humano, como ser
isolado e egoísta, tem de competir para sobreviver, de um lado e de outro lado, para trazer
progresso.
“Mas essa competitividade entre os desiguais acaba por excluir os
mais fracos e manter a dominação dos mais fortes” (SAWAIA,
2009).
A educação de uma criança portadora de autismo representa, sem dúvida, um
desafio para todos os profissionais da Educação. A singularidade e a insuficiência de
conhecimento sobre a síndrome nos fazem percorrer caminhos ainda desconhecidos e
incertos sobre a melhor forma de ajudar essas crianças e sobre o que podemos esperar de
nossas intervenções. É necessário ter humildade e cautela diante do tema, pois para
compreender o autismo, é preciso uma constante aprendizagem, uma contínua revisão
sobre nossas crenças, valores e conhecimento sobre o mundo, e, sobretudo, sobre nós
mesmos.
http://www.bigmae.com/cartilha-autismo-uma-realidade-cartunista-ziraldo/
39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA
JERUSALINSKY, A. Psicose e autismo na infância: Uma questão de linguagem. Psicose,
4 (9). Boletim da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, RS, 1993.
KUPFER, M. C. M. Notas sobre o Diagnóstico Diferencial da Psicose e do Autismo na
Infância. Instituto de Psicologia da USP, Psicol. SP, vol.11, n.1, São Paulo, 2000.
Visualizado em 17/10/2010 no Site:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65642000000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
SAWAIA, B. As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade
social. Petrópolis, Vozes, 2009.
TAFURI, Maria Izabel. A análise com crianças autistas: uma inovação do método
psicanalítico clássico. 2005. Visualizado em 02/11/2010 no Site:
http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=103
40
ARTIGO PARA REFLEXÃO
AUTORES: Paulo Goulart e Grauben José Alves de Assis
DISPONÍVEL EM: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
55452002000200007
ACESSO: 26 de agosto de 2016
Estudos sobre autismo em análise do comportamento: aspectos metodológicos
Studies on autism in behavior analysis: methodological features
Paulo Goulart; Grauben José Alves de Assis
Universidade Federal do Pará
RESUMO
A pesquisa na Análise do Comportamento tem contribuído para a identificação e compreensão das variáveis
que afetam o repertório de indivíduos autistas. Este trabalho visou identificar aspectos metodológicos na
produção desta área com essa população. A análise dos trabalhos identificou duas linhas distintas, porém
complementares, de pesquisa. Uma delas parece buscar a identificação das variáveis que atuam no
estabelecimento de controle de estímulos. A outra procura o estabelecimento e manutenção de operantes
verbais. Os aspectos metodológicos analisados foram a natureza dos estímulos utilizados, os critérios de
escolha dos mesmos, tipos de resposta requerida e tipos de consequências disponibilizadas. São discutidos
os benefícios de atentar para as demandas metodológicas da pesquisa analítico-comportamental. Discute-
se, ainda, o papel dos analistas do comportamento diante da relativa carência de trabalhos sobre o assunto
e da necessidade de desenvolvimento de programas de prevenção e de educação de pais e familiares de
pessoas portadoras de autismo.
Palavras-chave: Autismo, Análise do comportamento, Controle de estímulos,
Comportamento verbal.
ABSTRACT
Behavior-analytic research has contributed for the identification of variables affecting the repertoires of autistic
individuals. This work is aimed at the identification of methodological variations in behavior-analytic production
41
with this population. The analysis of studies on autism identified two different – although complementary –
veins of research. One vein seems to emphasize the identification of variables acting on the establishment of
stimulus control. The other vein aims at the establishment and maintenance of verbal behavior. The
methodological features described are: the nature of the stimuli and the criteria for choosing them, the kinds
of required responses, and of consequences presented. Some considerations are made about the benefits of
attending to methodological demands of behavior-analytic research. Also discussed is the role of behavior
analysts concerning the relative lack of studies on the issue and the need for the development of prevention
and educational programs for parents and relatives of autistic individuals.
Keywords: Autism, Behavior analysis, Stimulus control, Verbal behavior.
Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na pesquisa científica sobre o
autismo em diversas áreas, visando à ampliação do conhecimento, tanto acerca da
natureza do transtorno, como de possíveis estratégias de tratamento. Essa explosão do
interesse científico tem contribuído para o aprimoramento das técnicas de detecção e
diagnóstico, permitindo uma identificação da condição cada vez mais precisa e mais cedo
no desenvolvimento infantil. Além disso, a maior produção de conhecimento científico
contribuiu para a popularização do transtorno autista: até então, principalmente para os
pais, o autismo era uma possibilidade diagnóstica quase fantasiosa, uma vez que estava
associado, basicamente, a personagens fictícios do cinema americano, como o interpretado
por Dustin Hoffman, em Rain Man (1988). Todavia, o termo autismo ainda acompanha
algumas indefinições acerca de sua natureza, que ainda deverão ser investigadas no futuro.
O autismo foi descrito pela primeira vez como Autismo Infantil Precoce. Kanner (1944)
utilizou o termo para caracterizar a condição clínica de um grupo de 11 crianças que
apresentavam limitações no relacionamento com outras pessoas e com objetos, além de
desordens no desenvolvimento da linguagem. O comportamento dessas crianças resumia-
se a atos repetitivos e estereotipados, e a maioria, quando falava, apresentava ecolalia e
inversão pronominal. Tinham dificuldade em aceitar mudanças de ambiente, além de
demonstrar preferência por objetos inanimados. A designação autismo se referia aos
comportamentos característicos de isolamento e auto estimulação que essas crianças
apresentavam. Kanner observou que os pais de crianças autistas eram, em sua maioria, de
classe média alta e apresentavam uma atitude indiferente nos cuidados com suas crianças,
42
o que fez com que acreditasse que era o comportamento dos pais que causava a condição
autista. Afora isso, havia relativa imprecisão (que permanece ainda hoje) quanto a quais
fatores, biológicos e/ou psicológicos, seriam responsáveis pelo quadro autista.
Desde então, têm sido realizadas tentativas de se reunirem os sintomas e os
comportamentos da criança diagnosticada de autismo, com objetivo de padronizá-los, a
partir da universalização da linguagem utilizada. Nesse tocante, as descrições
apresentadas no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), publicado
pela Associação Psiquiátrica Americana (APA), são as que mais se aproximam de uma
coletânea das características definidoras do autismo. O DSM-IV-TR (2000) apresenta o
autismo (Transtorno Autista) como um Distúrbio Global do Desenvolvimento caracterizado
por prejuízos comportamentais que são agrupados em três categorias principais: (1)
comprometimento da interação social, (2) comprometimento da comunicação, e (3) padrões
restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento. A lista de critérios diagnósticos
para o transtorno apresenta quatro critérios para cada uma dessas categorias. Para receber
o diagnóstico de Transtorno Autista (299.00), o paciente deve reunir pelo menos 6 dentre
os 12 critérios, respondendo ao número mínimo de critérios estabelecido para cada
categoria, com início dos sintomas anterior aos três anos de idade.
As descrições apresentadas por manuais como o DSM têm, como já foi sugerido, o objetivo
de sistematizar as características do repertório autista, possibilitando, dessa maneira, o
diálogo entre diferentes áreas da saúde. Porém, essa sistematização parece limitar o
diagnóstico do autismo, ao considerar os sintomas como sendo idênticos para todos os
indivíduos autistas e como se esses indivíduos fossem membros de um grupo homogêneo.
Existem, é claro, características do repertório autista que são comuns à maioria dos
indivíduos, mas elas não são suficientes para que se caracterize e avalie um caso individual
de autismo. Windholz (1995) afirma que há (...) diferenças individuais entre as pessoas com
autismo, quanto ao nível de desenvolvimento e habilidades aprendidas, problemas de
conduta, prejuízos orgânicos. Seus ambientes familiares são distintos, tanto do ponto de
vista socioeconômico e cultural, como quanto à capacidade de seus membros enfrentarem
o problema de ter um filho com autismo. (p. 179).
Essas diferenças na história de vida de cada pessoa refletem-se em repertórios
diferenciados que não são, necessariamente, contemplados pela categorização
43
apresentada pelo manual. Essa simplificação, além de limitar o diagnóstico (excluindo
indivíduos com repertórios característicos do autismo, mas que não respondem a todos os
critérios estabelecidos), encoraja a utilização de técnicas e procedimentos generalistas, que
provavelmente não serão adequados para todos os casos. Explica-se: em manuais como
o DSM, os comportamentos característicos do repertório autista são apresentados em
termos estritamente topográficos, isto é, com base na forma como os comportamentos se
apresentam. As abordagens de tratamento baseadas exclusivamente na topografia dos
comportamentos-problema podem trazer alguns prejuízos, uma vez que tendem a ignorar
fatores motivacionais por trás de sua ocorrência. Como será discutido mais adiante, para
uma abordagem analítico-comportamental, o comportamento, inadequado ou não, será
melhor compreendido se forem levadas em consideração as consequências que produz,
ou seja, quando são analisados em termos de sua funcionalidade.
Considerando o caráter idiossincrático do autismo, torna-se evidente a relevância de
programas sistemáticos de tratamento que sejam capazes de identificar de que variáveis o
repertório autista é função, a partir de uma análise individualizada, e que não estejam
restritos à aplicação de procedimentos baseada exclusivamente em formas generalistas de
diagnóstico. Nesse sentido, a pesquisa psicológica tem ganhado um espaço considerável
no tratamento do autismo, e suas contribuições para essa população, em especial as da
Análise do Comportamento, têm sido bastante relevantes para o estudo do tema.
Atualmente, a pesquisa básica comportamental tem evoluído sistematicamente, produzindo
conhecimento substancial acerca do autismo e possibilitando avanços notáveis no
desenvolvimento de programas de tratamento em diferentes contextos. A Análise Aplicada
do Comportamento visa a uma análise funcional do comportamento autista, a fim de
identificar que aspectos do ambiente dos indivíduos controlam ou poderiam estar
controlando seu comportamento. A partir da manipulação dos ambientes físico e social dos
indivíduos, procuram-se ensinar aquelas habilidades necessárias, mas que estão ausentes
ou apresentam-se prejudicadas no repertório autista. Dessa forma, enfatiza-se a
necessidade de desenvolvimento de métodos para o ensino de habilidades aos indivíduos
diagnosticados como autistas, em oposição à tradicional utilização de medicamentos ou à
exclusão social desses indivíduos.
44
Uma análise comportamental do autismo
Do ponto de vista analítico-comportamental, o autismo é uma síndrome de déficits e
excessos que [pode ter] uma base neurológica, mas que está, todavia, sujeita a mudança,
a partir de interações construtivas, cuidadosamente organizadas com o ambiente físico e
social (Green, 2001).
Como foi comentado anteriormente, crianças com autismo apresentam deficiências em
habilidades sociais às quais estão intimamente relacionados problemas no
desenvolvimento de linguagem, além de se engajarem com mais frequência do que
crianças com desenvolvimento normal em comportamentos repetitivos e estereotipados.
Ferster (1961) discutiu o comportamento autista com base nos princípios operantes,
sugerindo que o repertório autista poderia ter uma determinação ambiental (i.e., ter sido
aprendido), ao invés de exclusivamente biológica. Segundo o autor, o ambiente social
apresenta contingências relativamente inconsistentes, reflexo da predominância de
esquemas de reforçamento intermitente e extinção, que resultariam numa carência de
comportamentos aprendidos socialmente. Em contrapartida, a consistência das
contingências não-sociais (predominância de reforçamento contínuo)4 daria origem a
comportamentos estereotipados e de auto estimulação. A hipótese de Ferster leva a crer
que o autismo é resultado de uma falha dos pais ao expor seus filhos às contingências
ambientais. Segundo ele, em função de um conjunto de variáveis históricas e ambientais,
o comportamento da criança autista não ficaria sob controle de reforçadores condicionados,
e ela não seria capaz de identificar que respostas seriam funcionais para produzir
consequências reforçadoras, de maneira que a interação com o ambiente social (mais
especificamente a interação com os pais) não resultaria em reforçadores para a criança.
Esse “ círculo vicioso” resultaria na instalação e manutenção de repertórios formados
quase que exclusivamente de respostas ao ambiente físico, mais eficazes na obtenção de
consequências reforçadoras mais consistentes, e contribuiria para a produção de
comportamentos sociais considerados não-adaptativos.
Spradlin e Brady (1999) retomam a hipótese de que o autismo é resultado da inconsistência
do ambiente social, por um lado, e da consistência do ambiente físico, por outro. Todavia,
diferentemente de Ferster (1961), acreditam que crianças com autismo necessitam de uma
45
maior consistência de relações estímulo, resposta e reforçamento, do que necessitam
crianças com desenvolvimento normal, para que o controle de estímulo apropriado se
desenvolva. Portanto, eles sugerem que muitas das características apresentadas por
crianças autistas poderiam ser função de limitações no desenvolvimento de controle de
estímulos. Dessa forma, o repertório comportamental característico do autismo estaria
atrelado a um controle restrito de estímulos.
Na visão analítico-comportamental, mesmo comportamentos considerados desajustados,
como os apresentados por indivíduos autistas, são provocados por eventos específicos e
são mantidos por suas consequências. Muitas vezes, tais consequências controladoras não
são perceptíveis facilmente, motivo porque é comum postularmos causações internalistas
e mentalistas para nossas ações. No entanto, quaisquer intervenções que ignorem as
consequências enquanto variáveis controladoras dos comportamentos (considerando
apenas a topografia do comportamento, por exemplo) tendem a não ser bem-sucedidas,
seja na eliminação de comportamentos-problema ou no estabelecimento de novas
habilidades. O desconhecimento ou a identificação imprecisa das variáveis ambientais que
controlam o comportamento-problema levam, facilmente, à utilização de estratégias de
intervenção pouco apropriadas e que podem inclusive trazer prejuízos ainda maiores para
o indivíduo. Por exemplo, comportamentos auto lesivos idênticos topograficamente,
apresentados por indivíduos diferentes, podem estar sendo mantidos pela atenção de
outros, em um caso e, no outro, pelo encerramento de tarefas que são aversivas para o
indivíduo. Procedimentos do tipo “ receita de bolo” , que levarem em consideração somente
a forma dos comportamentos apresentados pelos dois indivíduos, provavelmente terão
pouco efeito na sua eliminação; e se forem eficazes em um dos casos, não o serão no
outro.
A Análise Aplicada do Comportamento tem como objetivo, na intervenção com pessoas
diagnosticadas como autistas, desenvolver repertórios de habilidades sociais relevantes e
reduzir repertórios inadequados, servindo-se, para isso, de métodos baseados em
princípios comportamentais. Segundo Green (1996), a intervenção analítico-
comportamental em casos de autismo enfoca o ensino sistemático de unidades reduzidas
e mensuráveis de comportamento. De acordo com a autora:
46
Toda habilidade que a criança com autismo não demonstra – desde respostas
relativamente simples, como olhar para os outros, até atos complexos como comunicação
espontânea e interação social – é separada em passos menores. (...). respostas
apropriadas são seguidas por consequências cuja função como reforçadores efetivos foi
observada (...). Um objetivo de alta prioridade é tornar o aprendizado divertido para a
criança. Outro é ensinar à criança como discriminar entre vários estímulos diferentes: seu
nome de outras palavras faladas; cores, formas, letras, números e afins entre si;
comportamento apropriado de inapropriado. Respostas problemáticas (como birras,
estereotipias, autolesão, evitação) são explicitamente não-reforçados, o que
frequentemente requer uma análise sistemática para determinar que eventos exatamente
funcionam como reforçadores para aquelas respostas. Preferivelmente, a criança é
induzida a se engajar em respostas apropriadas que são incompatíveis com as respostas-
problema. (p. 30).5
Como já foi comentado, muitos dos comportamentos característicos do repertório autista
podem ter origem em problemas no desenvolvimento do controle ambiental do qual o
comportamento operante é função. Nesse caso, a pesquisa comportamental tem um
importante papel a cumprir, seja no sentido de elucidar que eventuais variações ambientais
podem vir a produzir um repertório autista, ou no de desenvolver e avaliar procedimentos
voltados para essa população. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as contribuições
da Análise do Comportamento para o estudo do autismo, a partir da investigação de
aspectos metodológicos dos trabalhos de pesquisa voltados para o tema, especialmente
quanto aos delineamentos experimentais apresentados na literatura.
A pesquisa analítico-comportamental sobre o autismo
Foram selecionados, para análise, trabalhos de pesquisa com enfoque analítico-
comportamental, publicados nos últimos 15 anos em revistas especializadas em análise do
comportamento e que respondessem aos seguintes critérios: a) realizar a avaliação dos
processos comportamentais envolvidos no repertório autista e/ou avaliação de
procedimentos, tendo como meta a instalação de novas habilidades no repertório de
47
indivíduos com diagnóstico de autismo, desde que b) seguindo um delineamento
experimental de sujeito único (single-subject design). Em outras palavras, trabalhos cuja
análise de contingências levasse em conta aspectos individuais, bem como a variabilidade
comportamental de cada sujeito.
A maioria das pesquisas com esse tipo de população identificadas na literatura é voltada
para a modificação ou eliminação de comportamentos-problema, como auto lesivos e
estereotipias. A relativa carência de trabalhos de pesquisa visando à identificação de pré-
requisitos para o ensino de novos comportamentos, talvez possa ser entendida como um
reflexo da ideia de que pessoas diagnosticadas como autistas não têm capacidade de
aprender mesmo as tarefas mais simples da vida diária (o que eventualmente pode servir
como justificativa para que profissionais pouco preparados – e mesmo pais – deixem de se
dedicar ao ensino de quaisquer habilidades a esses indivíduos), enquanto seus
comportamentos considerados inadequados são frequentemente abordados como sendo
passíveis de modificação. É bastante provável, porém, que a divulgação dos resultados de
trabalhos com enfoque analítico-comportamental voltados para o desenvolvimento e não
somente para a eliminação de comportamentos, venha estimular o engajamento futuro
nesse tipo de pesquisa. A opção por investigar apenas trabalhos que tivessem como
objetivo último o desenvolvimento de repertório de habilidades úteis decorreu do fato de
tais trabalhos mostrarem que indivíduos autistas são capazes de aprender, desde que
submetidos a uma intervenção estruturada e intensiva (de preferência realizada
precocemente), e do pressuposto de que o ensino de habilidades que aumentam a
competência social do indivíduo em seu ambiente diário pode levar à prevenção de
comportamentos inadequados, uma vez que os ganhos educacionais podem ser mais
significativos a longo prazo do que a simples eliminação de comportamentos destrutivos
(Meyer, 1998; p. 251).
Estudos que utilizam delineamento de grupos de sujeitos não foram considerados, partindo-
se do pressuposto de que o tratamento estatístico utilizado para análise de seus dados não
permite a compreensão precisa de como a manipulação de variáveis específicas afeta o
comportamento de cada sujeito, individualmente. Segundo Sidman (1960), tais dados
48
(...) descrevem algum tipo de ordem no universo e, com tal, podem bem servir como a base
de uma ciência. Esta não pode, contudo, ser uma ciência do comportamento individual, a
não ser da forma mais crua. (...). É uma ciência da média do comportamento de indivíduos
que estão unidos apenas pelo próprio processo de cálculo da média. (p.275).
Anteriormente, foi comentado o aspecto idiossincrático do autismo: por estarem inseridos
em contextos ambientais distintos em algum nível, indivíduos autistas apresentarão
repertórios comportamentais ligeiramente diferentes entre si, devido a variações em suas
histórias de reforçamento, no desenvolvimento de controle de estímulos, nos eventos
potencialmente reforçadores, etc. Dessa forma, optou-se por trabalhos que, além de se
embasarem em princípios comportamentais cientificamente comprovados, levassem em
consideração as variáveis históricas do repertório de cada indivíduo.
Os artigos foram selecionados a partir das publicações nos seguintes periódicos: Journal
of Experimental Analysis of Behavior, Journal of Applied Behavior Analysis e The Analysis
of Verbal Behavior, todos com relatos de estudos empíricos, publicados pela Association of
Behavior Analysis (ABA)7 , cuja periodicidade tem-se mantido constante desde suas
origens. A identificação dos artigos foi feita por meio dos sistemas de busca de resumos
disponibilizados nas páginas de internet dos referidos periódicos. A seleção foi realizada
em duas etapas. A primeira consistiu na realização de uma busca preliminar, utilizando-se
as palavras-chave autism + teaching e autism + training, a fim de identificar trabalhos
voltados para a instalação (e não para a redução ou eliminação) de comportamentos. A
seguir, procurou-se identificar, com base nos títulos dos artigos, que estudos estavam de
acordo com os critérios estabelecidos. Recorreu-se aos resumos dos trabalhos
identificados principalmente quando os títulos não forneciam informações suficientes para
a seleção. A segunda etapa da seleção consistiu da identificação de quais, dentre os artigos
identificados, utilizavam delineamento de sujeito único. Para isso, recorreu-se aos resumos
e, na maioria dos casos, em que o resumo não continha tal informação, ao artigo completo.
Foram selecionados, ao todo, sete trabalhos de pesquisa. A análise dos trabalhos sugere
que os mesmos podem ser categorizados como produtos de duas linhas de pesquisa
distintas. Uma delas, que neste trabalho será denominada de Grupo de Controle de
Estímulos, com dois dos sete trabalhos, e a outra, chamada aqui de Grupo de Operantes
Verbais, que responde pelos demais. Os trabalhos do Grupo de Controle de Estímulos
49
parecem ter como objetivo principal a identificação das variáveis que auxiliam ou interferem
no desenvolvimento de controle de estímulos atuando sobre o comportamento operante,
bem como o desenvolvimento e avaliação de procedimentos capazes de estabelecer
controle de estímulos preciso, visando à produção e ao aperfeiçoamento de uma tecnologia
de controle de estímulos que permita a intervenção em processos básicos do
desenvolvimento comportamental que podem estar prejudicados no repertório autista. Os
trabalhos do Grupo de Operantes Verbais parecem enfocar o controle de estímulos em um
nível menos básico, enfatizando a intervenção no desenvolvimento de controle de estímulos
no estabelecimento e manutenção dos operantes verbais (talvez por serem as relações
sociais as mais prejudicadas no repertório autista). Ao passo que no primeiro grupo enfoca-
se o desenvolvimento de controle de estímulos no comportamento operante, sem distinção
explícita entre verbal e não-verbal, é característica do segundo a ênfase na aplicação dos
princípios descritos por Skinner acerca do comportamento verbal, o que se reflete, na
maioria dos trabalhos, na utilização rigorosa da taxonomia por ele proposta em Verbal
Behavior (1957).
Como se pode deduzir a partir dos periódicos em que os artigos aqui considerados foram
publicados, os trabalhos podem ser agrupados também entre os rótulos pesquisa básica e
pesquisa aplicada. Na verdade, a maioria dos trabalhos reunidos sob o nome “ Grupo de
Operantes Verbais” são relatos de pesquisas aplicadas (trabalhos de intervenção). Porém,
tanto os trabalhos de pesquisa básica como os de pesquisa aplicada – a despeito do
controle caracteristicamente menos rígido –, tinham como peculiaridade o interesse na
avaliação dos procedimentos utilizados (e não a simples aplicação indiscriminada de
procedimentos) e/ou na investigação dos processos envolvidos, além de utilizarem um
tratamento individualizado dos dados. Uma vez que todos os trabalhos analisados estavam
de acordo com os critérios propostos, a distinção entre pesquisa básica e aplicada foi
desconsiderada inicialmente, e os artigos analisados foram agrupados com base em outros
aspectos mais característicos.
A análise dos aspectos metodológicos dos trabalhos de pesquisa investigados levou em
consideração informações relativas à natureza dos estímulos utilizados, bem como os
critérios de escolha dos mesmos, avaliação de desempenho (pré-requisitos), tipo de
resposta requerida e procedimentos de correção, tipo de consequências disponibilizadas,
50
além da realização ou não de avaliação para identificação de reforçadores potenciais (ver
Tabela 1).
Estímulos utilizados e avaliação de desempenho:
51
Na maioria dos trabalhos organizados como pertencentes ao Grupo de Operantes Verbais,
os estímulos utilizados foram objetos reais (gravuras, brinquedos, alimentos) escolhidos
após avaliação do repertório verbal prévio de cada participante – capacidade (ou
incapacidade) em emitir tatos e mandos – na presença dos objetos. Dois dos estudos
(Drash, High & Tudor, 1999; Williams, Donley & Keller, 2000) não relataram avaliação do
repertório verbal dos participantes com relação aos estímulos utilizados. No trabalho de
Drash et al, no entanto, os estímulos escolhidos foram brinquedos e alimentos pelos quais
os participantes apresentaram algum tipo de predileção.
No que se refere ao Grupo de Controle de Estímulos, um dos trabalhos (Kelly, Green &
Sidman, 1998), os estímulos utilizados eram figuras, letras e números, apresentados em
monitor com tela sensível ao toque e estímulos auditivos (nomes correspondentes), sem
qualquer avaliação (relatada) da familiaridade dos participantes com os estímulos, anterior
a sua exposição. O outro estudo (Eikeseth & Smith, 1992) teve como estímulos letras
gregas e seus nomes impressos, apresentados em folhas de papel como modelos (no topo)
e comparações (lado a lado, na parte inferior). Ambos os estudos relataram avaliação prévia
(pré-testes) dos desempenhos dos sujeitos em tarefas de pareamento ao modelo visual por
identidade e auditivo-visual, mas um deles (Kelly, Green & Sidman, 1998) teve como base
somente os relatos de professores do participante acerca de seus desempenhos nesse tipo
de tarefa.
Tipo de resposta requerida, aparato e técnicas de correção:
Em três dos cinco trabalhos do Grupo de Operantes Verbais, foram utilizados objetos reais,
geralmente apresentados sobre uma mesa ou erguidos pelo experimentador e cuja
apresentação era contingente à de um prompt verbal (e.g., “ O que é isso?” , “ O que você
quer?” ). Nesses casos respostas requeridas eram respostas verbais (ecóicos, tatos e/ou
mandos) nas formas de vocalizações inicialmente indiferenciadas (Drash, High & Tudor,
1999) e sinais (Partington, Sundberg, Newhouse & Spengler, 1994; Sundberg, Endicott &
Eigenheer, 2000). De forma diferente, no trabalho de Yamamoto e Mochizuki (1988), a
emissão de mandos (pedir um objeto a um dos experimentadores), deveria ocorrer na
52
ausência do objeto, em resposta a um prompt verbal do tipo “ Traga-me [nome do objeto]
(procedimento de cadeia social). Já no estudo de Williams et al. (2000), as respostas –
mandos em forma de perguntas – deveriam ser iniciadas espontaneamente pelas
participantes, na presença de estímulos não-verbais (caixas contendo objetos escondidos).
Em um dos estudos do Grupo de Controle de Estímulos (Kelly, Green & Sidman, 1998), as
tarefas eram computadorizadas, de maneira que as respostas requeridas eram de toque
aos estímulos apresentados no monitor. Este estudo realizou ainda testes de generalização
utilizando tabuleiro, com resposta de toque a estímulos tridimensionais. O trabalho de
Eikeseth e Smith (1992) apresentava as tentativas em folhas de papel (uma folha para cada
arranjo de estímulos) e requeria também respostas de toque, frente ao prompt verbal
Aponte os iguais, além de respostas de nomeação oral a estímulos isolados.
Para o estabelecimento das respostas apropriadas, todos os trabalhos, de ambos os
grupos, utilizaram-se de prompts de indução de resposta, a única diferença residindo na
natureza da técnica utilizada. Para o Grupo de Operantes Verbais, foram utilizados prompts
verbais que consistiam na apresentação da resposta verbal correta para que o participante
imitasse. Já para o Grupo de Controle de Estímulos, os prompts eram não-verbais e
consistiam na orientação física da resposta correta. Novamente para ambos os grupos,
após as respostas estarem estabelecidas, o prompt apresentava esvanecimento (fading),
sendo reduzido gradualmente, até que o participante fosse capaz de emitir a resposta
apropriada sem orientação. Se houvesse erros durante o uso de uma forma reduzida do
prompt, este retornava para a forma imediatamente anterior, até que a resposta se
estabelecesse de novo sob esta forma.
Reforçadores:
Dois dos trabalhos do Grupo de Operantes Verbais contaram com avaliação individualizada
de reforçadores potenciais (Drash, High & Tudor, 1999; Partington, Sundberg, Newhouse
& Spengler, 1994), que variaram entre brinquedos e itens comestíveis. Nos trabalhos de
Yamamoto e Mochizuki (1998) e de Sundberg et al (2000), não foi relatada avaliação de
reforçadores. No primeiro, utilizaram-se itens comestíveis, ao passo que no segundo, os
53
participantes podiam escolher um entre vários itens após respostas corretas. Para a maioria
dos trabalhos desse grupo, as consequências a respostas apropriadas eram elogio (reforço
social) acompanhado de um item reforçador, à exceção do estudo realizado por Williams et
al (2000) em que a consequência para respostas apropriadas era, em última instância, o
acesso ao conteúdo das caixas (ao final do treino, é provável que os nomes dos objetos e
sua visualização tenham-se estabelecido como reforçadores condicionados). Esse estudo
também não relata avaliação de reforçadores individualizados, mas descreve o conteúdo
das caixas como objetos atraentes.
Somente um dos estudos do Grupo de Controle de Estímulos relatou avaliação explícita de
reforçadores potenciais para cada participante. Neste estudo, as consequências para
respostas corretas foram reforço social, como elogios, sorrisos, abraços, etc. (Eikeseth &
Smith, 1992). No outro estudo (Kelly, Green & Sidman, 1998), em que não houve relato de
avaliação de reforçadores potenciais, a consequência era a apresentação de um tom
melódico, seguida da apresentação de seis itens dos quais o participante deveria escolher
um.
Pode-se perceber, com base no que foi descrito acima, que a maioria dos trabalhos
investigados apresentam cuidados metodológicos semelhantes, refletidos, principalmente,
na avaliação de desempenho prévio e de reforçadores potenciais para cada participante,
individualmente, e da utilização de técnicas de modelagem das respostas definidas.
A investigação do desempenho dos participantes antes do início do estudo, observada na
maioria dos trabalhos, é um exemplo do cuidado no controle experimental característico da
prática de pesquisa em Análise Experimental do Comportamento. Em estudos que visam à
identificação das variáveis que atuam sobre os comportamentos típicos do autismo, bem
como o desenvolvimento de tecnologias de ensino, o conhecimento prévio das habilidades
que a pessoa é capaz ou não de apresentar é de suma importância para a avaliação dos
efeitos das variáveis manipuladas durante o treino ao qual ela será submetida. Em trabalhos
de intervenção ou terapia comportamental, a avaliação de repertório é igualmente
relevante, uma vez que permite uma definição clara das demandas imediatas do indivíduo,
bem como a identificação e operacionalização dos comportamentos já presentes em seu
repertório que poderiam servir como pré-requisitos para a instalação de comportamentos
54
novos, facilitando, inclusive, o planejamento de quais serão os contextos e oportunidades
de ensino necessários para aquele caso.
Outro cuidado metodológico que tem sido considerado indispensável para garantir o
sucesso de qualquer tipo de intervenção comportamental é a realização de avaliação prévia
de reforçadores potenciais (Green, 1996, 2001). Os estímulos que podem ser considerados
reforçadores (isto é, que aumentam de forma confiável a frequência dos comportamentos
que os produzem) variam razoavelmente de uma pessoa para outra, sobretudo quando se
trata de eventos sociais, de modo que a utilização de reforçadores universais assumidos
mas não avaliados experimentalmente, pode ter pouco ou nenhum efeito sobre os
comportamentos que se desejam instalar ou fortalecer. Mesmo consequências como
elogios, palmas, sons e animações computadorizadas, por exemplo, que se mostram
efetivas em muitos casos, podem não funcionar como reforçadores em outros,
especialmente em se tratando de indivíduos com repertório autista. Em vista disso, o
conhecimento das consequências que terão, de fato, efeito reforçador sobre os
comportamentos de um indivíduo, pode contribuir, e muito, para o sucesso de intervenções
comportamentais visando à instalação de novas habilidades ou o fortalecimento de
comportamentos preexistentes no seu repertório.
A identificação de reforçadores potenciais, além dos benefícios já comentados, pode ser
importante para aumentar a eficácia de eventos sociais enquanto reforçadores no caso de
não o serem inicialmente. Tais eventos podem assumir função reforçadora se apresentados
contingentemente a outros estímulos comprovadamente reforçadores, em especial
reforçadores primários, como líquidos e alimentos (Spradlin & Brady, 1999). É importante
ressaltar que, embora a utilização de reforçadores primários geralmente não necessite de
avaliação prévia da eficácia de tais estímulos, seu sucesso dependerá de manipulação de
certas condições motivacionais, como um certo nível de privação, por exemplo, ou mesmo
da avaliação das preferências do participante.
Não raro, o simples contato com as contingências programadas não é suficiente para que
uma pessoa com diagnóstico de autismo responda apropriadamente, quando inicialmente
submetida à situação de treino de uma habilidade nova. Isto é, os estímulos discriminativos
arranjados pelo experimentador podem não ser eficazes no controle das respostas
esperadas (Green, 2001). Assim, é essencial, nos estudos realizados com essa população,
55
o domínio de técnicas de indução e correção que facilitem o estabelecimento de controle
discriminativo sobre os comportamentos-alvo. Uma técnica recorrente nos trabalhos de
ambos os grupos foi a utilização de prompts de indução de resposta, como orientação física
da resposta desejada, para citar um exemplo. Os prompts são empregados como eventos
antecedentes auxiliares, até que o participante seja capaz de responder sem auxílio. A
utilização de esvanecimento (fading) dos prompts é também um exemplo de refinamento
metodológico digno de nota: a redução gradual dos prompts, até sua eliminação total, evita
que os participantes se tornem dependentes deles, colocando seu responder sob controle
cada vez mais preciso apenas dos estímulos relevantes.
As principais diferenças identificadas no trato metodológico dos estudos analisados neste
trabalho residem na natureza dos estímulos, no tipo de resposta requerido e no controle de
variáveis estranhas. Na maioria dos trabalhos do Grupo de Controle de Estímulos, os
estímulos utilizados são figuras bidimensionais e a resposta requerida é de toque, enquanto
que para o Grupo de Operantes Verbais, os estímulos utilizados são, em sua maioria,
objetos reais, e as respostas requeridas, respostas verbais, ambos mais complexos. Essas
diferenças são, na verdade, reflexos da modalidade de pesquisa predominante em cada
um dos grupos: como já foi comentado anteriormente, a maioria dos trabalhos do Grupo de
Controle de Estímulos são trabalhos de pesquisa básica, caracterizados pelo controle
experimental rigoroso e pela utilização de condições experimentais simplificadas, ao passo
que a maioria dos trabalhos do Grupo de Operantes Verbais são trabalhos de pesquisa
aplicada, voltados para a intervenção em ambiente natural, e visando ao estabelecimento
de habilidades relevantes socialmente. Embora as reservas metodológicas características
do Grupo de Controle de Estímulos e, consequentemente, da pesquisa básica, sejam
imprescindíveis a fim de se isolarem mais precisamente as variáveis envolvidas no controle
do comportamento, algumas considerações merecem ser feitas acerca da utilização de
participantes autistas em trabalhos de pesquisa.
É evidente que estudos visando ao esclarecimento do controle de estímulos em um nível
mais básico são de grande importância. Contudo, os benefícios imediatos que a
participação nesses estudos traz para o indivíduo autista parecem ser irrisórios,
principalmente se levarmos em conta a expectativa dos familiares, ao consentirem com a
participação (os benefícios para a comunidade científica são preciosos e inquestionáveis,
56
e poderão, claro, ser úteis para o próprio participante, a longo prazo, mas não satisfazem,
necessariamente, as expectativas imediatas dos familiares). Por esse motivo, talvez seja
válido nos questionarmos se a participação de indivíduos autistas nesse tipo de pesquisa
não poderia ser substituída, onde e quando possível, pela utilização do modelo animal. Nos
casos em que a participação de pessoas autistas fosse, de fato, necessária, a aplicação da
tecnologia proveniente desses estudos poderia ser realizada com materiais e em contextos
mais facilmente generalizáveis em ambientes outros que não o da execução do
experimento.
Apesar de não serem rigorosos quanto ao controle de variáveis estranhas (e, talvez,
justamente por isso), os trabalhos do Grupo de Operantes Verbais parecem ser os mais
produtivos em termos de benefícios para a população autista. Por serem realizados em
ambientes mais semelhantes, estruturalmente, aos ambientes naturais do indivíduo, e por
visarem ao estabelecimento de habilidades sociais que serão úteis em um nível mais
imediato, em contextos interativos replicáveis naturalmente no dia a dia, tais estudos
parecem estar em maior consonância com as necessidades imediatas das pessoas
autistas.
Considerações Finais:
O autismo é visto tradicionalmente como um recolhimento da criança para um mundo
próprio, ao qual somente ela tem acesso. Ausência de afeto e de busca espontânea de
contato físico, decorrentes de um afastamento voluntário do mundo real, e a incapacidade
de aprender devido a algum prejuízo biológico, são tópicos recorrentes quando se fala
sobre o tema (Gellis & Kagan, 1973). O desenvolvimento do presente trabalho partiu do
pressuposto de que muitas das características autistas podem ser analisadas e trabalhadas
em termos de repertório comportamental, exclusivamente. Muito embora existam,
provavelmente, repertórios típicos do autismo decorrentes de prejuízos neurológicos,
dificuldades durante a gestação e no parto, entre outras causas atribuídas ao distúrbio, esta
relação de causalidade organicista não parece ser a regra, principalmente se levarmos em
conta os resultados bem-sucedidos de intervenções comportamentais bem planejadas e
57
executadas. Além disso, deve-se levar em conta que os estudos atribuindo causações
orgânicas ao autismo são, em sua maioria, estudos correlacionais. Esses estudos
identificam, sempre com base em uma análise retrospectiva, características orgânicas que
coexistem com as caraterísticas autistas, em uma parcela significativa da amostra
considerada, não havendo, dessa maneira, uma relação causa-efeito direta comprovada
entre aquelas características e as últimas. O que se identifica são, na verdade,
possibilidades de relação, além do fato, inegável, de que uma boa porcentagem de pessoas
diagnosticadas como autistas apresenta problemas biológicos. Mas, se esses problemas
causam ou apenas acompanham o quadro autista, é uma questão que ainda deve ser
investigada mais a fundo.
É provável que haja casos de pessoas que apresentem características autistas, em termos
de repertório apenas (i.e., sem que sejam necessariamente acompanhadas de ou
acarretadas por prejuízos orgânicos), desenvolvidas por exposição deficiente à estimulação
ambiental necessária para um desenvolvimento considerado normal. Essa estimulação
deficiente não deve ser entendida como produto da atuação de “ maus pais” ou como uma
criação propositadamente ruim, mas como decorrente da falta de informação dos pais
acerca dos pré-requisitos para o bom desenvolvimento de seus filhos. E nem mesmo a falta
de informação deveria ser considerada uma falha dos pais, visto que não há
disponibilização apropriada desse conhecimento além dos círculos acadêmicos.
Um prejuízo de se aceitar, simplesmente, que o transtorno autista tenha uma origem
exclusivamente orgânica (e, consequentemente, imutável), é a prática, decorrente dessa
concepção, de não se submeterem pessoas autistas a programas educacionais relevantes,
presumindo-se que sua condição interna não lhes permite aprender. Talvez (e muito
provavelmente), a incapacidade da maioria das pessoas autistas tenha uma origem cultural,
muito antes de biológica, interna. Este trabalho procurou mostrar as técnicas de controle
experimental das quais a Análise do Comportamento faz uso no estudo do repertório
autista. Uma análise detalhada dos resultados desses trabalhos (que não foi o objetivo do
presente estudo) mostraria que indivíduos autistas podem apresentar avanços significativos
em termos de repertório, desde que sejam identificadas as variáveis ambientais relevantes,
como consequências realmente reforçadoras, e desde que sejam programadas
58
oportunidades de ensino apropriadas, levando-se sempre em consideração aspectos
individuais de cada participante.
Todavia, apesar dos avanços provenientes da pesquisa comportamental, informações
imprecisas e a falta de conhecimento acerca do autismo ainda se mantêm, trazendo
prejuízos aos próprios autistas e a seus familiares, aumentando o despreparo de
professores e outros profissionais que lidam com crianças autistas, mantendo e gerando
preconceitos. Por essa razão, torna-se patente a necessidade de os analistas do
comportamento se preocuparem não somente com a investigação científica e o
desenvolvimento de técnicas e tecnologias de intervenção, mas também em
disponibilizarem o saber decorrente de suas pesquisas para o público em geral,
principalmente no Brasil, onde os estudos sobre o tema, além de escassos, não encontram
meios de veiculação para a comunidade.
Outra tarefa dos analistas do comportamento seria o desenvolvimento de instrumentos que
possibilitassem a identificação, o mais precocemente possível (antes dos tradicionais três
anos de idade), de traços comportamentais incipientes característicos de um repertório
autista, dado que a intervenção precoce parece trazer benefícios mais significativos do que
uma intervenção mais tardia no desenvolvimento infantil. Além disso, os profissionais, não
apenas da Análise do Comportamento, mas da Psicologia como um todo, deveriam estar
mais atentos à elaboração de programas de prevenção que pudessem minimizar a
gravidade dos efeitos comportamentais e educacionais da condição autista e, talvez, evitar
o próprio desenvolvimento de um repertório autista, ao invés de ocuparem-se somente com
o tratamento de um quadro já estabelecido.
Referências
Castanheira, S.S. (2002). Intervenção comportamental na clínica. Em A.M.S. Teixeira, A.M.
Lé Sénéchal-Machado, N.M.S. Castro e S.D. Cirino (Orgs.). Ciência do comportamento:
conhecer e avançar, pp. 88-95. Santo André: ESETec.
59
de Rose, J.C. (1994). Pesquisa sobre comportamento verbal. Psicologia Teoria e Pesquisa,
10, 495-510.
Ericsson, K.A. & Simon, H.A. (1980). Verbal reports as data. Psychological Review, 87, 215-
249.
Ferster, C.B., Culbertson, S. & Boren, M.C.P. (1977). Princípios do comportamento.
Traduzido por M.I. Rocha e Silva, M.A.C. Rodrigues e M.B.L. Pardo. São Paulo: Edusp.
(trabalho original publicado em 1968).
Ferster, C.B. (1972). An experimental analysis of clinical phenomena. The Psychological
Record, 22, 1-16.
Hamilton, S.A. (1988). Behavioral formulations of verbal behavior in psychotherapy. Clinical
Psychology Review, 9, 181-193.
Hayes, S.C., (1986). The case of silent dog – Verbal reports and the analysis of rules: A
review of Ericsson and Simon’ s Protocol Analysis: Verbal Reports as Data. Journal of the
Experimental Analysis of Behavior, 45, 351-363.
Hayes, S.C., & Hayes, L.J. (1989). The verbal action of the listener as a basis for rule-
governance. Em S.C. Hayes (Org.), Rule-governed behavior: cognition, contingencies, and
instructional control, pp. 153-190. NeAw York: Plenum.
Kohlenberg, R. J. e Tsai, M.(2001). Psicoterapia analítica funcional: criando relações
terapêuticas e curativas. Tradução organizada por R. R. Kerbauy. Santo André: ESETec.
(trabalho original publicado em 1991).
Medeiros C.A. (2002). Análise funcional do comportamento verbal na clínica
comportamental. Em A.M.S. Teixeira, A.M. Lé Sénéchal-Machado, N.M.S. Castro, S.D.
60
Cirino (Orgs.). Ciência do comportamento: conhecer e avançar, pp. 176-187. Santo André:
ESETec.
Poppen, R.L. (1989). Some clinical implications of rule-governed behavior. In S. Hayes
(Org.). Rule-governed behavior: cognition, contingences, and instructional control, pp. 325-
357. New York: Plenum Press.
Rangé, B.P. (1995). Relação terapêutica. Em B. Rangé (Org.) Psicoterapia comportamental
e cognitiva: pesquisa, prática, aplicações e problemas, pp. 43-64. Campinas: Editorial Psy.
Ribeiro, A. F. (1989). Correspondence in children’ s self-report: tacting and manding
aspects. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 51, 361-367.
Rosenfarb, I.S. (1992). A behavior analytic interpretation of the therapeutic relationship. The
Psychological Record, 42, 341-354.
Sidman, M. (1995). Coerção e suas implicações. Traduzido por M.A. Andery e T.M. Sério.
Campinas, SP: Editorial Psy. (trabalho original publicado em 1989).
Skinner, B.F. (1938). The behavior of organisms: an experimental analysis. New AYork:
Appleton-Century-Crofts.
Skinner, B.F. (1994). Ciência e comportamento humano. Traduzido por J.C. Todorov e R.
Azzi. São Paulo: Martins Fontes. 9ª ed. (trabalho original publicado em 1953).
Skinner, B.F. (1978). O comportamento verbal. Traduzido por M.P. Villalobos. São Paulo:
Cultrix. (trabalho original publicado em 1957).
Skinner, B.F. (1984). Contingências de reforço. Traduzido por R. Moreno. São Paulo: Abril
Cultural. 2a Ed. (trabalho original publicado em 1969).
61
Skinner, B.F. (2000). Sobre o behaviorismo. Traduzido por M.P. Villalobos. São Paulo:
Cultrix. (trabalho original publicado em 1974).
Skinner, B.F. (1988). The fable. The Analysis of Verbal Behavior, 6, 1-2.
Wulfert, E., Dougher, M.J. & Greenway, D.F. (1991). Protocol analysis of the
correspondence of verbal behavior and equivalence class formation. Journal of the
Experimental Analysis of Behavior, 56, 489-504.