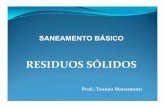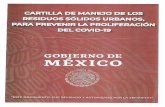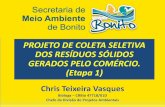Apostila Residuos Sólidos - 2 Semestre Atualizada
description
Transcript of Apostila Residuos Sólidos - 2 Semestre Atualizada
Resduos
CEEP CENTRO ESTADUAL DE EDUCAO PROFISSIONAL FRANCISCO CARNEIRO MARTINS CURSO TCNICO EM MEIO AMBIENTE
2. SEMESTRE
POLTICA ESTADUAL DE RESDUOS SLIDOS
um instrumento legal que dever conter as diretrizes gerais para a gesto de resduos urbanos, rurais, industriais, especiais e de servios de sade, incluindo as responsabilidades dos geradores de resduos e definio de infraes e respectivas penalidades pelo descumprimento das normas e regulamentos contidos na poltica. A elaborao de uma legislao adequada um passo importante no sentido de melhorar as condies de manejo dos resduos slidos em nosso Estado e pode representar o marco da virada da situao, um salto de qualidade para poder garantir condies adequadas de vida populao, no que diz respeito ao setor. Para isso o Governo do Estado pretende realizar ampla consulta entre os diversos setores envolvidos e interessados no processo de regulamentao dos resduos slidos, estimulando o debate e a formulao de propostas para a elaborao da Poltica Estadual de Resduos Slidos.
O QUE A POLTICA ESTADUAL DE RESDUOS SLIDOS?
Lei que institui a Poltica Estadual de Gerenciamento de Resduos Slidos, seus princpios, objetivos e instrumentos e estabelece diretrizes e normas para o gerenciamento dos diferentes tipos de resduos slidos.QUAL A IMPORTANCIA DA ELABORAO DA POLTICA DE RESDUOS SLIDOS?
Possibilitar o adequado gerenciamento de resduos slidos tendo por finalidade evitar prejuzos ou riscos sade pblica e ao meio ambiente e fazer observar as normas pertinentes relativas segurana, proteo individual e coletiva.
QUEM DEVE PARTICIPAR?
Todos os setores envolvidos com a gerao, transporte e recepo de resduos, bem como a populao usuria desses servios.
Resduos
Classificao, origem e caractersticas
Resduos Slidos
Resduos Gasosos
Resduos Lquidos
Resduos Txicos
Resduos Hospitalares
Classes dos Resduos
Resduos so o resultado de processos de diversas atividades da comunidade de origem: industrial, domstica, hospitalar, comercial, agrcola, de servios e ainda da varrio pblica.
Os resduos apresentam-se nos estados slidos, gasoso e lquido.
Ficam includos nesta definio tudo o que resta dos sistemas de tratamento de gua, aqueles gerados em equipamentos e instalaes de controle de poluio, bem como determinados lquidos cujas particularidades tornem invivel seu lanamento na rede pblica de esgotos ou corpos d'gua, ou aqueles lquidos que exijam para isto solues tcnicas e economicamente viveis de acordo com a melhor tecnologia disponvel.
Classificao do lixo
1. Quanto s caractersticas fsicas:Seco: papis, plsticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lmpadas, parafina, cermicas, porcelana, espumas, cortias.
Molhado: restos de comida, cascas e bagaos de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, etc...
2. Quanto composio qumica:
Orgnico: composto por p de caf e ch, cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaos de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim.
Inorgnico: composto por produtos manufaturados como plsticos, vidros, borrachas, tecidos, metais (alumnio, ferro, etc.), tecidos, isopor, lmpadas, velas, parafina, cermicas, porcelana, espumas, cortias, etc.
3. Quanto origem
Domiciliar: originado da vida diria das residncias, constitudo por restos de alimentos (tais como cascas de frutas, verduras, etc.), produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higinico, fraldas descartveis e uma grande diversidade de outros itens. Pode conter alguns resduos txicos.
Comercial: originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de servios, tais como supermercados, estabelecimentos bancrios, lojas, bares, restaurantes, etc.Servios Pblicos: originados dos servios de limpeza urbana, incluindo todos os resduos de varrio das vias pblicas, limpeza de praias, galerias, crregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc, constitudo por restos de vegetais diversos, embalagens, etc.
Hospitalar: descartados por hospitais, farmcias, clnicas veterinrias (algodo, seringas, agulhas, restos de remdios, luvas, curativos, sangue coagulado, rgos e tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, resina sinttica, filmes fotogrficos de raios X). Em funo de suas caractersticas, merece um cuidado especial em seu acondicionamento, manipulao e disposio final. Deve ser incinerado e os resduos levados para aterro sanitrio.
Portos, Aeroportos, Terminais Rodovirios e Ferrovirios: resduos spticos, ou seja, que contm ou potencialmente podem conter germes patognicos. Basicamente originam-se de material de higiene pessoal e restos de alimentos, que podem hospedar doenas provenientes de outras cidades, estados e pases. Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indstria, tais como: o metalrgico, o qumico, o petroqumico, o de papelaria, da indstria alimentcia, etc.
O lixo industrial bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, leos, resduos alcalinos ou cidos, plsticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escrias, vidros, cermicas. Nesta categoria, inclui-se grande quantidade de lixo txico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento.
Radioativo: resduos provenientes da atividade nuclear (resduos de atividades com urnio, csio, trio, radnio, cobalto), que devem ser manuseados apenas com equipamentos e tcnicos adequados.
Agrcola: resduos slidos das atividades agrcola e pecuria, como embalagens de adubos, defensivos agrcolas, rao, restos de colheita, etc. O lixo proveniente de pesticidas considerado txico e necessita de tratamento especial.
Entulho: resduos da construo civil: demolies e restos de obras, solos de escavaes. O entulho geralmente um material inerte, passvel de reaproveitamento.
4. Caractersticas fsicas do lixo
a) Composio gravimtrica: traduz o percentual de cada componente em relao ao peso total do lixo.
b) Peso especfico: o peso dos resduos em funo do volume por eles ocupado, expresso em kg/m. Sua determinao fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalaes.
c) Teor de umidade: esta caracterstica tem influncia decisiva, principalmente nos processos de tratamento e destinao do lixo. Varia muito em funo das estaes do ano e da incidncia de chuvas.
d) Compressividade: tambm conhecida como grau de compactao, indica a reduo de volume que uma massa de lixo pode sofrer, quando submetida a uma presso determinada. A compressividade do lixo situa-se entre 1:3 e 1:4 para uma presso equivalente a 4 kg/cm2. Tais valores so utilizados para dimensionamento de equipamentos compactadores.
Chorume: substncia lquida decorrente da decomposio de material orgnico.
5. Os Resduos slidos podem ser divididos em grupos, como:1. Lixo Domstico: aquele produzido nos domiclios residenciais. Compreendem papel, jornais velhos, embalagens de plstico e papelo, vidros, latas e resduos orgnicos, como restos de alimentos, trapos, folhas de plantas ornamentais e outros.2. Lixo Comercial e Industrial: aquele produzido em estabelecimentos comerciais e industriais, variando de acordo com a natureza da atividade.
Restaurantes e hotis produzem, principalmente, restos de comida, enquanto supermercados e lojas produzem embalagens. Os escritrios produzem, sobretudo, grandes quantidades de papel.
O lixo das indstrias apresenta uma frao que praticamente comum aos demais: o lixo dos escritrios e os resduos de limpeza de ptios e jardins; a parte principal, no entanto, compreendem aparas de fabricao, rejeitos, resduos de processamentos e outros que variam para cada tipo de indstria. H os resduos industriais especiais, como explosivos, inflamveis e outros que so txicos e perigosos sade, mas estes constituem uma categoria parte.
3. Lixo Pblico: so os resduos de varrio, capina, raspagem, entre outros, provenientes dos logradouros pblicos (ruas e praas), bem como mveis velhos galhos grandes, aparelhos de cermica, entulhos de obras e outros materiais inteis, deixados pela populao, indevidamente, nas ruas ou retirados das residncias atravs de servio de remoo especial.
4. Lixo de Fontes Especiais: aquele que, em funo de determinadas caractersticas peculiares que apresenta, passa a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento, manipulao e disposio final, como o caso de alguns resduos industriais antes mencionados, do lixo hospitalar e do radioativo.
Com o crescimento acelerado das metrpoles, do consumo de produtos industrializados, e mais recentemente com o surgimento de produtos descartveis, o aumento excessivo do lixo tornou-se um dos maiores problemas da sociedade moderna. Isso agravado pela escassez de reas para o destino final do lixo. A sujeira despejada no ambiente aumentou a poluio do solo, das guas, do ar e agravou as condies de sade da populao mundial. O volume de lixo tem crescido assustadoramente. E umas das solues imediatas seria reduzir ao mximo o seu volume e o consumo de produtos descartveis, reutiliz-los e recicl-los. Felizmente, para a Natureza e para o homem, os resduos podem ser, em geral, reciclados e parcialmente utilizados, o que traz grandes benefcios comunidade, como a proteo da sade pblica e a economia de divisas e de recursos naturais.
O aterro sanitrio um processo de eliminao de resduos slidos bastante utilizado. Consiste na deposio controlada de resduos slidos no solo e sua posterior cobertura diria. Uma vez depositados, os resduos slidos se degradam naturalmente por via biolgica at mineralizao da matria biodegradvel, em condies fundamentalmente anaerbias. O aterro sanitrio uma obra de engenharia que deve ser orientada por quatro objetivos:
Diminuio dos riscos de poluio provocados por cheiros, fogos, insetos.
Utilizao futura do terreno disponvel, atravs de uma boa compactao e cobertura;
Minimizao dos problemas de poluio da gua, provocados por lixiviao;
Controle da emisso de gases (liberados durante os processos de degradao)
Esse processo tem as seguintes vantagens e desvantagens:1. Processo de baixo custo Longa imobilizao do terreno
2. Recuperao de reas degradadas Necessidade de grandes reas
3. Flexibilidade de operao Necessidade de material de cobertura
4. No requer pessoal altamente especializado Dependncia das condies climticas
Um aterro sanitrio um reator biolgico em evoluo, que produz:1. Resduos gasosos: CO2, metano, vapor dgua, O2, N2, cido sulfrico e sulfuretos
2. Resduos slidos: resduos mineralizados
3. Resduos lquidos: guas lexiviadas.
Resduos Gasosos
Os resduos gasosos resultam das reaes de fermentao aerbia (desenvolvidos na superfcie) e anaerbia (nas camadas mais profundas); a fermentao anaerbia d origem a CO2e a CH4(metano), o qual pode ser aproveitado para a produo de biogs.
Resduos LquidosOs resduos lquidos, tambm chamados lexiviados, variam de local para local e dependem de:
Teor em gua dos resduos
Isolamento dos sistemas de drenagem
Clima (temperatura, pluviosidade, evaporao)
Permeabilidade do substrato geolgico
Grau de compactao dos resduos
Idade dos resduos
Os lexiviados tem elevada concentrao de matria orgnica, de azoto e de materiais txicos, pelo que deve ser feita a sua recolha e tratamento, de modo a impedir a sua infiltrao no solo. Devido a grande distncia que normalmente os aterros sanitrios se encontram, tornam muitas vezes invivel o acesso a esse tipo de destino final. A prtica mais generalizada o enterramento de resduos em terrenos adjacentes, muitas vezes sem preparao, em solos inadequados e perto de espcies faunsticas e florstica de elevada fragilidade, o que d origem a focos de poluio e de contaminao localizados.
Uma forma de minimizar esses efeitos a seleo cuidadosa do local (tipo de solo, coberto vegetal, regime hidrolgico), sua impermeabilizao e seu recobrimento sistemtico com terra. A incinerao um processo de combusto controlada (em instalao prpria), que permite a reduo em volume e em peso dos resduos slidos, em cerca de 90 a 60%. Os resduos so transformados em, gases, calor e materiais inertes (cinza e escrias de metal).
Os grandes incovenientes desse sistema so a: poluio do solo por cinzas e escrias
a poluio da gua pelas guas de arrefecimento das escrias e de lavagem de fumos e pelas escorrncias de solos contaminados
poluio do ar por cinzas volteis e dioxinas; estas ltimas tm um elevado teor txico e so agentes de doenas, nomeadamente hiperpigmentao da pele, danos no fgado, alteraes enzimticas, alteraes no metabolismo dos lipdios, nos sistemas endcrinos e imunolgico e feitos cancergenos. .
O reaproveitamento consiste na utilizao dos resduos para subsidiar outras atividades
1. Alimentao de animais domsticos (restos de alimentos)
2. Produo de fertilizantes - compostagem (resduos slidos orgnicos)Resduos TxicosSo considerados resduos txicos as pilhas no-alcalinas, baterias, tintas e solventes remdios vencidos, lmpadas fluorescentes, inseticidas, embalagens de agrotxicos e produtos qumicos, as substncias no biodegradveis esto presentes nos plsticos, produtos de limpeza, em pesticidas e produtos eletroeletrnicos, e na radioatividade desprendida pelo urnio e outros metais atmicos, como o csio, utilizados em usinas, armas nucleares e equipamentos mdicos. O cdmio, nquel, mercrio e chumbo so os principais contaminantes. A separao adequada desses materiais muito importante para evitar a contaminao do solo e dos lenis freticos. As pessoas devem tomar alguns cuidados bsicos para embalar este tipo de resduo: acondicionar em sacos plsticos bem fechados guard-los em local arejado e protegidos do sol, das crianas e dos animais. Os materiais que podem ser reciclados so encaminhados a Centrais de Tratamento especficas. Os medicamentos vencidos, restos de tinta e verniz, e embalagens de inseticidas, que ainda no podem ser reciclados, ficam armazenados no aterro industrial em condies adequadas, para evitar a contaminao do meio ambiente. Esses resduos so tratados por meio de encapsulamento.
Os principais contaminantes que conferem periculosidade aos resduos so os seguintes:
1. Organo-halogenados
A combinao de fenmenos de evaporao e adsoro no seio do aterro previne de forma substancial o deslocamento dos compostos organo-halogenados para as guas subterrneas. Na presena de leos no lixo, os solventes halogenados tendem a ser associados a esta fase.
2. Cianetos
Foram identificados vrios mecanismos de decomposio e eliminao. Por exemplo, a converso para cido ciandrico voltil, a formao de cianetos complexos, hidrlise de formiato de amnia, formao de tiocianatos e biodegradao podero ocorrer. Um pr-tratamento de resduos com cianetos fortemente recomendado.
3. Metais pesados
Resduos galvnicos foram co-dispostos em aterros e exumados sem modificaes aps 2 a 3 anos. O cromo, quando presente em forma solvel, hexavalente, cromato ou dicromato, pode tambm representar um risco ambiental. Normalmente, em aterros, estes compostos so reduzidos, na presena de matria orgnica, para a forma trivalente de maneira a precipitar como hidrxido em pH neutro, comumente existente nos aterros. O mercrio poder ser originrio de baterias, tubos fluorescentes, entulhos. H evidncias de que o Mercrio mobilizado como sulfato sob as condies anaerbicas reinantes no aterro. Havendo fraes argilosas presentes, o mercrio poder ser firmemente ligado por adsoro ou por troca inica.
4. cidos
Deveria ser prtica normal a neutralizao de resduos cidos, antes da sua disposio em trincheiras ou lagoas rasas, no aterro. Ser essencial que a capacidade de neutralizao inerente ao lixo domstico no seja excedida. Caso contrrio, os metais pesados sero ressolubilizados e a atividade microbiana ser inibida. Foi determinado que 1kg de lixo fresco poder neutralizar 22g de cido sulfrico e 1kg de lixo decomposto ser preciso para neutralizar 33g desse mesmo cido.
5. leos
A adsoro em componentes do lixo um mecanismo de atenuao importante. Estudos demonstraram que no acontecia drenagem livre quando a concentrao do leo no superava os 5% em peso.
6. PCB's (Policloreto de bifenila)
Estas substncias foram encontradas em aterros industriais, provenientes de capacitores, resduos de destilao e tortas de filtro. Em face de sua baixa solubilidade e degradabilidade, admite-se que elas sejam retidas nos aterros. No h evidncia de que a presena de outras substncias orgnicas afete a mobilidade dos PCB's, porm, a presena de solventes deveria ter efeitos significativos. Alguns ensaios mostraram a presena de PCB's no chorume em concentraes entre 0,01 e 0,05 mg/l.
7. Fenis
Pode-se constituir em problema grave, uma vez que o limite da WHO - World Health Organization para fenol de 0,022 mg/l; e muitos resduos industriais contm este produto em proporo superior a estes valores.
8. Solventes
Durante a deposio em aterro, os solventes podero perder-se por evaporao para a atmosfera ou podem ser absorvidos pelo lixo, onde podero ser submetidos biodegradao. Testes de laboratrio mostram a grande dificuldade de se prognosticar a extenso de cada um destes processos.Resduos HospitalaresOs Resduos Slidos Hospitalares ou como mais comumente denominado "lixo hospitalar ou resduo sptico", sempre constituiu-se um problema bastante srio para os Administradores Hospitalares, devido principalmente a falta de informaes a seu respeito, gerando mitos e fantasias entre funcionrios, pacientes, familiares e principalmente a comunidade vizinha as edificaes hospitalares e aos aterros sanitrios. A atividade hospitalar por si s uma fantstica geradora de resduos, inerente a diversidade de atividades que desenvolvem-se dentro destas empresas. O desconhecimento e a falta de informaes sobre o assunto faz com que, em muitos casos, os resduos, ou sejam ignorados, ou recebam um tratamento com excesso de cuidado, onerando ainda mais os j combalidos recursos das instituies hospitalares. No raro lhe so atribudas a culpa por casos de infeco hospitalar e outros tantos males.
Contaminao
O maior problema o chamado lixo infectante - classe A, que representa um grande risco de contaminao, alm de poluir o meio ambiente. A maior parte dos estabelecimentos no faz a separao deste material, que acaba indo para os aterros junto com o lixo normal ou para a fossa.
Outro problema o chamado lixo perigoso - classe B, cuja destinao final, atualmente, fica sob responsabilidade dos hospitais. O material recolhido nos hospitais, acondicionado segundo normas que variam em funo do grau de periculosidade dos produtos, geralmente levado a um aterro prprio.
J o "lixo classe C" dos hospitais tambm devidamente separado - fica sujeito ao mesmo sistema de recolhimento do restante da cidade, indo parte para reciclagem e parte para a coleta normal, que inclui apenas o material orgnico destinado ao aterro sanitrio.
Separao do Lixo
O treinamento para a separao desse tipo de resduo uma exigncia do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e oferecer subsdios para que os hospitais e clnicas elaborem planos de gerenciamento de resduos do servio de sade. O objetivo adequar a estrutura das unidades para o tratamento correto dos resduos. Segundo as normas sanitrias, o lixo hospitalar deve ser rigorosamente seperado e cada classe deve ter um tipo de coleta e destinao. De acordo com as normas, devem ser separadas conforme um sistema de classificao que inclui os resduos infectantes - lixo classe A, como restos de material de laboratrio, seringas, agulhas, hemoderivados, entre outros, perigosos - classe B, que so os produtos quimioterpicos, radioativos e medicamentos com validade vencida - e o lixo classe C, o mesmo produzido nas residncias, que pode ser subdividido em material orgnico e reciclvel.
O treinamento visa adequar os estabelecimentos s novas normas de tratamento do lixo hospitalar, estabelecidas na Lei Federal n 237, de dezembro do ano passado. Os hospitais tm prazo para apresentar um plano de gerenciamento dos resduos e, com isso, obter um licenciamento ambiental e adaptar-se s exigncias legais. Caso no consigam o licenciamento, ficam sujeitos aplicao de multas dirias de R$ 140,00 pelo sistema de vigilncia sanitria.
Lixos Infectantes
Resduos do grupo A (apresentam risco devido presena de agentes biolgicos): Sangue hemoderivados
Excrees, secrees e lquidos orgnicos
Meios de cultura
Tecidos, rgos, fetos e peas anatmicas
Filtros de gases aspirados de reas contaminadas
Resduos advindos de rea de isolamento
Resduos alimentares de rea de isolamento
Resduos de laboratrio de anlises clnicas
Resduos de unidade de atendimento ambiental
Resduos de sanitrio de unidades de internao
Objetos perfurocortantes provenientes de estabelecimentos prestadores de servios de sade. Os estabelecimentos devero ter um responsvel tcnico, devidamente registrado em conselho profissional, para o gerenciamento de seus resduos.
Processos de Destino
*Incinerao:a incinerao do lixo hospitalar um tpico exemplo de excesso de cuidados, trata-se da queima o lixo infectante transformando-o em cinzas, uma atitude politicamente incorreta devido aos subprodutos lanados na atmosfera como dioxinas e metais pesados.
*Auto-Clave: esteriliza o lixo infectante, mas por ser muito caro no muito utilizado. Como alternativa, o lixo infectante pode ser colocado em valas asspticas, mas o espao para todo o lixo produzido ainda um problema em muitas cidades.
A maioria dos hospitais tomam pouco ou quase nenhuma providncia com relao s toneladas de resduos gerados diariamente nas mais diversas atividades desenvolvidas dentro de um hospital. Muitos limitam-se ou a encaminhar a totalidade de seu lixo para sistemas de coleta especial dos Departamentos de Limpeza Municipais, quando estes existem, ou lanam diretamente em lixes ou simplesmente queimam os resduos. Torna-se importante destacar os muitos casos de acidentes com funcionrios, envolvendo perfuraes com agulhas, lminas de bisturi e outros materiais denominados perfuro-cortantes. O desconhecimento faz com que o chamado "lixo hospitalar", cresa e amedronte os colaboradores e clientes das instituies de sade.
Lixos No-Infectantes
- Especiais
Radioativos: compostos por materiais diversos, expostos radiao; resduos farmacuticos, como medicamentos vencidos e contaminados; e resduos qumicos perigosos (txicos, corrosivos, inflamveis, mercrio).
- ComunsLixo administrativo, limpeza de jardins e ptios, resto de preparo de alimentos, estes no podero ser encaminhados para alimentao de animais.
Algumas Solues
Os constantes problemas, o desconhecimento, o medo, mas principalmente o desejo de que o assunto fosse tratado de uma forma tcnica, profissional, levou-se a desenvolver um projeto que resolvesse definitivamente o problema.
Objetivos do projeto:- Elevar a qualidade da ateno dispensada ao assunto "resduos slidos dos servios de sade";
- Permitir o conhecimento das fontes geradoras dos resduos. A atividade hospitalar gera uma grande variedade de tipos de resduos distribudos em dezenas de setores com atividades diversas;
- Estimular a deciso por mtodos de coleta, embalagem, transporte e destino adequados;
- Reduzir ou se possvel eliminar os riscos a sade dos funcionrios, clientes e comunidade;
- Eliminar o manuseio para fins de seleo dos resduos, fora da fonte geradora;
- Permitir o reprocessamento de resduos cujas matrias primas possam ser reutilizadas sem riscos sade de pacientes e funcionrios;
- Reduzir o volume de resduos para incinerao e coleta especial;
- Colaborar para reduzir a poluio ambiental, gerando , incinerando e encaminhando aos rgo pblicos a menor quantidade possvel de resduos.
-Resduos slidos do grupo A devero ser acondicionados em sacos plsticos grossos, brancos leitosos e resistentes com simbologia de substncia infectante. Devem ser esterilizados ou incinerados.
-Os restos alimentares in natura no podero ser encaminhados para a alimentao de animais.
Origem Possveis Classes Responsvel
Domiciliar2Prefeitura
Comercial2, 3Prefeitura
Industrial1, 2, 3Gerador do resduo
Pblico2, 3Prefeitura
Servios de sade 1, 2, 3Gerador do resduo
Portos, aeroportos e terminais ferrovirios1, 2, 3Gerador do resduo
Agrcola1, 2, 3Gerador do resduo
Entulho3Gerador do resduo
Definio de lixo e resduos slidos
De acordo com o Dicionrio de Aurlio Buarque de Holanda, "lixo tudo aquilo que no se quer mais e se joga fora; coisas inteis, velhas e sem valor.
J a Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT define o lixo como os "restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inteis, indesejveis ou descartveis, podendo-se apresentar no estado slido, semi-slido ou lquido, desde que no seja passvel de tratamento convencional."
Normalmente os autores de publicaes sobre resduos slidos se utilizam indistintamente dos termos "lixo" e "resduos slidos". Neste Manual, resduo slido ou simplesmente "lixo" todo material slido ou semi-slido indesejvel e que necessita ser removido por ter sido considerado intil por quem o descarta, em qualquer recipiente destinado a este ato. H de se destacar, no entanto, a relatividade da caracterstica inservvel do lixo, pois aquilo que j no apresenta nenhuma serventia para quem o descarta, para outro pode se tornar matria-prima para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a idia do reaproveitamento do lixo um convite reflexo do prprio conceito clssico de resduos slidos. como se o lixo pudesse ser conceituado como tal somente quando da inexistncia de mais algum para reivindicar uma nova utilizao dos elementos ento descartados.
Classificao dos resduos slidosSo vrias as maneiras de se classificar os resduos slidos. As mais comuns so quanto aos riscos potenciais de contaminao do meio ambiente e quanto natureza ou origem.
1 Entende-se como substncias ou produtos semi-slidos todos aqueles com teor de umidade inferior a 85%.
2 Vlido somente para resduos industriais perigosos .
Quanto aos riscos potenciais de contaminao do meio ambiente
De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, os resduos slidos podem ser classificados em:
Classe I ou perigososSo aqueles que, em funo de suas caractersticas intrnsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos sade pblica atravs do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada.
Classe III o no-inertes
So os resduos que podem apresentar caractersticas de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos sade ou ao meio ambiente, no se enquadrando nas classificaes de resduos Classe I Perigosos ouClasse III ou inertes
So aqueles que, por suas caractersticas intrnsecas, no oferecem riscos sade e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a um contato esttico ou dinmico com gua destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de solubilizao segundo a norma NBR 10.006, no tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentraes superiores aos padres de potabilidade da gua, conforme listagem n 8 (Anexo H da NBR 10.004), excetuando-se os padres de aspecto, cor, turbidez e sabor.
Quanto natureza ou origem
A origem o principal elemento para a caracterizao dos resduos slidos. Segundo este critrio, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco classes, a saber:
* Lixo domstico ou residencial
* Lixo comercial
* Lixo pblico
* Lixo domiciliar especial:
* Entulho de obras
* Pilhas e baterias
* Lmpadas fluorescentes
* Pneus
* Lixo de fontes especiais
* Lixo industrial
* Lixo radioativo
* Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferrovirios
* Lixo agrcola
* Resduos de servios de sade
Lixo domestico ou residncial
So os resduos gerados nas atividades dirias em casas, apartamentos, condomnios e demais edificaes residenciais.
Lixo comercial
So os resduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas caractersticas dependem da atividade ali desenvolvida. Nas atividades de limpeza urbana, o tipo domstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo domiciliar", que, junto com o lixo pblico, representa a maior parcela dos resduos slidos produzidos nas cidades.
O grupo de lixo comercial, assim como os entulhos de obras, pode ser dividido em subgrupos chamados de "pequenos geradores" e "grandes geradores". Pode-se adotar como parmetro: Pequeno Gerador de Resduos Comerciais o estabelecimento que gera at 120 litros de lixo por dia. Grande Gerador de Resduos Comerciais o estabelecimento que gera um volume de resduos superior a esse limite. Analogamente, pequeno gerador de entulho de obras a pessoa fsica ou jurdica que gera at 1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho aquele que gera um volume dirio de resduos acima disso. Geralmente, o limite estabelecido na definio de pequenos e grandes geradores de lixo deve corresponder quantidade mdia de resduos gerados diariamente em uma residncia particular com cinco moradores.
Num sistema de limpeza urbana, importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" e "grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resduos dos grandes geradores pode ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para sustentao econmica do sistema. importante identificar o grande gerador para que este tenha seu lixo coletado e transportado por empresa particular credenciada pela prefeitura. Esta prtica diminui o custo da coleta para o Municpio em cerca de 10 a 20%.
Lixo pblico
So os resduos presentes nos logradouros pblicos, em geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e tambm aqueles descartados irregular e indevidamente pela populao, como entulho, bens considerados inservveis,
papis, restos de embalagens e alimentos. O lixo pblico est diretamente associado ao aspecto esttico da cidade. Portanto, merecer especial ateno o planejamento das atividades de limpeza de logradouros em cidades tursticas.
LIXO DOMICILIAR ESPECIAL
Grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e baterias, lmpadas fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, tambm conhecidos como resduos da construo civil, s esto enquadrados nesta categoria por causa da grande
quantidade de sua gerao e pela importncia que sua recuperao e reciclagem vem assumindo no cenrio nacional.
Entulho de obras
A indstria da construo civil a que mais explora recursos naturais. Alm disso, a construo civil tambm a indstria que mais gera resduos. No Brasil, a tecnologia construtiva normalmente aplicada favorece o desperdcio na execuo das novas edificaes. Enquanto em pases desenvolvidos a mdia de resduos proveniente de novas edificaes encontra-se abaixo de 100kg/m, no Brasil este ndice gira em torno de 300kg/m edificado. Em termos quantitativos, esse material corresponde a algo em torno de 50% da quantidade em peso de resduos slidos urbanos coletada em cidades com mais de 500 mil habitantes de diferentes pases, inclusive o Brasil. Em termos de composio, os resduos da construo civil so uma mistura de materiais inertes, tais como concreto, argamassa, madeira, plsticos, papelo, vidros, metais, cermica e terra.
Composio media do entulho de sobra no Brasil
ComponentesValores
Argamassa 63,0
Concreto e blocos 29,0
Outros7,0
Orgnicos1,0
Pilhas e Baterias
As pilhas e baterias tm como princpio bsico converter energia qumica em energia eltrica utilizando um metal como combustvel. Apresentando-se sob vrias formas (cilndricas,retangulares, botes), podem conter um ou mais dos seguintes metais: chumbo (Pb), cdmio (Cd), mercrio (Hg), nquel (Ni),prata (Ag), ltio (Li), zinco (Zn), mangans (Mn) e seus compostos.
As substncias das pilhas que contm esses metais possuem caractersticas de corrosividade, reatividade e toxicidade e so classificadas como "Resduos Perigosos Classe I". As substncias contendo cdmio, chumbo, mercrio, prata e nquel causam impactos negativos sobre o meio ambiente e, em especial, sobre o homem. Outras substncias presentes nas pilhas e baterias, como o zinco, o mangans e o ltio, embora no estejam limitadas pela NBR 10.004, tambm causam problemas ao meio ambiente, conforme se verifica na Tabela 3.
Tabela 3
Potencia poluidora em elementos quimicos utilizados em pilhas e baterias
ElementoEfeitos sobre o homem
Pb (Chumbo)* dores abdominais (clica, espasmo e rigidez)* disfuno renal* anemia, problemas pulmonares* neurite perifrica (paralisia)* encefalopatia (sonolncia, manias, delrio, convulses e coma)
Hg (Mercrio)* gengivite, salivao, diarria (com sangramento)* dores abdominais (especialmente epigstrio, vmitos, gosto metlico)* congesto, inapetncia, indigesto* dermatite e elevao da presso arterial * estomatites (inflamao da mucosa da boca), ulcerao da faringe e do esfago, leses renaise no tubo digestivo * insnia, dores de cabea, colapso, delrio,convulses* leses cerebrais e neurolgicas provocando desordens psicolgicas afetando o crebro
Cd (Cdmio)* manifestaes digestivas (nusea, vmito,diarria)* disfuno renal* problemas pulmonares* envenenamento (quando ingerido)* pneumonite (quando inalado)* cncer (o cdmio carcinognico)
Ni (Niquel)* cncer (o nquel carcinognico)* dermatite* intoxicao em geral
Ag (Prata)* distrbios digestivos e impregnao da boca pelo metal* argiria (intoxicao crnica) provocando colorao azulada da pele* morte
Li (Ltio)* inalao ocorrer leso mesmo com pronto atendimento* ingesto mnima leso residual, se nenhum tratamento for aplicado
Mn (Mangans)* disfuno do sistema neurolgico* afeta o crebro* gagueira e insnia
Zn (Zinco)* problemas pulmonares* pode causar leso residual, a menos que sejadado atendimento imediato* contato com os olhos leso grave mesmo compronto atendimento
Mesmo em pequenas quantidades.
Juntamente com o lixo domiciliar Os principais usos das pilhas e baterias so:
* funcionamento de aparelhos eletroeletrnicos;
* partida de veculos automotores e mquinas em geral;
* telecomunicaes;
* telefones celulares;
* usinas eltricas;
* sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme e segurana (no break);
* movimentao de carros eltricos;
* aplicaes especficas de carter cientfico, mdico ou militar.
Lmpadas Fluorescentes
O p que se torna luminoso encontrado no interior das lmpadas< fluorescentes contm mercrio. Isso no est restrito apenas s lmpadas fluorescentes comuns de forma tubular, mas encontra-se tambm nas lmpadas fluorescentes compactas. As lmpadas fluorescentes liberam mercrio quando so quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitrios, o que as transforma em resduos perigosos Classe I, uma vez que o mercrio txico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiolgicos.
Uma vez lanado ao meio ambiente, o mercrio sofre uma "bioacumulao", isto , ele tem suas concentraes aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os menos saudveis, ou mesmo 5. Resduos Slidos: Origem, Definio e Caractersticas perigosos se forem comidos freqentemente. As mulheres grvidas que se alimentam de peixe contaminado transferem o mercrio para os fetos, que so particularmente sensveis aos seus efeitos txicos. A acumulao do mercrio nos tecidos tambm pode contaminar outras espcies selvagens, como marrecos, aves aquticas e outros animais.
Pneus
So muitos os problemas ambientais gerados pela destinao inadequada dos pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam gua, servindo como local para a proliferao de mosquitos. Se encaminhados para aterros de lixo convencionais, provocam "ocos" na massa de resduos, causando a instabilidade do aterro. Se destinados em unidades de incinerao, a queima da borracha gera enormes quantidades de material particulado e gases txicos, necessitando de um sistema de tratamento dos gases extremamente eficiente e caro. Por todas estas razes, o descarte de pneus hoje um problema ambiental grave ainda sem uma destinao realmente eficaz.
Lixo de fontes especiais
So resduos que, em funo de suas caractersticas peculiares,passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte ou disposio final. Dentro da classe de resduos de fontes especiais, merecem destaque:
Lixo industrial
So os resduos gerados pelas atividades industriais. So resduos muito variados que apresentam caractersticas diversificadas, pois estas dependem do tipo de produto manufaturado. Devem, portanto, ser estudados caso a caso. Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para se classificar os resduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II (No-Inertes) e Classe III (Inertes).
Lixo radioativo
Assim considerados os resduos que emitem radiaes acima dos limites permitidos pelas normas ambientais. No Brasil, o manuseio, acondicionamento e disposio final do lixo radioativo est a cargo da Comisso Nacional de Energia Nuclear CNEN.
Potencia poluidora em elementos qumicos utilizados em pilhas e baterias
Elemento Efeitos sobre o homem
Pb (Chumbo)
* dores abdominais (clica, espasmo e rigidez)
* disfuno renal
* anemia, problemas pulmonares
* neurite perifrica (paralisia)
* encefalopatia (sonolncia, manias, delrio, convulses e coma)
Hg (Mercrio)
* gengivite, salivao, diarria (com sangramento)
* dores abdominais (especialmente epigstrio, vmitos, gosto metlico)
* congesto, inapetncia, indigesto
* dermatite e elevao da presso arterial * estomatites (inflamao da mucosa da boca), ulcerao da faringe e do esfago, leses renais
e no tubo digestivo * insnia, dores de cabea, colapso, delrio,convulses
* leses cerebrais e neurolgicas provocando desordens psicolgicas afetando o crebro
Cd (Cdmio) * manifestaes digestivas (nusea, vmito,diarria)
* disfuno renal
* problemas pulmonares
* envenenamento (quando ingerido)
* pneumonite (quando inalado)
* cncer (o cdmio carcinognico)
Ni (Niquel) * cncer (o nquel carcinognico)
* dermatite
* intoxicao em geral
Ag (Prata)
* distrbios digestivos e impregnao da boca pelo metal
* argiria (intoxicao crnica) provocando colorao azulada da pele
* morte
Li (Ltio) * inalao ocorrer leso mesmo com pronto atendimento
* ingesto mnima leso residual, se nenhum tratamento for aplicado
Mn (Mangans)
* disfuno do sistema neurolgico
* afeta o crebro
* gagueira e insnia
Zn (Zinco)
* problemas pulmonares
* pode causar leso residual, a menos que seja dado atendimento imediato
* contato com os olhos leso grave mesmo com pronto atendimento
* Mesmo em pequenas quantidades.
J existem no mercado pilhas e baterias fabricadas com elementos no txicos, que podem ser descartadas, sem problemas, juntamente com o lixo domiciliar Os principais usos das pilhas e baterias so:
* funcionamento de aparelhos eletroeletrnicos;
* partida de veculos automotores e mquinas em geral;
* telecomunicaes;
* telefones celulares;
* usinas eltricas;
* sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme e segurana (no break);
* movimentao de carros eltricos;
* aplicaes especficas de carter cientfico, mdico ou militar.
Lmpadas Fluorescentes
O p que se torna luminoso encontrado no interior das lmpadas< fluorescentes contm mercrio. Isso no est restrito apenas s lmpadas fluorescentes comuns de forma tubular, mas encontra-se tambm nas lmpadas fluorescentes compactas. As lmpadas fluorescentes liberam mercrio quando so quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitrios, o que as transforma em resduos perigosos Classe I, uma vez que o mercrio txico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiolgicos. Uma vez lanado ao meio ambiente, o mercrio sofre uma "bioacumulao", isto , ele tem suas concentraes aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os menos saudveis, ou mesmo 5. Resduos Slidos: Origem, Definio e Caractersticas perigosos se forem comidos freqentemente. As mulheres grvidas que se alimentam de peixe contaminado transferem o mercrio para os fetos, que so particularmente sensveis aos seus efeitos txicos. A acumulao do mercrio nos tecidos tambm pode contaminar outras espcies selvagens, como marrecos, aves aquticas e outros animais.
Pneus
So muitos os problemas ambientais gerados pela destinao inadequada dos pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam gua, servindo como local para a proliferao de mosquitos. Se encaminhados para aterros de lixo convencionais, provocam "ocos" na massa de resduos, causando a instabilidade do aterro. Se destinados em unidades de incinerao, a queima da borracha gera enormes quantidades de material particulado e gases txicos, necessitando de um sistema de tratamento dos gases extremamente eficiente e caro. Por todas estas razes, o descarte de pneus hoje um problema ambiental grave ainda sem uma destinao realmente eficaz.
Lixo de fontes especiais
So resduos que, em funo de suas caractersticas peculiares,passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte ou disposio final. Dentro da classe de resduos de fontes especiais, merecem destaque:
Lixo industrial
So os resduos gerados pelas atividades industriais. So resduos muito variados que apresentam caractersticas diversificadas, pois estas dependem do tipo de produto manufaturado. Devem, portanto, ser estudados caso a caso. Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para se classificar os resduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II (No-Inertes) e Classe III (Inertes).
Lixo radioativo
Assim considerados os resduos que emitem radiaes acima dos limites permitidos pelas normas ambientais. No Brasil, o manuseio, acondicionamento e disposio final do lixo radioativo est a cargo da Comisso Nacional de Energia Nuclear CNEN.
Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferrovirios
Resduos gerados tanto nos terminais, como dentro dos navios, avies e veculos de transporte. Os resduos dos portos eaeroportos so decorrentes do consumo de passageiros em veculos e aeronaves e sua periculosidade est no risco de transmisso de doenas j erradicadas no pas. A transmisso tambm pode se dar atravs de cargas eventualmente contaminadas, tais como animais, carnes e plantas.
Lixo Agrcola
Formado basicamente pelos restos de embalagens impregnados com pesticidas e fertilizantes qumicos, utilizados na agricultura, que so perigosos. Portanto o manuseio destes resduos segue as mesmas rotinas e se utiliza dos mesmos recipientes e processos empregados para os resduos industriais Classe I. A falta de fiscalizao e de penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado destes resduos faz com que sejam misturados aos resduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou o que pior sejam queimados nas fazendas e stios mais afastados, gerando gases txicos.
Resduos de servios de sade
Compreendendo todos os resduos gerados nas instituies destinadas preservao da sade da populao. Segundo a NBR 12.808 da ABNT, os resduos de servios de sade seguem a classificao apresentada na Tabela 4.
Tabela 4
Classificao dos recursos de servios de sadeTipoNomeCaractersticasClasse A - Resduos Infectantes -A.1BiolgicosCultura, inculo, mistura de microorganismos e meio de culturainoculado provenientes de laboratrio clnico ou de pesquisa,vacina vencida ou inutilizada, filtro de gases aspirados de reascontaminadas por agentes infectantes e qualquer resduocontaminado por estes materiais. A.2Sangue e hemoderivados Sangue e hemoderivados com prazo de validade vencido ousorologia positiva, bolsa de sangue para anlise, soro, plasma eoutros subprodutos. A.3Cirurgicos anatomopatolgicose exsudato Tecido, rgo, feto, pea anatmica, sangue e outros lquidosorgnicos resultantes de cirurgia, necropsia e resduoscontaminados por estes materiais. A.4Perfurantes e cortantesAgulha, ampola, pipeta, lmina de bisturi e vidro. A.5Animais contaminadosCarcaa ou parte de animal inoculado, exposto a microorganismos patognicos, ou portador de doena infecto-contagiosa, bem como resduos que tenham estado em contato com estes. A.6Assistncia a pacientesSecrees e demais lquidos orgnicos procedentes de pacientes,bem como os resduos contaminados por estes materiais, inclusive restos de refeies. Classe B - Resduos EspeciaisB.1Rejeitos radioativosMaterial radioativo ou contaminado com radionucldeos,proveniente de laboratrio de anlises clnicas, servios demedicina nuclear e radioterapia. B.2Resduos farmacuticosMedicamento vencido, contaminado, interditado ou no utilizado. B.3Resduos quimicos perigososResduo txico, corrosivo, inflamvel, explosivo, reativo, genotxico ou mutagnico. Classe C - Resduos ComunsCResduos EspeciaisSo aqueles que no se enquadram nos tipos A e B e que, por suasemelhana aos resduos domsticos, no oferecem risco adicional sade pblica.
PARTE II
Caractersticas dos resduos slidos
As caractersticas do lixo podem variar em funo de aspectos sociais, econmicos, culturais, geogrficos e climticos, ou seja, os mesmos fatores que tambm diferenciam as comunidades entre si e as prprias cidades. A Tabela 5 expressa a variao das composies do lixo em alguns pases, deduzindo-se que a participao da matria orgnica tende a se reduzir nos pases mais desenvolvidos ou industrializados, provavelmente em razo da grande incidncia de alimentos semipreparados disponveis no mercado consumidor.
Composio gravimtrica lo lixo de alguns pases (%)
CompostoBrasilAlemanhaHolandaEUA
Mat. orgnica 65,0061,2050,3035,60
Vidro 3,0010,4014,508,20
Metal4,003,806,708,70
Plstico 3,005,806,006,50
Papel 25,0018,8022,50
A anlise do lixo pode ser realizada segundo suas caractersticas fsicas, qumicas e biolgicas.
Caractersticas fsicas
De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, os resduos slidos podem ser classificados em:
* Gerao per capita
* Composio gravimtrica
* Peso especfico aparente
* Teor de umidade
* Compressividade
Gerao per capita
A "gerao per capita" relaciona a quantidade de resduos urbanos gerada diariamente e o nmero de habitantes de determinada regio. Muitos tcnicos consideram de 0,5 a 0,8kg/hab./dia como a faixa de variao mdia para o Brasil. Na ausncia de dados mais precisos, a gerao per capita pode ser estimada atravs da Tabela 6 e do grfico apresentado a seguir. Um erro muito comum cometido por alguns tcnicos correlacionar a gerao per capita somente ao lixo domiciliar (domstico + comercial), em lugar de correlacion-la aos resduos urbanos (domiciliar + pblico + entulho, podendo at incluir os resduos de servios de sade).
Figura 1 Variao da gerao per capita versus a populao
Tabela 6
Faixas mais utilizadas da gerao per capita
Tamanho da cidadePopulao urbana(habitantes)Gerao per capita(kg/hab./dia)
Pequena At 30 mil< 0,50
Mdia De 30 mil a 500 milDe 0,50 a 0,80
Grande De 500 mil a 5 milhesDe 0,80 a 1,00
Megalpole> Acima de 5 milhesAcima de 1,00
A composio gravimtrica
A composio gravimtrica traduz o percentual de cada componente em relao ao peso total da amostra de lixo analisada. Os componentes mais utilizados na determinao da composio gravimtrica dos resduos slidos urbanos encontram-se na Tabela 7. Entretanto, muitos tcnicos tendem a simplificar, considerando apenas alguns componentes, tais como papel/papelo; plsticos; vidros; metais; matria orgnica e outros. Esse tipo de composio simplificada, embora possa ser usado no dimensionamento de uma usina de compostagem e de outras unidades de um sistema de limpeza urbana, no se presta, por exemplo, a um estudo preciso de reciclagem ou de coleta seletiva, j que o mercado de plsticos rgidos bem diferente do mercado de plsticos maleveis, assim como os mercados de ferrosos e no-ferrosos.
Tabela 7
Componentes mais comuns da composio gravimtrica
Matria orgnicaMetal ferrosoBorracha
PapelMetal no-ferroso< Couro
Papelo AlumnioPano/trapos
Plstico rgidoVidro claroOssos
Plstico malevelVidro escuroCermica
PETMadeiraAgregado fino
A escolha dos componentes da composio gravimtrica funo direta do tipo de estudo que se pretende realizar e deve ser cuidadosamente feita para no acarretar distores.
Peso especfico aparente o peso
Peso especfico aparente o peso do lixo solto em funo do volume ocupado livremente, sem qualquer compactao, expresso em kg/m 3 . Sua determinao fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalaes. Na ausncia de dados mais precisos, podem-se utilizar os valores de 230kg/m3 para o peso especfico do lixo domiciliar, de 280kg/m3 para o peso especfico dos resduos de servios de sade e de 1.300kg/m3 para o peso especfico de entulho de obras.
Teor de umidade
Teor de umidade representa a quantidade de gua presente no lixo, medida em percentual do seu peso. Este parmetro se altera em funo das estaes do ano e da incidncia de chuvas, podendo-se estimar um teor de umidade variando em torno de 40 a 60%.
Compressividade
Compressividade o grau de compactao ou a reduo do volume que uma massa de lixo pode sofrer quando compactada. Submetido a uma presso de 4kg/cm, o volume do lixo pode ser reduzido de um tero (1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original. Analogamente compresso, a massa de lixo tende a se expandir quando extinta a presso que a compacta, sem, no entanto, voltar ao volume anterior. Esse fenmeno chama-se empolao e deve ser considerado nas operaes de aterro com lixo.
Caractersticas qumicas
* Poder calorfico
* Potencial hidrogeninico (pH)
* Composio qumica
* Relao carbono/nitrognio (C:N)
Poder calorfico
Esta caracterstica qumica indica a capacidade potencial de um material desprender determinada quantidade de calor quando submetido queima. O poder calorfico mdio do lixo domiciliar se situa na faixa de 5.000kcal/kg.
Potencial hidrogeninico (pH)
O potencial hidrogeninico indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7.
Composio Qumica
A composio qumica consiste na determinao dos teores de cinzas, matria orgnica, carbono, nitrognio, potssio, clcio,
fsforo, resduo mineral total, resduo mineral solvel e gorduras.
Relao carbono/nitrognio (C:N)
A relao carbono/nitrognio indica o grau de decomposio damatria orgnica do lixo nos processos de tratamento/disposio final. Em geral, essa relao encontra-se na ordem de 35/1 a 20/1.
Caractersticas biolgicas
As caractersticas biolgicas do lixo so aquelas determinadas pela populao microbiana e dos agentes patognicos presentes no lixo que, ao lado das suas caractersticas qumicas, permitem que sejam selecionados os mtodos de tratamento e disposio final mais adequado. O conhecimento das caractersticas biolgicas dos resduos tem sido muito utilizado no desenvolvimento de inibidores de cheiro e de retardadores/aceleradores da decomposio da matria orgnica, normalmente aplicados no interior de veculos de coleta para evitar ou minimizar problemas com a populao ao longo do percurso dos veculos. Da mesma forma, esto em desenvolvimento processos de destinao final e de recuperao de reas degradadas com base nas caractersticas biolgicas dos resduos. Influncia das caractersticas dos resduos slidos no planejamento do sistema de limpeza urbana
A Tabela 8 ilustra a influncia das caractersticas apresentadas sobre o planejamento de um sistema de limpeza urbana ou sobre o projeto de determinadas unidades que compem tal sistema.Tabela 8
Influncia das caractersticas do lixo na limpeza urbana
CaractersticasImportncia
Gerao per capitaFundamental para se poder projetar as quantidades de resduos a coletar e a dispor. Importante no dimensionamento de veculos. Elemento bsico para a determinao da taxade coleta, bem como para o correto dimensionamento de todas as unidades que compem o Sistema de Limpeza Urbana.
Composio gravimtrica Indica a possibilidade de aproveitamento das fraes reciclveis para comercializao e da matria orgnica para a produo decomposto orgnico.Quando realizada por regies da cidade, ajuda a se efetuar um clculo mais justo datarifa de coleta e destinao final.
Peso especfico aparenteFundamental para o correto dimensionamento da frota de coleta, assim como de contineres e caambas estacionrias.
Teor de umidadeTem influncia direta sobre a velocidade de decomposio da matria orgnica noprocesso de compostagem. Influencia diretamente o poder calorfico e o peso especfico aparente do lixo, concorrendo de forma indireta para o correto dimensionamento de incineradores e usinas de compostagem. Influencia diretamente o clculo da produo de chorume e o correto dimensionamento do sistema de coleta de percolados
CompressividadeMuito importante para o dimensionamento de veculos coletores, estaes detransferncia com compactao e caambas compactadores estacionrias.
Poder calorficoInfluencia o dimensionamento das instalaes de todos os processos de tratamento trmico (incinerao, pirlise e outros).
PhIndica o grau de corrosividade dos resduos coletados, servindo para estabelecer o tipo deproteo contra a corroso a ser usado em veculos, equipamentos, contineres ecaambas metlicas.
Composio qumica Ajuda a indicar a forma mais adequada de tratamento para os resduos coletados.
Relao C:NFundamental para se estabelecer a qualidade do composto produzido.
Caractersticas biolgicasFundamentais na fabricao de inibidores de cheiro e de aceleradores e retardadores dadecomposio da matria orgnica presente no lixo.
Fatores que influenciam as caractersticas dos resduos slidos
fcil imaginar que em poca de chuvas fortes o teor de umidade no lixo cresce e que h um aumento do percentual de alumnio (latas de cerveja e de refrigerantes) no carnaval e no vero. Assim, preciso tomar cuidado com os valores que traduzem as caractersticas dos resduos, principalmente no que concerne s caractersticas fsicas, pois os mesmos so muito influenciados por fatores sazonais, que podem conduzir o projetista a concluses equivocadas. Feriados e perodo de frias escolares influenciaro a quantidade de lixo gerada em cidades tursticas Os principais fatores que exercem forte influncia sobre as caractersticas dos resduos esto listados na Tabela 9.
Tabela 9
Fatores que influenciam as caractersticas dos resduos
Fatores Influncia
1- Climticos
Chuvas* aumento do teor de umidade
Outono* aumento do teor de folhas
Vero* aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros e plsticos rgidos)
2- pocas especiais
Carnaval * aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros e plsticos rgidos)
Natal/Ano Novo/Pscoa* aumento de embalagens (papel/papelo,plsticos maleveis e metais)* aumento de matria orgnica
Dia dos Pais/Mes* aumento de embalagens (papel/papelo e plsticos maleveis e metais)
Frias escolares* esvaziamento de reas da cidade em locais no tursticos* aumento populacional em locais tursticos
3- Demogrficos
Populao urbana* quanto maior a populao urbana, maior a gerao per capita
4- Socioeconmicos
Nvel cultural* quanto maior o nvel cultural, maior a incidncia de materiais reciclveis e menor a incidncia de matria orgnica
Nvel educacional* quanto maior o nvel educacional, menor a incidncia de matria orgnica
Poder aquisitivo* quanto maior o poder aquisitivo, maior a incidncia de materiais reciclveis e menora incidncia de matria orgnica
Poder aquisitivo (no ms)* maior consumo de suprfluos perto do recebimento do salrio (fim e incio do ms)
Poder aquisitivo(na semana) * maior consumo de suprfluos no fim de semana
Desenvolvimentotecnolgico * introduo de materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor do peso especficoaparente dos resduos
Lanamento de novos produtos* aumento de embalagens
Promoes de lojascomerciais* aumento de embalagens
Campanhasambientais* reduo de materiais no-biodegradveis (plsticos) e aumento de materiais reciclveis e/ou biodegradveis (papis, metais e vidros)
Processos de determinao das principais caractersticas fsicas
Dos grupos de caractersticas apresentados, o mais importante o das caractersticas fsicas, uma vez que, sem o seu conhecimento, praticamente impossvel se efetuar a gesto adequada dos servios de limpeza urbana. Alm disso, no so todas as prefeituras que podem dispor de laboratrios (ou de verbas para contratar laboratrios particulares) para a determinao das caractersticas qumicas ou biolgicas dos resduos, enquanto as caractersticas fsicas podem ser facilmente determinadas atravs de processos expeditos de campo, com o auxlio apenas de lates de 200 litros, de uma balana com capacidade de pesar at 150kg, de uma estufa e do ferramental bsico utilizado na limpeza urbana. Os procedimentos prticos apresentados a seguir servem para a determinao do peso especfico, composio gravimtrica, teor de umidade e gerao per capita do lixo urbano.
* Preparo da amostra
* Determinao do peso especfico aparente
* Determinao da composio gravimtrica
* Determinao do teor de umidade
* Clculo da gerao per capita
Preparo da amostra
* coletar as amostras iniciais, com cerca de 3m3 de volume, a partir de lixo no compactado (lixo solto). Preferencialmente, as amostras devem ser coletadas de segunda a quinta-feira e selecionadas de diferentes setores de coleta, a fim de se conseguir resultados que se aproximem os mximos possveis da realidade;
* colocar as amostras iniciais sobre uma lona, em rea plana, e mistur-las com o auxlio de ps e enxadas, at se obter um nico lote homogneo, rasgando-se os sacos plsticos, caixas de papelo, caixotes e outros materiais utilizados no acondicionamento dos resduos;
* dividir a frao de resduos homogeneizada em quatro partes, selecionando dois dos quartos resultantes (sempre quartos opostos) que sero novamente misturados e homogeneizados;
* repetir o procedimento anterior at que o volume de cada um dos quartos seja de pouco mais de 1m3;
* separar um dos quartos e encher at a borda, aleatoriamente, cinco lates de 200 litros, previamente pesados;
* retalhar com faces, aps o enchimento dos lates, a poro do quarto selecionado que sobrar, ao abrigo do tempo (evitar sol, chuva, vento e temperaturas elevadas). Encher um recipiente de dois litros com o material picado e fechar o mais hermeticamente possvel;
Determinao do peso especfico aparente
* levar para o aterro todo o lixo que sobrar desta operao
* pesar cada um dos lates cheios e determinar o peso do lixo, descontando o peso do lato;
* somar os pesos obtidos;
* determinar o peso especfico aparente atravs do valor da soma obtida, expresso em kg/m.
Determinao da composio gravimtrica
* escolher, de acordo com o objetivo que se pretende alcanar, a lista dos componentes que se quer determinar;
* espalhar o material dos lates sobre uma lona, sobre uma rea plana;
* separar o lixo por cada um dos componentes desejados;
* classificar como "outros" qualquer material encontrado que no se enquadre na listagem de componentes pr-selecionada;
* pesar cada componente separadamente;
* dividir o peso de cada componente pelo peso total da amostra e calcular a composio gravimtrica em termos percentuais.
Determinao do teor de umidade
* pesar a amostra de dois litros;
* colocar seu contedo em um forno (preferencialmente uma estufa) a 105C por um dia ou a 75C por dois dias consecutivos;
* pesar o material seco at que os resduos apresentem peso constante;
* subtrair o peso da amostra mida do peso do material seco e determinar o teor de umidade em termos percentuais.
Clculo da gerao per capita
* medir o volume de lixo encaminhado ao aterro, ao longo de um dia inteiro de trabalho;
* calcular o peso total do lixo aterrado, aplicando o valor do peso especfico determinado anteriormente;
* avaliar o percentual da populao atendida pelo servio de coleta;
* calcular a populao atendida, aplicando o percentual avaliado sobre o valor da populao urbana do Municpio (incluir ncleos urbanos da zona rural, se for o caso);
* calcular a taxa de gerao per capita dividindo-se o peso do lixo pela populao atendida.
A coleta de amostras, assim como a medio do lixo encaminhado ao aterro, jamais deve ser realizada num domingo ou numa segunda-feira. Em cidades tursticas, jamais efetuar a coleta de amostras em perodos de frias escolares ou de feriados, a no ser que se queira determinar a influncia da sazonalidade sobre a gerao de lixo da cidade. Jamais efetuar determinaes de teor de umidade em dias de chuva. Preferencialmente as determinaes devem ser feitas de tera a quinta-feira, entre os dias 10 e 20 do ms, para evitar distores de sazonalidade.
III PARTE
LEGISLAO E LICENCIAMENTO AMBIENTALA gesto integrada do sistema de limpeza urbana no Municpio pressupe, por conceito e fundamentalmente , o envolvimento da populao e o exerccio poltico sistemtico junto s instituies vinculadas a todas as esferas dos governos municipais, estaduais e federal que possam nele atuar.
A integrao da populao na gesto realizada de duas formas:
* participando da remunerao dos servios e sua fiscalizao;
* colaborando na limpeza, seja reduzindo, reaproveitando, reciclando ou dispondo adequadamente o lixo para a coleta, seja mesmo no sujando as ruas.
A colaborao da populao deve ser considerada o principal agente que transforma a eficincia desses servios em eficcia de resultados operacionais ou oramentrios. A populao pode ser estimulada a reduzir a quantidade de lixo e tornar a operao mais econmica. As aes que tornam o sistema de limpeza urbana excelente e a populao colaboradora formam um poderoso binrio capaz de solucionar os principais problemas vinculados ao sistema de limpeza urbana. Essas aes, que atuam no desenvolvimento das operaes com qualidade e em um programa bem estruturado de educao ambiental, necessitam de instrumentos legais que as fundamentem.
H trs vertentes legislativas importantes para a instrumentalizao do sistema de limpeza urbana, quais sejam:* a primeira, de ordem poltica e econmica, estabelece as formas legais de institucionalizao dos gestores do sistema e as formas de remunerao e cobrana dos servios;
* a segunda, conformando um cdigo de posturas, orienta, regula, dispe procedimentos e comportamentos corretos por parte dos contribuintes e dos agentes da limpeza urbana, definindo ainda processos administrativos e penas de multa;
* a terceira vertente compe o aparato legal que regula os cuidados com o meio ambiente de modo geral no pas e, em especial, o licenciamento para implantao de atividades que apresentem risco para a sade pblica e para o meio ambiente.
Existe, no Brasil, uma coleo numerosa de leis, decretos, resolues e normas que evidenciam enorme preocupao com o meio ambiente e, especificamente na questo da limpeza urbana,h ainda iniciativas do Legislativo municipal nas leis orgnicas e demais instrumentos legais locais. Sem mencionar lixo, a Constituio Federal dispe:
* "A sade direito de todos e dever do Estado, garantida mediante polticas sociais e econmicas que visem reduo do risco da doena e de outros agravos e ao acesso universal e igualitrio a aes e servios para sua promoo, proteo e recuperao".
* "Todos tm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pblico e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presentes e as futuras geraes".
* competncia comum da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios:
* proteger o meio ambiente e combater a poluio em qualquer de suas formas;
* promover programas de construo de moradias e a melhoria das condies habitacionais e de saneamento bsico;
*combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizao promovendo a Integrao social dos setores desfavorecidos;
(Constituio Federal, arts. 196, 225 e 23, incisos VI, IX e X, respectivamente)
O Sistema de Licenciamento Ambiental est previsto na Lei Federal n 6.938, de 31/8/1981, e foi regulamentado pelo Decreto Federal n 99.274, de 06/6/1990. Por outro lado, a Resoluo CONAMA n 01/86 define responsabilidades e critrios para avaliao de impacto ambiental e define as atividades que necessitam de Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatrio de Impacto Ambiental RIMA , entre as quais se inclui a implantao de aterros sanitrios. No sentido de facilitar o licenciamento de novos aterros e a recuperao de lixes em municpios de pequeno e mdio porte, est sendo finalizada uma nova resoluo CONAMA (com previso para incio do ano 2002), pois, nos moldes vigentes, muitas vezes a elaborao de EIA/RIMA e os atendimentos aos ritos do licenciamento ambiental encontram-se alm das possibilidades econmicas do Tesouro Municipal.
H ainda outras resolues CONAMA e normas tcnicas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT que tratam de resduos slidos, quais sejam:
Resolues - CONAMA
008/91
Ementa: Veda a entrada no Brasil de materiais residuais destinados disposio final e incinerao.
006/91
Ementa: Desobriga a incinerao ou qualquer outro tratamento de queima dos resduos slidos provenientes dos estabelecimentos de sade, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais.
011/86
Ementa: Altera o art. 2 da Resoluo CONAMA n 001 de 23 de janeiro de 1986, que estabelece definies, responsabilidades, critrios bsicos e diretrizes gerais para uso e implementao da Avaliao de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Poltica Nacional de Meio Ambiente.
237/97
Ementa: Dispe sobre o sistema de licenciamento ambiental, a regulamentao de seus aspectos na forma do estabelecido na Poltica Nacional de Meio Ambiente, estabelece critrio para o exerccio da competncia para o licenciamento a que se refere o art. 10 da Lei n 6.938/81 e d outras providncias.
004/95
Ementa: Cria reas de segurana aeroporturias ASA para aerdromos, proibindo a implantao, nestas reas, de atividades de natureza perigosa que sirvam como foco de atrao de aves.
001/86
Ementa: Define responsabilidades e critrios para avaliao de impacto ambiental e define atividades que necessitam de Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatrio de Impacto Ambiental RIMA.
005/88
Ementa: Estabelece critrios para exigncias de licenciamento para obras de saneamento.
002/91Ementa: Determina procedimentos para manuseio de cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificao ou abandonadas que sero tratadas como fontes potenciais de risco ao meio ambiente, at manifestao do rgo do meio ambiente competente.
257/99
Ementa: Disciplina o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange coleta, reutilizao, reciclagem, tratamento ou disposio final.
006/88
Ementa: Dispe sobre o processo de Licenciamento Ambiental de Atividades Industriais, sobre os resduos gerados e/ou existentes que devero ser objeto de controle especfico.
258/99Ementa: Trata da destinao final de pneumticos inservveis.
005/93
Ementa: Estabelece definies, classificao e procedimentos mnimos para o gerenciamento de resduos slidos oriundos de servios de sade, portos e aeroportos, terminais ferrovirios e rodovirios.
275/01
Ementa: Estabelece o cdigo de cores para os diferentes tipos de resduos, a ser adotado na identificao de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
283/01
Dispe sobre o tratamento e a disposio final de resduos de servios de sade.
NORMAS TCNICAS DA ABNT2NBR 10.004
Ementa: Classifica resduo slido quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e sade pblica, para que estes resduos possam ter manuseio e destinao adequados.
NBR 13.896
Ementa: Fixa condies mnimas exigveis para projeto, implantao e operao de aterros de resduos no perigosos, de forma a proteger adequadamente as colees hdricas superficiais e subterrneas prximas, bem como os operadores destas instalaes e populaes vizinhas.
NBR 1.057; NB 1.025
Ementa: Aterros de resduos perigosos Critrios para projeto, construo e operao.
NBR 8.849; NB 844
Ementa: Apresentao de projetos de aterros controlados de resduos slidos urbanos.
NBR 8.418; NB 842
Ementa: Apresentao de projetos de aterros de resduos industriais perigosos.
NBR 8419; NB 843
Ementa: Apresentao de projetos de aterros sanitrios de resduos slidos urbanos.
O art. 9, inciso IV, da Lei n 6.938/81, estabelece como um dos instrumentos da Poltica Nacional de Meio Ambiente o licenciamento e a reviso de atividades "efetiva" ou "potencialmente poluidoras", e o art. 10 prev que a construo, instalao, ampliao e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados "efetivo" e "potencialmente poluidores", bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar "degradao ambiental" , dependero de prvio licenciamento do rgo estadual competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA.
O Decreto n 99.274/90, a partir do art. 17, explica o processo de licenciamento, determinando que as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e aquelas capazes de causar degradao ambiental dependero de prvio licenciamento do rgo estadual competente integrante do SISNAMA, sem prejuzo de outras licenas cabveis, repetindo o texto da Lei Poltica Nacional de Meio Ambiente.
J o art. 19 (Decreto n 99.274/90) dispe que o poder pblico, no exerccio de sua competncia de controle, expedir as seguintes licenas: prvia, de instalao e de operao. A Constituio Federal de 1988 elevou o Municpio categoria de ente poltico como se depreende dos arts. 1 e 18, que prevem que a Federao Brasileira constituda da Unio, estados e municpios. Os municpios j podiam legislar, prestar servios e instituir e cobrar os prprios tributos, alm de eleger prefeito e vereadores. Alm disso, os municpios tm a competncia comum do art. 23, incisos VI e VII de proteger o meio ambiente, combater a poluio e preservar as florestas, a fauna e a flora. O art. 30, inciso I, lhes permite legislar sobre interesse local, logo elaborar leis de poltica municipal de meio ambiente, e pelo art. 30, inciso II, suplementar a legislao federal e estadual, no que couber, alm, do art. 30, inciso VIII, que confere competncia exclusiva para legislar sobre ordenamento territorial, mediante planejamento e uso do solo.
O art. 225 da Constituio Federal tambm ajuda a esclarecer que o Municpio tem o dever de proteger o meio ambiente, uma vez que impe ao poder pblico (Unio, Estado e Municpio) e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presente se futuras geraes. Logo, o Municpio pode legislar sobre proteo ambiental e exercer o poder de polcia administrativa. O Municpio do Rio de Janeiro, em sua Lei Orgnica Municipal (art. 463, inciso VI, pargrafo 4) prev o licenciamento do rgo municipal competente para a explorao de recursos hdricos e minerais. Enquanto o art. 463, inciso I, estabelece, entre os instrumentos do poder pblico para preservar o meio ambiente, a assinatura de convnios para aperfeioar o gerenciamento ambiental.
Ainda no Rio de Janeiro, o Plano Diretor da Cidade, no art. 112, estabelece a poltica de meio ambiente e valorizao do patrimnio cultural, e no art. 113 prev que ser institudo um sistema de gesto ambiental para a execuo de sua poltica (Conselho Municipal de Meio Ambiente, Fundo de Conservao Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente).
O art. 117 explicita que o sistema de gesto compreender, entre outros instrumentos, a formulao de projetos de proteo do meio ambiente diretamente ou mediante convnio, implantao do processo de avaliao de impacto ambiental, exame de projetos, obras ou atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradao ambiental, e dever exigir, quando for o caso, EIA/RIMA ou garantia de recuperao ambiental para o licenciamento da atividade em questo. Portanto, as prefeituras devero se respaldar em suas leis orgnicas a fim de decidir, em funo de sua escala urbana (determinada pelo tamanho de sua populao), sua situao socioeconmica e cultural, alternativas possveis para institucionalizao do sistema de limpeza urbana, formas de gesto, cobranas de taxas e tarifas e associaes com outras entidades que possam atuar ou convergir esforos, independentemente de sua natureza institucional no pas. Especificamente, o regulamento de limpeza urbana deve ser a espinha dorsal do sistema de limpeza urbana da cidade, expressando todos os princpios fundamentais que devem orientar o comportamento do poder municipal e de sua populao.
Gesto de Resduos Slidos no Brasil
No Brasil, o servio sistemtico de limpeza urbana foi iniciado oficialmente em 25 de novembro de 1880, na cidade de So Sebastio do Rio de Janeiro, ento capital do Imprio. Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto n 3024, aprovando o contrato de "limpeza e irrigao" da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje denomina-se os trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras.
Dos tempos imperiais aos dias atuais, os servios de limpeza urbana vivenciaram momentos bons e ruins. Hoje, a situao da gesto dos resduos slidos se apresenta em cada cidade brasileira de forma diversa, prevalecendo, entretanto, uma situao nada alentadora. Considerado um dos setores do saneamento bsico, a gesto dos resduos slidos no tem merecido a ateno necessria por parte do poder pblico. Com isso, compromete-se cada vez mais a j combalida sade da populao, bem como degradam-se os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hdricos. A interdependncia dos conceitos de meio ambiente, sade e saneamento hoje bastante evidente, o que refora a necessidade de integrao das aes desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida da populao brasileira. Como um retrato desse universo de ao, h de se considerar que mais de 70% dos municpios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes, e que a concentrao urbana da populao no pas ultrapassa a casa dos 80%. Isso refora as preocupaes com os problemas ambientais urbanos e, entre estes, o gerenciamento dos resduos slidos, cuja atribuio pertence esfera d administrao pblica local. As instituies responsveis pelos resduos slidos municipais e perigosos, no mbito nacional, estadual e municipal, so determinadas atravs dos seguintes artigos da Constituio Federal, quais sejam:
* Incisos VI e IX do art. 23, que estabelecem ser competncia comum da Unio, dos estados, do Distrito Federal e dos municpios proteger o meio ambiente e combater a poluio em qualquer das suas formas, bem como promover programas de construo de moradias e a melhoria do saneamento bsico
* J os incisos I e V do art. 30 estabelecem como atribuio municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto organizao dos seus servios pblicos, como o caso da limpeza urbana.
Apesar desse quadro, a coleta do lixo o segmento que mais se desenvolveu dentro do sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior abrangncia de atendimento junto populao, ao mesmo tempo em que a atividade do sistema que demanda maior percentual de recursos por parte da municipalidade. Esse fato se deve presso exercida pela populao e pelo comrcio para que se execute a coleta com regularidade, evitando-se assim o incmodo da convivncia com o lixo nas ruas. Contudo, essa presso tem geralmente um efeito seletivo, ou seja, a limpeza urbana as etapas de gerao, acondicionamento, administrao municipal, quando no tem meios de oferecer o servio a toda a populao, priorizam os setores comerciais, as unidades de sade e o atendimento populao de renda mais alta. A expanso da cobertura dos servios raramente alcana os slidos, alm da limpeza de reas realmente carentes, at porque a ausncia de infra-estrutura viria exige a adoo de sistemas alternativos, que apresentam baixa eficincia e, portanto, custo mais elevado.
Os servios de varrio e limpeza de logradouros tambm so muito deficientes na maioria das cidades brasileiras. Apenas os municpios maiores mantm servios regulares de varrio em toda a zona urbanizada, com freqncias e roteiros predeterminados. Nos demais municpios, esse servio se resume varrio apenas das ruas pavimentadas ou dos setores de comrcio da cidade, bem como ao de equipes de trabalhadores que saem pelas ruas e praas da cidade, em roteiros determinados de acordo com as prioridades imediatistas, executando servios de raspagem, capina, roagem e varrio dos demais logradouros pblicos.
O problema da disposio final assume uma magnitude alarmante. Considerando apenas os resduos urbanos e pblicos, o que se percebe uma ao generalizada das administraes pblicas locais ao longo dos anos em apenas afastar das zonas urbanas o lixo coletado, depositando-o por vezes em locais absolutamente inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baas e vales. Mais de 80% dos municpios vazam seus resduos em locais a cu aberto, em cursos d'gua ou em reas ambientalmente protegidas, a maioria com a presena de catadores entre eles crianas , denunciando os problemas sociais que a m gesto do lixo acarreta. A participao de catadores na segregao informal do lixo, seja nas ruas ou nos vazadouros e aterros, o ponto mais agudo e visvel da relao do lixo com a questo social. Trata-se do elo perfeito entre o inservvel lixo e a populao marginalizada da sociedade que, no lixo, identifica o objeto a ser trabalhado na conduo de sua estratgia de sobrevivncia.
Uma outra relao delicada encontra-se na imagem do profissional que atua diretamente nas atividades operacionais do sistema. Embora a relao do profissional com o objeto lixo tenha evoludo nas ltimas dcadas, o gari ainda convive com o estigma gerado pelo lixo de excluso de um convvio harmnico na sociedade. Em outras palavras, a relao social do profissional dessa rea se v abalada pela associao do objeto de suas atividades com o inservvel, o que o coloca como elemento marginalizado no convvio social. Gerenciar o lixo de forma integrada demanda trabalhar integralmente os aspectos sociais com o planejamento das aes tcnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana.
Com relao aos resduos dos servios de sade, s nos ltimos anos iniciou-se uma discusso mais consistente do problema. Algumas prefeituras j implantaram sistemas especficos para a coleta destes resduos, sem, entretanto, atacar o ponto mais delicado da questo: a manipulao correta dos resduos dentro das unidades de trato de sade, de forma a separar os com real potencial de contaminao daqueles que podem ser considerados lixo comum. A forma adequada de destinao final ainda no consensual entre os tcnicos do setor, e a prtica, na maioria dos municpios, a disposio final em lixes; os catadores disputassem resduos, tendo em vista possurem um percentual atrativo de materiais reciclveis.
Com relao ao tratamento do lixo, tem-se instalada no Brasil alguma unidades de compostagem/reciclagem. Essas unidades utilizam tecnologia simplificada, com segregao manual de reciclveis em correias transportadoras e compostagem em leiras a cu aberto, com posterior peneiramento. Muitas unidades que foram instaladas esto hoje paralisadas e sucateadas, por dificuldade dos municpios em oper-las e mant-las convenientemente. As poucas usinas de incinerao existentes, utilizadas exclusivamente para incinerao de resduos de servios de sade e de aeroportos, em geral no atendem aos requisitos mnimos ambientais da legislao brasileira. Outras unidades de tratamento trmico desses resduos, tais como autoclavagem, microondas e outros, vm sendo instaladas mais freqentemente em algumas cidades brasileiras, mas os custos de investimento e operacionais ainda so muito altos.
Algumas grandes unidades de tratamento de resduos slidos, teoricamente incorporando tecnologia mais sofisticada de compostagem acelerada, foram instaladas no Rio de Janeiro e tambm se encontram desativadas, seja por inadequao do processo s condies locais, seja pelo alto custo de operao e manuteno exigido. Os dados estatsticos da limpeza urbana so muito deficientes, pois as prefeituras tm dificuldade em apresent-los, j que existem diversos padres de aferio dos vrios servios. A nica informao em nvel nacional fruto da Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico PNSB , ainda que nova pesquisa tenha sido realizada no ano de 2000, porm, sem a divulgao de seus dados at o presente momento. Com relao aos custos dos diversos servios, as informaes tambm no so confiveis, pois no h parmetros que permitam estabelecer valores que identifiquem cada tarefa executada, a fim de compar-la com dados de outras cidades.
Por outro lado, o manejo e a disposio final dos resduos industriais, tema menos discutido pela populao que o dos resduos domsticos, constituem um problema ainda maior que certamente j tem trazido e continuar a trazer no futuro srias conseqncias ambientais e para a sade da populao. No Brasil, o poder pblico municipal no tem qualquer responsabilidade sobre essa atividade, prevalecendo o princpio do "poluidor-pagador". Os estados interferem no problema atravs de seus rgos de controle ambiental, exigindo dos geradores de resduos perigosos (Classes I e II) sistemas de manuseio, de estocagem, de transporte e de destinao final adequados. Contudo, nem sempre essa interferncia eficaz, o que faz com que apenas uma pequena quantidade desses resduos receba tratamento e/ou destinao final adequados. As administraes municipais podem agir nesse setor de forma suplementar, atravs de seus rgos de fiscalizao, sobretudo considerando que a determinao do uso do solo urbano competncia exclusiva dos municpios, e assim, eles tm o direito de impedir atividades industriais potencialmente poluidoras em seu territrio, seja atravs da proibio de implantao, seja atravs da cassao do alvar de localizao.
No tocante ao gerenciamento dos servios de limpeza urbana nas cidades de mdio e grande portes, vem se percebendo a chamada privatizao dos servios, modelo cada vez mais adotado no Brasil e que se traduz, na realidade, numa terceirizao dos servios, at ento executados pela administrao na maioria dos municpios. Essa forma de prestao de servios se d atravs da contratao, pela municipalidade, de empresas privadas, que passam a executar, com seus prprios meios (equipamentos e pessoal), coleta, a limpeza de logradouros, o tratamento e a destinao final dos resduos.
Algumas prefeituras de pequeno e mdio portes vm contratando servios da limpeza urbana, tanto de coleta como de limpeza de logradouros, com cooperativas ou microempresas, o que se coloca como uma soluo para as municipalidades que tm uma poltica de gerao de renda para pessoas de baixa qualificao tcnica e escolar.
Como a gesto de resduos uma atividade essencialmente municipal e as atividades que a compem se restringem ao territrio do Municpio, no so muito comuns no Brasil as solues consorciadas, a no ser quando se trata de destinao final em aterros. Municpios com reas mais adequadas para a instalao dessas unidades operacionais s vezes se consorciam com cidades vizinhas para receber os seus resduos, negociando algumas vantagens por serem os hospedeiros, tais como iseno do custo de vazamento ou alguma compensao urbanstica, custeados pelos outros consorciados.
Um dos exemplos mais bem-sucedidos no campo do consrcio aquele formado pelos municpios de Jundia, Campo Limpo Paulista, Cajamar, Louveira, Vrzea Paulista e Vinhedo, no Estado de So Paulo, para operar o aterro sanitrio de Vrzea Paulista. A sustentabilidade econmica dos servios de limpeza urbana um importante fator para a garantia de sua qualidade. Em quase todos os municpios brasileiros, os servios de limpeza urbana, total ou parcialmente, so remunerados atravs de uma "taxa", geralmente cobrada na mesma guia do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU , e tendo a mesma base de clculo deste imposto, ou seja, a rea do imvel (rea construda ou rea do terreno). Como no pode haver mais de um tributo com a mesma base de clculo, essa taxa j foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e assim sua cobrana vem sendo contestada em muitos municpios, que passam a no ter como arrecadar recursos para cobertura dos gastos dos servios, que podem chegar, algumas vezes, a mais de 15% do oramento municipal. De qualquer forma, em todos os municpios, a receita proveniente da taxa de limpeza urbana ou de coleta de lixo sempre recolhida ao Tesouro Municipal, nada garantindo sua aplicao no setor, a no ser a vontade poltica do prefeito.
No Rio de Janeiro, a Companhia de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro COMLURB/RJ , empresa de economia mista encarregada da limpeza urbana do Municpio, praticou, at 1980, a cobrana de uma "tarifa" de coleta de lixo TCL , recolhida diretamente aos seus cofres. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, em acrdo de 4/9/1980, decidiu que aquele servio, por sua ligao com a preservao da sade pblica, era um servio pblico essencial, no podendo, portanto, ser remunerado atravs de tarifa (preos pblicos), mas sim por meio de taxas e impostos. No ano de 2000 a Prefeitura do Rio de Janeiro terminou com a taxa de limpeza urbana e criou a taxa de coleta de lixo, tendo como base de clculo a produo de lixo per capita em cada bairro da cidade, e tambm o uso e a localizao do imvel. Conseguiu-se, com a aplicao desses fatores, um diferencial de sete vezes entre a taxa mais baixa e a mais alta cobrada no Municpio.
De um modo geral, a receita com a arrecadao da taxa, que raras vezes cobrada fora do carn do IPTU, representa apenas um pequeno percentual dos custos reais dos servios, advindo da a necessidade de aportes complementares de recursos por parte do Tesouro Municipal. A atualizao ou correo dos valores da taxa depende da autorizao da Cmara dos Vereadores, que de um modo geral no v com bons olhos o aumento da carga tributria dos muncipes. A aplicao de uma taxa realista e socialmente justa, que efetivamente cubra os custos dos servios, dentro do princpio de "quem pode mais paga mais", sempre implica nus poltico que nem sempre os prefeitos esto dispostos a assumir. O resultado dessa poltica desanimador: ou os servios de limpeza urbana recebem menos recursos que os necessrios ou o Tesouro Municipal tem que desviar verbas oramentrias de outros setores essenciais, como sade e educao, para a execuo dos servios de coleta, limpeza de logradouros e destinao final do lixo. Em qualquer das hipteses, fica prejudicada a qualidade dos servios prestados e o crculo vicioso no se rompe: a limpeza urbana mal realizada, pois no dispe dos recursos necessrios, e a populao no aceita um aumento das taxas por no ser brindada com servios de qualidade.
Felizmente, o que se percebe mais recentemente uma mudana importante na ateno que a gesto de resduos tem recebido das instituies pblicas, em todos os nveis de governo. Os governos federal e estaduais tm aplicado mais recursos e criado programas e linhas de crdito onde os beneficirios so sempre os municpios. Estes, por seu lado, tm-se dedicado com mais seriedade a resolver os problemas de limpeza urbana e a criar condies de universalidade dos servios e de manuteno de sua qualidade ao longo do tempo, situao que passou a ser acompanhada com mais rigor pela populao, pelos rgos de controle ambiental, pelo Ministrio Pblico e pelas organizaes no-governamentais voltadas para a defesa do meio ambiente. Entretanto, em todos os municpios brasileiros, faz-se uma constatao definitiva: somente a presso da sociedade, ou um prefeito decididamente engajado e consciente da importncia da limpeza urbana para a sade da populao e para o meio ambiente, pode mudar o quadro de descuido com o setor. E esse fato s se opera mediante deciso poltica, que pode resultar, eventualmente, num nus temporrio, representado pela necessidade do aumento da carga tributria