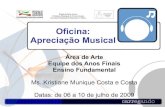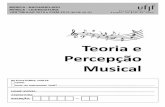Apreciação Musical No Ensino de Música
-
Upload
herbert-rodrigues-mendonca -
Category
Documents
-
view
10 -
download
4
description
Transcript of Apreciação Musical No Ensino de Música
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA
INSTUTO DE ARTES IARTE CURSO DE MSICA
Herbert Rodrigues Mendona
Apreciao Musical no Ensino
Trabalho apresentado disciplina
Psicologia do desenvolvimento
musical.
UBERLNDIA MG 2014
-
Apreciao musical no ensino
Msica uma arte sonora temporalmente organizada. Segundo Sloboda (2008), ela
comum a todas as culturas, tendo cada uma delas padres rtmicos, intervalares,
escalares e polifnicos diferentes, o que a distinguem entre uma cultura e outra.
Cada cultura, em sua vasta produo, possui diversos repertrios a serem conhecido
pelos mais diversos indivduos que a compem. Cada cultura, possui pessoas com
determinadas funes musicais.
Para o preenchimento destas funes musicais, necessrio que estes indivduos
passem por um processo de educao, transmisso/apreenso de conhecimento. A
educao musical deve fornecer bases para um slido conhecimento musical que por
fim se torna a base da prtica
Essa educao musical, a priori, deve equilibrar diferentes atividades musicais durante
as aulas de msica. Moreira (2012, p. 284) cita em seu artigo as ideias do educador
ingls Swanwick onde ele traz, no livro A Basis for Music Education, o modelo
C.(L).A.(S).P, que segundo a traduo da autora para portugus:
(T).E.C.(L).A Tcnica, Execuo, Composio, Literatura e Apreciao. Os parnteses nas letras T e L as destacam por
considerar a Tcnica e a Literatura atividades secundrias no
processo de ensino, afirmando ento que a Apreciao faz parte
do eixo principal de ensino e aprendizagem da msica
juntamente com a Execuo e a Composio. (MOREIRA
2012).
Execuo, composio e apreciao so trs importantes atividades para a formao
musical de um indivduo. Em se tratando de um contexto especfico brasileiro, Minas
Gerais, e pontuando ainda a macro regio do Tringulo Mineiro, percebo por vezes que
a apreciao, to importante para o entendimento formal, estilstico, fonte de
conhecimento, interao e inspirao para novas composies, no devidamente
abordada no contexto de ensino musical.
Em nossas escolas de msica1, o planejamento curricular, quando tem, no explicita a
importncia da escuta musical, e esta quando pensada, est correlacionada disciplina
Histria da Msica, o que no permite um estudo mais aprofundado sobre a mesma,
1 Quando falo nossas escolas, me vem mente vrias escolas de msica: particulares, conservatrios
estaduais, municipais, fundaes culturais, e nestes ambientes, quando h um trabalho voltado para
apreciao, ela quase sempre relacionada h algum tipo de disciplina que trata de histria da msica.
-
pois a apreciao apenas um ponto do eixo scio-histrico-estilstico-cultural que a
disciplina aborda.
No sculo passado, surgiram diversos movimentos metodolgicos ligados a educao
musical, grande parte na Europa, buscando legitimar e incluir a educao musical como
parte integrante do currculo da escola bsica.
Dentre muitos aspectos, todas as metodologias destacam a importncia da escuta
musical, e que esta no apenas um processo passivo de recepo sonora, mas sim um
processo ativo de significao, que nas palavras de Brito (2003, p. 187), escutar
perceber e entender os sons por meio do sentido da audio, detalhando e tomando
conscincia do fato sonoro.
Diversos pedagogos, como Wuytack, privilegiam a audio musical ativa
(PALHEIROS; BOURSCHEIDT 2011). At mesmo, nas salas de concerto, e no mundo
da composio, houve uma certa preocupao com a escuta crtica do pblico, podendo
citar o autor e compositor americano Aaron Copland, que escreveu o livro Como
Ouvir (e entender) msica (1974), onde ele defende sistematicamente a ideia de
ouvinte inteligente e consciente.
Perante todos esses argumentos em defesa da apreciao musical, e sua atual defasagem
no ensino musical, quais as implicaes diretas que ela pode causar no desenvolvimento
musical de um estudante de msica?
Ilari (2003) trata justamente do crebro, no desenvolvimento, aprendizagem e cognio
musical, desde os primeiros dias de vida at a fase adulta. Ela, a partir dos estudos de
Levine (2003) sobre os oito sistemas do neurodesenvolvimento que atuam em conjunto
ente si, mostra as caractersticas destes sistemas responsveis por determinadas
habilidades musicais especficas.
Eu pretendo mostrar aqui estes oitos sistemas e sua implicao na apreciao musical:
1. Sistema de controle da ateno Responsvel pelo direcionamento e
distribuio da energia mental dentro do crebro. Muito importante para manter
a concentrao durante toda a execuo musical, e permitir que outras coisas no
lhe tirem a ateno. A execuo musical necessita de ateno, porm a escuta
-
tambm, pois por meio dela que retemos a maior parte de nosso conhecimento
musical.
2. Sistema de memria Responsvel pelo armazenamento de informaes,
importantssimo em qualquer aprendizado. Como dito no incio deste texto, a
msica uma forma de arte que no ocorre predominantemente no espao, como
a pintura, a arquitetura, e outras; mas sim no tempo. Suas estruturas bsicas,
formas, motivos, frases, melodia, harmonia, so percebidas pelo ouvinte no
decorre da apreciao musical.
3. Sistema de linguagem Responsvel pela deteco dos diferentes sons de uma
lngua, pela habilidade de compreender, lembrar e utilizar um vocabulrio novo,
pela capacidade de expresso de pensamento na forma da fala ou escrita, e pelo
ritmo de compreenso com que o indivduo atende s explicaes e instrues
verbais. Tratando a msica como linguagem, a apreciao importantssima na
decodificao da mensagem musical transmitida.
4. Sistema de orientao espacial Responsvel pela capacitao do indivduo
para lidar ou criar informaes organizadas em Gestalt, em padres visuais ou
em configuraes especficas. A orientao espacial nos permite perceber que
vrias partes se encaixam em um todo, como um quebra-cabea. A identificao
das formas musicais uma forma de orientao espacial, que pode ser cada vez
mais aperfeioada a medida que vamos conhecendo e apreciando mais e mais
msicas.
5. Sistema de ordenao sequencial Responsvel pela capacitao do indivduo
para lidar com as cadeias de informaes que tm uma ordem ou sequncia. No
caso da msica, esse sistema que permite ao aluno compreender o conceito de
escalas e sequencia musical, ordenao de temas, motivos, frases musicais,
cadncias harmnicas.
6. Sistema motor Responsvel pelas conexes entre o crebro e os diversos
msculos do corpo humano. Por exemplo, o sistema motor possibilita que uma
determinada criana toque violino ou pratique esportes. Quanto a isso,
MANTOVANI (2009, p. 45), em sua pesquisa sobre o movimento e a educao
musical de Dalcroze, diz, que o todo o corpo passvel de ouvir, externalizando
pelo movimento corporal, os elementos ouvidos e sentidos.
7. Sistema do pensamento superior Responsvel pelo raciocnio lgico, pela
resoluo de problemas, pela formao e utilizao de conceitos, pela
-
compreenso de como e onde as regras so aplicadas e vlidas, e pela percepo
do ponto central de uma ideia complexa. Na msica, podemos fazer comparao
com o pensamento e a moldagem de nossos ouvidos ao sistema tonal.
8. Sistema do pensamento social Responsvel pela capacidade de interagir
atravs de relaes interpessoais e de pertencimento em um grupo. Apesar de
num primeiro momento este sistema ser vinculado com a execuo musical em
grupo, ele importante para que os ouvintes possam entender o dilogo musical
interpessoal que ocorre entre os intrpretes.
Se a falta de abordagem na apreciao musical um problema, a abordagem apenas
tcnica pode ser pouco efetiva, ou ainda ser desestimulante no aprendizado de se ouvir
criticamente. Para Lewis e Schimdt, citados por Bastio (2014):
o formato usual numa aula de apreciao musical
frequentemente alguma combinao de palestra, discusso e
audio realizadas enquanto os alunos sentam quietos. Ainda, salientam que () uma nfase demasiada em tal intelectualizao pode fazer da audio musical uma
experincia mais clnica que esttica (apud BASTIO, 2014, p. 18).
Ainda segundo Bastio (2003),
os vrios domnios do conhecimento - cognitivo, afetivo e
psicomotor - devem ser explorados conjuntamente no ato da
apreciao musical. No podemos ensinar o conceito ritmo, por
exemplo, sem vivenci-lo de uma forma expressiva com
movimentos corporais, sem entoar uma cano ou explorar um
instrumento, sem ouvir uma melodia marcando a pulsao e
padres rtmicos, sem estabelecer relaes entre diferentes
duraes, sem nos envolver com a msica e expressar as nossas
emoes, ou melhor, sem usar o conceito ritmo de uma forma
musical ou artstica.
Diante do exposto, pudemos ver o quanto a apreciao pode influenciar no
desenvolvimento cognitivo do indivduo. Segundo (LEONHARD & HOUSE 1972, p.
256 apud FRANA & SWANWICK 2002, p. 12),
a maior parte da nossa herana musical s ser vivenciada
atravs da apreciao mesmo no caso de um msico fluente: por maior que seja o seu repertrio, este ainda representa uma
pequena parcela de tudo o que foi composto atravs dos tempos
e lugares, e para as mais variadas formaes instrumentais.
A apreciao (escuta), a maneira dos indivduos conhecerem, interagirem,
modificarem e serem modificados pela msica. O que significa, que a escuta, um dos
-
processos de conhecimento e ressignificao dos elementos musicais, capaz de
transformar o ser humano.
Depois das reflexes de Bastio, defendo que a apreciao deva acontecer em todos os
momentos possveis dos estudos musicais, seja no estudo terico, histrico, nas anlises
esttico-harmnicas e sobretudo, e principalmente, nas aulas de instrumento, onde por
vezes o aluno no entende e no sabe o que est acontecendo. Para Brunner (1978: 28),
(...) o conhecimento adquirido por algum sem suficiente estrutura a que se ligue, um conhecimento fadado ao
esquecimento. Um conjunto desconexo de fatos no tem seno
uma vida extremamente curta em nossa memria (apud Bastio 2003).
No h portanto melhor conexo de conhecimentos que a sempre natural e necessria
aliana entre execuo instrumental e apreciao crtica da mesma.
Referncias:
BASTIO, Zuraida Abud. Apreciao Musical: Repensando Prticas Pedaggicas. Encontro
Anual da ABEM, v. 12, 2003.
BASTIO, Zuraida Abud. A abordagem AME: elemento de mediao entre teoria e prtica na
formao de professores de msica. Revista da ABEM, v. 18, n. 23, 2014.
BRITO, Teca Alencar de. Msica na educao infantil. So Paulo: Peirpolis, v. 2, 2003.
COPLAND, Aaron. Como ouvir e entender msica. Artenova, 1974.
ILARI, Beatriz. A msica eo crebro: algumas implicaes do neurodesenvolvimento para a
educao musical. Revista da ABEM, v. 11, n. 9, 2014.
LEVINE, Mel. Educao individualizada. 2003. Sd. Se. Sr.
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz Senoi. Pedagogias em educao musical. 2011.
MOREIRA, Lcia Regina de Sousa. REPRESENTAES SOCIAIS: CAMINHOS PARA A
COMPREENSO DA APRECIAO MUSICAL?.Anais do SIMPOM, n. 1, 2012.
MANTOVANI, Michelle. O movimento corporal na educao musical: influncias de mile
Jaques-Dalcroze. 2009. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Campus de So Paulo. Instituto de Artes.
PALHEIROS, Graa Boal; BOURSCHEIDT, Lus. Jos Wuytack: A pedagogia musical
ativa. MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. Pedagogias em educao musical. Curitiba:
Ibpex, p. 305-341, 2011.
LOBODA, John. A Mente Musical: A psicologia definitiva da msica. Traduo de Beatriz Ilari
e Rodolfo Ilari. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2008.