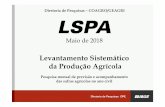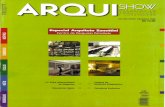ARQUI #3
description
Transcript of ARQUI #3

DIPLÔ ENSAIOS TEÓRICOS ESCALA 2014 CINEMA E ARQUITETURA ARQUITETAS INVISÍVEIS LINA BO BARDI PREMIO ANPRAC PIBIC RANKING 2014
R E V I S T A D A F A U - U n B
N ° 0 3 | 2 / 2 0 1 4
ARQUIISS
N 2
35
8-5
90
0


ARQUIR E V I S T A D A F A U - U n B
Universidade de BrasíliaFaculdade de Arquitetura e Urbanismo
faunb
Março de 2015Edição: 2/2014 - No 03

Ficha Catalográfica
Faculdade de Arquitetura e UrbanismoUniversidade de Brasília – UnBInstituto Central de Ciências – ICC Norte – Gleba ACampus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte – Caixa Postal 04431 CEP: 70904-970 – Brasília / DF – E-mail: [email protected]: (+55) (61) 3107-6630 / Fax: (+55) (61) 3107-7723
Arqui / José Manoel Morales Sánchez, editor ; Maria Fernanda Derntl, editora executiva - n. 3 (mar. 2015)- Brasília : Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo , 2014- . 128 p. ; 29 cm.
Periodicidade semestralDescrição baseada em: n. 3 (mar. 2015)ISSN 2358-5900
1. Arquitetura. 2. Urbanismo. I. Morales Sánchez, José Manoel (ed.). II. Derntl, Maria Fernanda (ed.).
CDU 72
A772

Universidade de Brasília
Reitor: Ivan Marques de Toledo CamargoVice-reitora: Sonia BáoDecana de extensão: Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB
Diretor: José Manoel Morales SánchezVice-diretora: Cláudia Naves David AmorimCoordenador de pós-graduação: Márcio Augusto Roma Buzar
ARQUI é uma publicação semestral da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnB.
EDITOR José Manoel Morales Sánchez
EDITORA EXECUTIVA Maria Fernanda Derntl
CONSELHO EDITORIAL Andrey Rosenthal Schlee, Benny Schvarsberg, Cláudio José Pinheiro Villar Queiroz, Elane Ribeiro Peixoto e Luiz Alberto Gouvêa
EQUIPE EDITORIAL DA REVISTA Ana Elisabete de Almeida Medeiros (Coordenação de Ensaio Teórico), Caio Frederico e Silva, Danilo Fleury, José Manoel Morales Sán-chez, Maria Fernanda Derntl, Marilia Alves e Paola Caliari Ferrari Martins (Coorde-nação de Diplomação)
COORDENAÇÃO EDITORIAL: Maria Fernanda Derntl
EDITORA DE IMAGENS Marilia Alves | GRUPO arquitetura etc
REVISÃO EDITORIAL Frederico Maranhão de Mattos
REVISÃO ORTOGRÁFICA Sueli Dunck
COMISSÃO DE DIPLOMAÇÃO Bruno Capanema, Cláudia da Conceição Garcia, Lucia-na Saboia Fonseca Cruz e Raimundo Nonato Veloso Filho
COMISSÃO DE ENSAIO TEÓRICO Ana Elisabete de Almeida Medeiros e Oscar Luis Ferreira
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO Danilo Fleury e Marilia Alves | GRUPO arqui-tetura etc | [email protected]
© Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnBUniversidade de Brasília, Instituto Central de Ciências – ICC Norte, Gleba A, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, Brasil 70904-970tel. (+55) 61.3107.6630 fax. (+55) 61.3107.7723http://www.fau.unb.br/no 03 1/2014
IMPRESSÃO Gráfica Coronário
As opiniões expressas nos artigos desta revista são de responsabilidade exclusiva dos autores.
www.facebook.com/arquirevistadafauunb | [email protected]
Imagem da capa: composição criada a partir das ilustrações originais de Ana Carolina Ma-cedo Moreth e Gabriel Ernesto Moura Solórzano
Imagens das sessões: Ana Ca-rolina Macedo Moreth e Gabriel Ernesto Moura Solórzano
ARQUIR E V I S T A D A F A U - U n B

2/20146
ARQUI

Tal como as figuras que ilustram a capa e as seções desta edição da ARQUI, os co-nhecimentos pertinentes à Arquitetura e Urbanismo são multifacetados e podem se recombinar de infinitas maneiras, dando origem a soluções sempre renovadas. A se-leção de trabalhos, eventos e iniciativas aqui reunidos expressa bem essa natureza ampla e multidisciplinar da formação em nossa área. Mostra também um universo de preocupações e rumos próprios da FAU-UnB.No segundo semestre de 2014, nossos alunos, professores e pesquisadores tiveram de se desdobrar para participar de tantas atividades: botaram o pé na estrada, dis-cutiram cinema, questões de gênero e sustentabilidade, sentaram-se para conversar com historiadores, geometrizaram, fotografaram, fizeram projetos, dedicaram-se a pesquisas e, ufa!, publicaram.A ARQUI buscou entrar nesse clima de colaboração e de expressão de vozes diversas. Nesta edição, professores e alunos tiveram um envolvimento mais amplo, opinando sobre a revista e produzindo textos e imagens inéditos especialmente feitos para ela. O projeto gráfico também foi aprimorado e, como se pensou desde o início, man-tém-se flexível para dar conta da variedade do material recolhido a cada semestre. Em nossa página no Facebook, é possível fazer o download da versão digital da re-vista, deixar mensagens e inteirar-se de novidades como o concurso para a seleção de imagens.Sabe-se que na universidade o processo de ensino-aprendizagem não deve aconte-cer de modo encerrado, mas articulado com atividades diversas de pesquisa e ações junto a uma comunidade mais ampla. As páginas seguintes apontam para reali-zações nesse sentido, às vezes inusitadas, às vezes divertidas, mas de todo modo instigando a reflexão.
A equipe editorial
editorial

SUMÁRIO
08 26
34
46encontros da fau
FAU IMPRESSA
FAU NA RUA
FAU pesquisa
ARQUITETAS INVISÍVEISTirando a capa da invisibilidadeMaribel Aliaga
A ARQUITETURA COMO OBJETO DE MUSEUIngrid Siqueira
SHCUTempos e escalas da cidade e do urbanismoSylvia Ficher
ENSAIO TEÓRICOAna Elisabete Medeiros
PERMACULTURA URBANA PARA CIDADES EM TRANSIÇÃOLucas Parahyba
POR TRILHO E (C)ASAS, O FRAGMENTADO ESPAÇO DO CANTOStephanie Souza
PÉ NA ESTRADAPés em CuritibaRicardo Trevisan
VIAGEM DIDÁTICA AO RIO DE JANEIROVivenciar a cidade como proposta de ensinoCamila Gomes
GALERIA FOTOGRÁFICABrasília MonumentalEduardo Rossetti
CINEMA E ARQUITETURAFernando Meirelles na FAUEduardo Rossetti
ESCALA 2014Caio Frederico e SilvaA super semana universitáriaFrederico FlósculoCASAS na semana ESCALALiza Andrade
HABITABILIDADE E CIDADES SENSÍVEIS À ÁGUARegina C. Ribeiro Miranda
ARQUI + DIDÁTICOSFAU lança revista acadêmicaÁdila TavaresFaculdade de Arquitetura e Urbanismo publica série de livros didáticosÁdila Tavares
GEOMETRIZANDO 8Eliel Américo e Neusa Cavalcante
PARTICIPAR É MAISPedro Ernesto Chaves Barbosa
AS PRAÇAS E PARQUES DE ANÁPOLISLara Garcia
OS PALÁCIOS ORIGINAIS DE BRASÍLIARomullo Baratto
URBANISMO ECOLÓGICOCaio Frederico e Silva
10
52
22
48
50
51
36
38
42
21
13
54
28
18
55
56
32
33

76
68
86
HOMENAGEM
FAU pREMIADA
NOVOS ARQUITETOS
LINA BO BARDI100 anosEduardo Rossetti
MAPA PARA O USO DO PARQUE DA CIDADE DONA SARAH KUBITSCHEK EM BRASÍLIA/DFCamila Abrão
RANKING
DIPLÔPaola Caliari Ferrari MartinsCatálogo de projetosProjetos em destaque
CENTRO DE CULTURA ÁRABEAna Júlia Maluf
A NOVA PLATA[FORMA] DA RODÔGabriela Cascelli Farinasso
ESTAÇÃO DA DANÇALaura Camargo
CENTRO CULTURAL 25 DE OUTUBROMatheus Maramaldo
ANTI-UTOPIA URBANADanilo Fleury
CASA DE RETIRO RELIGIOSOErick Welson Mendonça
COMPLEXO CULTURAL EM PLANALTINAFabrícia de Souza Figueiredo
KARTÓDROMO DO GUARÁHanna Augusta de Andrade
CENTRO ONCOLÓGICOIsabel Cabral Alencar
INSTITUTO DE ARTESJana Cãndida Castro dos Santos
NZEB EDIFÍCIO DE BALANÇO ENERGÉTICO NULO NA UNBMárcia Bocaccio Birk
ESPAÇO DE AÇÕES DE MELHOR IDADENinivy Caroliny Melo de Oliveira
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTALRubiana Lemos
GALERIA FOTOGRÁFICASobre Lina Bo BardiLaura Camargo e Luiz Eduardo Sarmento
MEMÓRIA E CIDADEViviane Moreira
A PERDA DE EXEMPLARES NÃO EXCEPCIONAIS PARA A ARQUITETURA MODERNAJéssica Gomes da Silva
MANUAL DE CICLISMO URBANOJosé Henrique Freitas
O LUGAR DO PEDESTRE NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIOJuliana Lopes Vasconcelos
PRÊMIO ANPRACProjeto de habitação autossuficienteLanna Santana
TRANSFORMANDO O LUGARCaroline Nogueira
MOBILIDADE URBANA Bianca Rabelo
DULCINA E BRASÍLIADiogo Lins
78
63
70
88
94
98
102
106
110
112
114
116
118
120
122
124
126
8064
65
66
67
72
62
60
59
MOBILIDADE URBANANágila Ramos
58
PIBIC MENÇÃO HONROSAAs cidades: da industrialização à estética relacionalDanilo Fleury
74


encontros da fau +

2/201412
ARQUI
Em novembro de 2014, tivemos na FAU-UnB uma semana intensa de atividades: oficinas, palestras, dis-cussões, exposições. Dentre os vários grupos de alu-nos que internamente se organizaram para participar, gostaria de destacar as Arquitetas Invisíveis, formado inicialmente por um pequeno grupo de meninas, que ao longo de um ano promoveu grandes inquietações, com as suas descobertas e com seus questionamentos quanto à invisibilidade das mulheres na arquitetura.
Comecei a tomar conhecimento dessas indaga-ções ainda no fim de 2013, e as inquietações foram surgindo como um desabafo. Era necessário entender
um pouco mais sobre o assunto que envolvia o feminismo, era preciso identificar a participação feminina na Arquitetura e Urbanismo ao longo do tempo, mas, sobretu-do, era preciso entender a nós mesmas. Seria mesmo necessário que nos colocásse-mos como “mulheres”?
Os diálogos cibernéticos foram tomando corpo, procuramos saber sobre a parti-cipação feminina no mercado de trabalho, na historiografia da arquitetura. Depara-mo-nos com questionamentos ainda maiores, que envolvem as minorias e as relações de classes sociais.
Paralelamente, o grupo iniciou um trabalho de pesquisa e inventário das arqui-tetas, para o desenvolvimento da página no Facebook. Enfim, a página saiu em me-ados de março ainda sob o efeito das comemorações do dia internacional da mulher.
As meninas se organizaram para fazer ao menos uma postagem semanal. O
SE QUERO DEFINIR-ME, SOU OBRIGADA INICIALMENTE A DECLARAR: “SOU MULHER”.
ESSA VERDADE CONSTITUI O FUNDO SOBRE O QUAL SE ERGUERÁ QUALQUER OUTRA
AFIRMAÇÃO. UM HOMEM NÃO COMEÇA NUNCA POR SE APRESENTAR COMO UM INDIVÍDUO
DE DETERMINADO SEXO: QUE SEJA HOMEM É NATURAL
(SIMONE DE BEAUVOIR)
TIRANDO A CAPA DA INVISIBILIDADE
A R Q U I T E T A SI N V I S Í V E I S
Maribel Aliaga

13

2/201414
ARQUI
trabalho procurou uma linguagem dinâmica, que atingisse não apenas os arquitetos. A diagramação teve um trabalho delicado e meticuloso, as pesquisas dos verbetes procuravam seguir com um mínimo de rigor.
A página #arquitetasinvisiveis crescia em conteúdo e em “curtidas”. Era neces-sário criar condições para tirar a capa de invisibilidade que envolvia as arquitetas e todas(os) que entusiasticamente participavam dos trabalhos. O trabalho transfor-mou- se então em exposição, que propunha discutir a invisibilidade e o opacamento das arquitetas em seu tempo e em nossas próprias disciplinas.
Às reuniões semanais juntaram-se muitas, e aos poucos os meninos também foram chegando. Os grupos de trabalho se dividiam entre o planejamento, as pes-quisas, a execução do projeto, os orçamentos. Agora não éramos sós, e já se pensava em outras atividades, atreladas à semana universitária. Graduação e pós-graduação trabalharam juntas, na excelente organização das palestras e debates.
O grande dia enfim chegou, a exposição mostrou a criatividade e a versatilidade das arquitetas selecionadas, e do grupo.
O evento resumiu, nos mínimos detalhes, todas as inquietações iniciais – “so-mos mulheres” e queremos o nosso reconhecimento acompanhado de flores, chita e chá com bolinho. Porém, os trabalhos da semana estavam apenas começando. Vie-ram as oficinas, as palestras e os debates. Sucederam-se discussões de gênero, colo-cações instigantes sobre o feminino e plural, sobre o ensino de arquitetura e sobre a atuação política das mulheres na profissão.
A afirmação “sou mulher” só faria sentido, ou melhor, perderia seu sentido de afirmação, se começássemos a olhar para nós mesmas e fizéssemos a nossa parte como profissionais que se preocupam com uma arquitetura detalhada, delicada e inclusiva, que imaginam a cidade que também pertence às mulheres. E, principal-
mente, que querem ter, entre seus precedentes e suas inspirações, o reconhecimento de tantas outras que foram pioneiras em seu tempo.
A semana Arquitetas Invisíveis, creio eu, foi o início de uma pequena revolução que terá desdobra-mentos acadêmicos, dentro e fora da UnB. Já não so-mos mais invisíveis, agora é tempo de refletir e ama-durecer.
Quem foram as cabeças do projeto?
Maribel AliagaGabriela CascelliLuiza DiasLara PitaHana AugustaJúlia Mazzutti
fotografias por Daniel Melo
T

15
ESCALA2014
Caio Frederico e Silva
Entre os dias 3 e 8 de novembro de 2014 tivemos, na Universidade de Brasí-lia, a Semana Universitária. Neste ano, contamos com uma grade adesão da Fa-culdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), que tornou sua semana universi-tária bastante frutífera. Foram mais de trinta atividades de extensão promovi-das na FAU, desde palestras técnicas, oficinas lúdicas, cursos e minicursos dos mais variados temas, como tecnologia da construção, leiaute de pranchas e design de mobiliário, para citar alguns dos mais concorridos.
Abrimos na FAU mais de três mil vagas para as atividades ofertadas por dezoito professores e conseguimos uma adesão de quase 40% dos alunos, ou seja, mais de 1.200 vagas das atividades da semana foram preenchidas. Recebemos convidados de alguns estados do Brasil, e alunos de diferentes cursos da UnB pu-deram desfrutar dos momentos que a Se-mana Escala proporcionou ao ambiente acadêmico.
O sistema eletrônico ofertado pelo Decanato de Extensão (DEX) permitiu que todas as atividades fossem cadas-tradas online utilizando a infraestrutu-ra administrativa da própria Faculdade. Neste âmbito, contamos com a equipe
da recém-criada Secretaria de Apoio De-partamental e de Extensão (SADE), que concentrou os sistemas de inscrição dos participantes. O sistema da semana uni-versitária ainda possibilitará que este ano os participantes recebam um certifi-cado digital a ser enviado pelo DEX para o e-mail cadastrado no site da Semana, o que funcionou como um incentivo à par-ticipação e a uma maior organização das listas de frequência para as atividades.
Incentivo a extensão universitária: a Semana Universitária funciona como uma grande incentivadora das ativida-des extensionistas na UnB. É o momen-to em que diversas ações continuadas dão os seus primeiros passos. É também a oportunidade para que professores da Faculdade promovam atividades trans-disciplinares e que não possuam forma-to acadêmico no que tange à graduação. Prova disso é o sucesso do Curso de Mo-biliário, que possibilitou aos alunos in-vestigar e dialogar com novas escalas de trabalho e novas especialidades.
Troca de experiências: A palestra da abertura da Semana Escala contou com a presença do arquiteto paulista Tomaz Lotufo. O foco de trabalho de To-maz é a bioarquitetura, assim como é a abordagem do grupo CASAS – escritório

2/201416
ARQUI
Não teve precedentes, de tão inten-sa e tão gostosa. Em geral, dizem as más línguas, metade da Universidade viaja na Semana Universitária, e a outra me-tade fica em casa. Desta vez não: metade da metade da metade, talvez metade dis-so, mas uma agitadíssima metade, fez a melhor semana universitária que a UnB já teve.
Na FAU-UnB, graças aos esforços da Coordenação de Extensão – que desburo-cratizou barbaramente os desencorajado-res protocolos administrativos exigidos ordinariamente –, uma boa “metade” dos estudantes e professores entrou “de cabe-ça” nas atividades. Ainda teremos parti-
cipações mais massivas. Mais de uma vez divulguei as ativi-
dades que protagonizei como “canaval-a-cadêmico-fora-de-época”. Nesse carnaval, dirigido ao amplo público externo – à co-munidade moradora do Distrito Federal e quem mais chegasse – uma ampla pauta de atividades foi oferecida. No conjunto de cinco palestras que ofereci, três foram dedicadas à cidade, ao debate de seus problemas urbanos, centradas: (a) na “ADVOCACIA URBANA” de interesses co-munitários, de soluções inovadoras para problemas urbanos irresolvidos; (b) no debate da LUOS – a polêmica Lei de Uso e Ocupação do Solo, que permite especu-
A SUPER SEMANA UNIVERSITÁRIA
modelo da FAU. Na palestra, o convidado pôde apresentar sua imersão em comu-nidades de São Paulo, nas quais experi-menta a autoconstrução e o uso de mate-riais regionais na construção das casas. Tomaz foi convidado pelo CASAS porque tem trabalhado com a temática da Bio-construção há muitos anos e no momen-to está elaborando projeto de urbaniza-ção para uma Ecoagrovila no entorno de Brasília, comunidade rural na cidade de Planaltina. Viu-se uma rica troca de ex-periências promovida pela Semana Es-cala. Com base na experiência paulista, percebeu-se que a UnB participa de um debate nacional acerca da contribuição do escritório modelo como serviço de Ar-quitetura e Urbanismo na promoção de qualidade de vida.
O envolvimento dos professores e alunos foi decisivo para o sucesso da Se-mana Escala, nome que foi dado por um grupo de alunos ainda em 2012, e que tornamos como nome oficial da semana universitária da FAU. O sucesso da Se-mana deve-se ao empenho dos alunos da comissão organizadora, no nome do es-tudante e estagiário da Extensão Arthur Moraes e das colegas Maribel Aliaga e Liza Andrade que, com os grupos das Ar-quitetas Invisíveis e o Escritório Modelo CASAS, contribuíram para abrilhantar ainda mais a nossa Semana Escala 2014.
Frederico Flósculo
T

17
meio a um projeto institucional confuso, que copia intensamente as experiências didáticas e institucionais, sem discuti-las decentemente. A palestra “Contos de Cartomantes: a imaginação de um profes-sor desocupado” foi realmente autoral e crítica, e colocou aos estudantes tanto a obra pessoal, artística, de um professor de arquitetura (seus desenhos, romances, contos, projetos de arquitetura e urbanis-mo), quanto os graves problemas dessas universidades que se envolvem em pro-jetos “tecnologizantes” e “cientificistas” de caráter essencialmente burocrático. Trata-se da necessidade da arte para que haja inteligência universitária.
Nossas universidades desvalori-zam e desmerecem a arte, não entendem o seu sentido libertador, pois são autori-tárias e intelectualmente limitadas pelo produtivismo acadêmico – que, parado-xalmente, não gera boas e inovadoras tecnologias, nem gera ciência na propor-ção de sua pretensão. Nesse processo, a universidade perde e desvaloriza as re-ferências da arte, tornando-se sem ima-ginação e capacidade crítica, argentária e cortesã. A Semana Universitária deve ser fomentada como essa grande reflexão aberta, em que novas dimensões de nos-sas vidas intelectuais devem ser expos-tas, debatidas, avaliadas.
Intervenção Sobreurbanafotografia por Bruna Ruperto
fotografia por Caio Frederico e Silva
lação especialmente projetada, e; (c) na apresentação de um importante grupo de defesa de Brasília, denominado NÓS QUE AMAMOS BRASÍLIA, que assumiu um protagonismo crucial nas redes sociais.
Uma quarta atividade, voltada para a apresentação e divulgação de livro di-dático de minha autoria, Metodologias da projetação arquitetônica, também foi associada ao debate urbano, com a exibi-ção de documentário Superquadras, dos diretores Mário Salimon e Marcelo Feijó, da FAC/UnB.
Finalmente, minha “grande pales-tra” foi mesmo sobre a presença crítica da arte numa universidade perdida em T

2/201418
ARQUI
CASAS NA SEMANA ESCALAtexto por Liza Andrade e estudantes EMAU/CASAS: Luiz Felipe Machado, Samuel Prates, Bruna Ruperto Duarte e Sofia Portugal
Ofina de Jardim Agroflorestal fotografia por Samuel Prates
A Semana Escala corresponde à tradicional Semana da Arquitetura e Ur-banismo da FAU, que acontece durante a Semana Universitária da UnB; neste ano, ocorreu no início de novembro. O objeti-vo de organizar a Semana Escala partiu do interesse dos estudantes em retomar a extensão universitária, envolvendo a FAU como um todo.
O Escritório Modelo CASAS (Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentá-vel), como um programa de extensão da UnB, foi convidado para ajudar na orga-nização do evento e para apresentar seus trabalhos de 2014, por meio da exposição Mostra CASAS, que trata das comunida-des rurais dos assentamentos da reforma agrária no DF. Outros grupos também fo-ram convidados, como o Pé na Estrada, que expôs fotos e análises da viagem a Curitiba, e o grupo Arquitetas Invisíveis, que abordou a discussão da valorização de gênero dentro do exercício da arquite-tura por meio de palestras, cursos e uma bela exposição.
A Semana Escala também abriu um espaço para os professores e estudantes
da FAU interessados em oferecer cursos, oficinas e palestras abertas aos estu-dantes, o que permitiu aos participan-tes apresentar suas pesquisas ou temas para debates. Cada grupo de pesquisa e extensão, com seus projetos e programas, promoveu atividades relacionadas ao seu tema.
O Círculo Criativo CASAS proporcio-nou aos estudantes uma roda de discus-são com os convidados, dividida em dois momentos: a conversa com as organiza-doras do Pé na Estrada e o debate com os estudantes que voltaram do Ciências sem Fronteiras. O CASAS Convida pro-moveu atividades e cursos ligados à edu-cação para a sustentabilidade, ao desen-volvimento de projetos de arquitetura sustentável e à função social do trabalho do arquiteto.
No primeiro dia, na parte da manhã, ocorreu uma prática de tai chi chuan com a professora Monica Han, com o objetivo de demonstrar os benefícios da prática para a mente e para o processo de apren-dizado, bem como para a saúde física, além da possibilidade de fazer conexões
importantes com a natureza. Na parte da noite, na palestra de abertura – Um novo ensino para outra prática: contribuições para o ensino de arquitetura no Brasil –, com Tomaz Lotufo, debateu-se a necessi-dade de trazer o canteiro experimental para dentro das universidades, para que os estudantes experimentem a prática de construção junto às comunidades mais carentes.
No decorrer da semana ocorreram as seguintes oficinas: (1) UnBike Tour, com o estudante José Henrique Freitas (Ciclistas de Brasília), que promoveu um passeio de bicicleta entre as obras de ar-quitetura do câmpus Darcy Ribeiro; (2) Jardim Agroflorestal, com o estudante André Dantas, que propiciou a constru-ção de um canteiro com a integração de espécies agroecológicas aos estudantes; (3) A permacultura como instrumento para o desenvolvimento de arquitetura para um novo milênio, com a estudante Ariel de Lima, que fez uma introdução sobre permacultura e, ao final, promo-veu uma oficina com a construção de um pergolado de bambu, que foi incorporado

19
nas obras da Pracinha do CA.A Reforma da Pracinha também foi
organizada pelos estudantes do CASAS, visando a intervenções no piso do jardim com restos de madeira, bancos de pallet e de restos de pneus. Um ponto importante do evento foi a oficina Comunidade Pro-move, na qual membros da Comunidade Renascer proporcionaram um minicurso de tear, ensinando aos estudantes e fun-cionários como fazer tapetes, toalhas e jogos americanos.
No último dia foram convidados os arquitetos do Ministério das Cidades do Programa Nacional de Habitação Rural e o do Programa Minha Casa Minha Vida, com foco no programa PMCMV- Entida-des, para expor sobre a questão do proces-so participativo nos projetos e aspectos culturais das habitações na cidade e no campo, além de discutir sobre importân-cia da Lei da Assistência Técnica para projetos de Arquitetura e Urbanismo.
Para encerrar, o CASAS convidou os membros do Sobreurbana de Goiânia, que trabalha com mobilização e sensibiliza-ção de comunidades para a construção de cidades mais acessíveis, sustentáveis e humanas, por meio de processos parti-cipativos, para ministrar uma palestra e implantar a Oficina de Sombrinha – uma instalação com sombrinhas no jardim/praça do ICC, para chamar a atenção quanto aos aspectos bioclimáticos e esté-ticos da intervenção.
O resultado dos eventos foi positivo no que tange à satisfação e ao envolvi-mento das pessoas que deles participa-ram, suscitando discussões sobre novas formas pedagógicas para os cursos de ar-quitetura e urbanismo que incluam pro-cessos participativos e trocas de saberes entre estudantes, professores e comuni-dades. Porém, estamos longe de alcançar o sucesso, tendo em vista o alto índice de ausências de professores e estudantes na Semana Universitária da UnB.
Palestra de Abertura do arquiteto Tomaz Lotufo fotografia por Bruna Ruperto
Oficina de Tearfotografia por Victor Cruzeiro
Reforma da Pracinha e Oficina de Espaços Subutilizados do Campus
fotografia por Bruna Ruperto
T

2/201420
ARQUI
GEOMETRIZANDO
8

21
A mostra GEOMETRIZANDO 8 reuniu mais de 400 trabalhos produzidos entre 2011 e 2013 pelos alunos de Geometria Construtiva, disciplina que, sendo obrigatória para o Curso de Arquitetura e Urbanismo, vem sendo oferecida também para estu-dantes de outros cursos da Universidade de Brasília.
A ideia da realização do evento surgiu a partir da constatação de que a referida disciplina vem produzindo, como resultado do desenvolvimento de seu conteúdo e de sua metodologia didático-pedagógica, um expressivo material que merece ser divul-gado além das fronteiras da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB.
A necessidade de manter o espírito de busca constante como força motriz da dis-ciplina faz com que haja, ao longo dos semestres letivos, uma sucessão de exercícios que possibilitam o repasse gradual e evolutivo do conteúdo programático específico. Cada resultado parcial é, ao mesmo tempo, o experimento e o produto, configurando-se uma estratégia pedagógica que tem no processo a possibilidade do erro e no pro-duto a probabilidade do acerto.
Experimento e produto devem permitir a liberdade, mas também acolher a ordem e a beleza. Não a ordem autoritária ou burocrática, mas aquela que rege os seres, os animados, a natureza. Ritmo, equilíbrio, proporção e contraste são al-guns dos princípios estudados, surgindo de seu aprendizado o amadurecimento necessário para avançar no campo das variações, do inusitado e da liberdade plástica.
Tida frequentemente como assunto de caráter herméti-co, afeito a alguns poucos eleitos, a geometria transforma-se num instrumento pri-vilegiado para a especulação lúdica, que se torna agradável ao olhar do cidadão comum.
O caráter lúdico da disciplina é predominante tanto no processo de produção como na forma em que os resultados concretos se apresentam. E o clima saudável
A BELEZA SUGERE MAIS DO QUE UMA SIMPLES ORDENAÇÃO... ESPECIFICA UM TIPO PARTICULAR DE ORDENAÇÃO. POSTULA A ORDEM COMPATÍVEL COM A SINGULARIDADE. (PAUL WEISS)
Eliel Américo e Neusa Cavalcante - organizadores da exposição

2/201422
ARQUI
que reina no ateliê é garantido pela harmoniosa alternância entre os momentos de concepção/criação – profundos e tensos – e os momentos de elaboração/acabamento. O fazer manual acaba por propiciar uma situação de “relaxamento mental” que, capaz de neutralizar a ebulição cerebral/intelectual do ato criador, garante as condições e a motivação necessária para enfrentar novos temas e desafios.
As atividades desenvolvem-se de forma dinâmica e des-contraída, sugerindo um verdadeiro espaço do brincar. Papéis, colas, fios diversos, madeiras, tintas etc. contribuem para criar um espaço da invenção e do exercício, da inspiração e da transpiração, do fazer e do refazer. A crítica construtiva e verdadeira, exercida de forma plena e constante pelos professores e por toda a turma, faz com que os alunos sejam motivados a lutar pela superação de suas próprias limitações.
A exposição foi organizada em dois grandes ambientes: o primeiro foi dedicado às especulações formais em torno de padrões observados na Natureza; o segundo, so-bre o tema Corpo e Movimento, às formas presentes na dança, no carnaval e no circo. Enquanto os produtos derivados de padrões observados em elementos da natureza expressaram predominantemente um abstracionismo de caráter geométrico, aqueles resultantes do movimento privilegiaram um abstracionismo lírico, mais adequado ao resgate do significado e do caráter simbólico de tais manifestações e de suas figuras/personagens emblemáticas.
E é no cenário da fantasia de cada um que a produção da Geometria Construtiva se traduziu no espetáculo para os mais curiosos e atentos.
A ARTE NÃO REPRODUZ O VISÍVEL, MAS TORNA VISÍVEL. A ESSÊNCIA DA ARTE GRÁFICA CONDUZ FACILMENTE, E COM TODA RAZÃO, PARA A ABSTRAÇÃO. (PAUL KLEE)
fotografias por Nonato Veloso
T

23
fotografia por Eduardo Rossetti
C I N E M A EA R Q U I T E T U R A
Brasília sempre foi uma cidade com forte apelo visual para arquitetos, artis-tas plásticos, fotógrafos e cineastas. Des-de a construção da cidade há registros em diferentes suportes visuais, difun-dindo imagens da cidade e construindo discursos sobre sua modernidade e sobre sua intrínseca vocação para o futuro. Se até Glauber Rocha já filmou a cidade, nas últimas décadas, entretanto, poucas ve-zes a cidade foi explorada pela televisão de modo mais cotidiano, seja em novelas ou mesmo em propagandas, mantendo a imagem de Brasília numa aura política exclusiva, muitas vezes atrelada a es-cândalos diversos. De modo caricato, a imagem da cidade se reduz às imagens da Esplanada e dos palácios enquadrada pelos telejornais.
Recentemente, em outubro deste ano, o diretor de cinema Fernando Mei-relles esteve em Brasília filmando a sé-rie Felizes para sempre, que explora es-paços, paisagens e ambientes urbanos de Brasília para além do clichê Esplanada-Congresso-Praça. Neste processo de am-pliar a visão sobre a cidade, os espaços
do Minhocão (ICC-UnB) foram utilizados para um episódio, em que também foram explorados os espaços da FAU como ce-nário para situações de dramaturgia. Depois da divulgação da presença do di-retor e de atores circulando pela FAU e trabalhando nos espaços da faculdade, Meirelles fez uma palestra e conversou com alunos e com a curiosa plateia que se formou ao redor dele na pracinha do CAFAU.
Tranquilamente sentado numa das cadeiras Eames que circulam entre os ateliês, Fernando Meirelles tratou da sin-gularidade e da potencialidade de filmar em Brasília, respondeu a perguntas téc-nicas sobre cinema, sobre o trabalho com atores nacionais e estrangeiros, sobre roteiros, futuros trabalhos, relação das mídias com o cinema e a TV, processos de filmagens e sobre os filmes que com-põem sua profícua carreira de diretor. Diante de uma conversa tão agradável e de um público tão interessado deixo o convite para que ele volte à FAU numa próxima vez em que estiver em Brasília!
FERNANDO MEIRELLES NA FAUEduardo Rossetti
T

2/201424
ARQUI
SHCU

25
TEMPOS E ESCALAS DA CIDADE E DO URBANISMO
O 13º Seminário de História da Cida-de e do Urbanismo, realizado de 9 a 12 de setembro de 2014 na Assembleia Legisla-tiva do Distrito Federal, foi mais um en-contro acadêmico de grande porte levado a cabo com grande sucesso pela Faculda-de de Arquitetura e Urbanismo da Uni-versidade de Brasília. Novamente nossa escola e seus professores estiveram à altura da empreitada, com a competên-cia que vêm demonstrando há décadas, desde os pioneiros Seminários de Dese-nho Urbano nos anos oitenta, passando pelo congresso internacional do Docomo-mo em 2000, até a sequência constituída pelo encontro nacional do Docomomo em 2011, o Pluris em 2012 e o ENCAC/ELA-CAC em 2013.
Antes de discutir como se consti-tuiu esse 13º Seminário, cabe uma nota de tristeza, para lembrar alguns cole-gas que há pouco nos deixaram. Murillo Marx, velho companheiro ainda dos tem-pos de graduação e cúmplice de longas conversas, e Roberto Segre, que conheci bem mais recentemente, para logo se tornar um amigo dileto com cujo apoio contei em diversas ocasiões. Dor profun-da nos deixou Ana Clara Torres Ribeiro, interlocutora privilegiada que tive e de quem somos todos nós órfãos.
Para iniciar uma apresentação do
que representou nosso evento, permito-me uma breve referência às minhas pró-prias memórias. Dos seminários de histó-ria da cidade e do urbanismo participei pela primeira vez em sua segunda edi-ção, em Salvador, em 1993. Quiçá tives-se participado da primeira edição, mas na ocasião nem estava no Brasil. Depois foram participações salteadas, cobrindo quase a metade dos treze seminários re-alizados até hoje. Campinas em 1998, Ni-terói em 2004, São Paulo em 2006 e Por-to Alegre em 2012. O que é significativo para mim – falando mais como arquiteta do que historiadora ou socióloga, e sem desprezar a contribuição dos encontros da Anpur – está na constatação de que, finalmente, a partir de 1990 nossa área de estudos urbanos passou a contar com um evento de cunho eminentemente acadêmico, um evento que não teve vida efêmera, perdurando já por um quarto de século. E por tal fato devemos agradecer a seus proponentes originais, a Ana Fer-nandes e o Marco Aurélio Gomes.
Por outro lado, avaliar esses semi-nários já se tornou uma tradição: afinal, historiadores, por ofício, gostam de his-toriar. Além da Ana e do Marco, estou na insigne companhia de Maria Stella Bres-ciani, Milton Santos, Eloisa Petti, Mar-gareth Pereira, Beatriz Piccolotto, Sarah
135 COMUNICAÇÕES 28 MESAS40 PÔSTERES
Sylvia Ficher

2/201426
ARQUI
Feldman, entre outros. Todos estes estu-diosos nos contemplaram com panora-mas temporais amplos sobre temáticas, enfoques e metodologias.
Na edição de Brasília, tivemos uma brilhante conferência de Carlos Sambri-cio, três mesas-redondas sobre as escalas do Cotidiano, das Representações e do Território, e reuniões de cinco grupos de pesquisa. Como cerne, foram 135 comu-nicações apresentadas em 28 mesas, e 40 pôsteres. Numerologia que confirma a tendência, há muito constatada, do cres-cente engajamento de pesquisadores no campo disciplinar da história urbana.
Como memória e registro desse 13º Seminário, os textos dos conferencistas convidados foram reunidos em um livro. Quanto às comunicações, além de sua di-vulgação por meio do Caderno de Resu-mos e dos Anais online, a Comissão Cien-tífica selecionou aquelas que considerou as mais significativas, publicadas em número especial da Paranoá, revista do Programa de Pós-Graduação da FAU-UnB.
TemáticasFocando agora nesse conjunto de
135 trabalhos e 40 pôsteres, acredito que as quatro temáticas, ou melhor, as quatro escalas propostas foram extremamente felizes por serem, ao mesmo tempo, espe-cíficas e abrangentes. Vejamos como se deu a participação em cada uma delas.
TerritórioConforme esclarece o programa do
Seminário, a primeira escala, aquela do Território, aborda aspectos referentes à “apropriação de espaços para estabele-cer efetivo domínio, mas também pode se referenciar numa construção simbólica, expressiva de um determinado imagi-nário temporalmente localizado”. Como era de se esperar, dadas a participação predominante de arquitetos e a tradição de estudos na área, os trabalhos aqui en-quadrados foram em maior número, da ordem de 40%.
As 56 comunicações, apresentadas em doze mesas, trataram de assuntos que
vão da formação do território nacional à habitação popular, passando pela dimen-são ambiental, em especial pela questão das águas urbanas; pela economia e pela urbanização; pela morfologia; pelos flu-xos e dinâmicas urbanas; e pelas ques-tões patrimoniais. O mesmo se verifica nos pôsteres, dos quais quase a metade se inclui nessa temática.
A presença dominante foi aquela de comunicações sobre a formação do território nacional nos períodos colonial e imperial. Essas investigações exigem levantamentos mais dificultosos em ar-quivos históricos e acervos iconográfi-cos dispersos, o que indica a ampliação dos estudos pós-graduados em nível de doutorado, possibilitando pesquisas mais alongadas e com recursos financei-ros mais avantajados. Mas também vem sendo incentivadas pela disponibilidade cada vez maior de material documental na internet.
Discurso profissionalObjeto de interesse mais recente,
em parte pelo enfoque crescente na her-menêutica do métier do urbanista e pela maior facilidade de acesso a suas fontes, o Discurso Profissional – pelo programa entendido como “todo tipo de produção de conhecimento, seja ele analítico ou pro-positivo, na forma de textos, projetos ou planos” – foi a escala seguinte em termos quantitativos, representada em um quar-to dos trabalhos.
As 34 comunicações foram expos-tas em sete mesas, abarcando teorias e conceitos; tendências historiográficas; ensino de urbanismo; legislações e proje-tos urbanísticos; teoria, prática e história do planejamento no Brasil, além de ques-tões referentes novamente à habitação popular e ao patrimônio. Nos pôsteres, sua presença foi ainda mais marcante, sendo o Discurso Profissional objeto de cerca de um terço do conjunto.
Significativamente, tendo por obje-to o “discurso”, alguns trabalhos apoia-ram-se em um caráter discursivo, ex-pondo posições e entendimentos; mesmo
assim, predominaram os estudos de caso. Oportuna foi a ocasião para uma revisão histórica das raízes do planejamento ur-bano no Brasil na década de 1970.
RepresentaçõesEm certo sentido, a escala das Re-
presentações – pelo programa do Seminá-rio referindo-se a “iconografia, literatura, cartografia, rituais, patrimônio histórico, e mais quaisquer objetos que possam ser analisados sob sua ótica” – teve uma pre-sença menor que a esperada, se se con-sideram, mais uma vez, o predomínio de arquitetos e sua facilidade de ofício no trato de material visual.
Pouco mais de 20% dos trabalhos aceitos, as trinta comunicações dedica-das a essa temática foram apresentadas em seis mesas e versaram sobre os usos do espaço urbano; sua morfologia e pai-sagem; a presença da cidade na literatu-ra e nas artes; e, insistindo, também as questões patrimoniais. Percentual se-melhante caracterizou sua presença nos pôsteres.
Desenhos e gravuras, mapas e plan-tas, maquetes materiais ou virtuais são objetos correntes no cotidiano dos arqui-tetos, contudo foram pouco abordados nas comunicações, indicando um potencial a ser explorado mais sistematicamente. Por outro lado, se quantitativamente pou-co representativa, as Representações fo-ram abordadas sob grande variedade de aspectos, o que igualmente recomenda seu potencial.
CotidianoPor fim, comunicações sobre temáti-
cas do Cotidiano – proposto no Seminário
TERRITÓRIO56 COMUNICAÇÕES 12 MESAS
DISCURSO PROFISSIONAL34 COMUNICAÇÕES 7 MESAS
COTIDIANO15 COMUNICAÇÕES 3 MESAS

27
como enfocando a “perspectiva de quem vivencia o espaço citadino, suas memó-rias e vivências, de modo a se perceber a cidade numa escala diferente daquela do especialista” – foram em número bem menor, agora confirmando as expectati-vas, uma vez que mais afeitas à sociolo-gia e à antropologia.
Os quinze trabalhos, expostos em apenas três mesas, trataram a cidade do ponto de vista filosófico e político, e de seus bairros e logradouros. No caso dos pôsteres, a presença da escala do Cotidia-no foi ainda mais reduzida, não passan-do de dois ou três exemplos.
Apesar de permitir uma grande variedade de abordagens e de possibi-litar incontáveis estudos de caso, essa escala foi pouco explorada, indicando uma potencialidade a ser incentivada. Mesmo assim, curiosamente, certos as-suntos mais limitados continuam na moda, como ocorre com o situacionismo, demonstrando mais uma vez a força e a sedução da palavra escrita.
Comentários finaisApós percorrer a extensa contri-
buição deste 13º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, duas proble-máticas me parecem merecer especial referência. Uma algo otimista, sobre o patrimônio histórico, e outra, pelo oposto, pessimista, quanto à habitação social.
Evidentemente, as questões pa-
trimoniais estão em alta, em especial aquelas referentes à dimensão urbana do patrimônio – a despeito da pouca re-levância dada à indústria do turismo no Brasil, oportunidade mais uma vez per-dida, como bem se pode observar com a Copa do Mundo. Por um lado, tal fato é um bom indicador de felizes mudanças para-digmáticas, como a superação, ainda que tardia entre nós, da renovação urbana pela requalificação urbana e a mudança de foco das obras de arquitetura, das edi-ficações propriamente, para seu contex-to espacial. Por outro, reflete as próprias demandas do mercado de trabalho profis-sional, agora que os órgãos públicos de preservação têm atuação bem mais valo-rizada e participam mais ativamente dos processos de planejamento urbano. Nesta perspectiva a preservação, tanto arquite-tônica como urbana, começa a constituir um campo autônomo, contando com ins-tâncias de formação especializada e mes-mo fóruns próprios de debate, como é o caso do Arquimemória e do Arquitetura e Documentação.
Por sua vez, não é surpreendente que a habitação, tradicional presença nas pesquisas da área, tenha tido uma boa representação nas comunicações. O que causa apreensão, isto sim, é o pro-gressivo descompasso que se verifica entre a esfera acadêmica, a atuação pro-fissional e as instâncias de governo. Por boa parte do século passado, a habitação,
em especial a habitação de cunho social, ocupou papel de destaque na pauta de ar-quitetos e urbanistas, seja em sua refle-xão conceitual, seja na aplicação prática. Prioridade nas políticas públicas desde a República Velha, teve especial relevo durante o período da ditadura militar, em virtude da ação do BNH. Contudo, restaurado o regime democrático, para-doxalmente as ações governamentais nessa área prescindiram e cada vez mais prescindem da contribuição altamente qualificada de arquitetos e urbanistas. Trinta anos de tal falta de apreço, de tal desmazelo e negligência – apesar dos rompantes populistas com que o assun-to tem sido tratado –, e as consequências maléficas para as cidades brasileiras são evidentes para todos.
Mais uma vez, parabéns àqueles que se empenharam na construção e su-cesso deste 13º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. E até o próximo, a realizar-se no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP-São Carlos.
fotografias do evento por Proforme Photo
Cadernos de resumos e programação do XIII SHCU.
Organização : Elane Ribeiro Peixoto, Maria Fernanda Derntl, Pedro Paulo Palazzo e
Ricardo Trevisan. Programação visual: Gabriela Bilá |
GRUPO arquitetura etc. fotografia por Marilia Alves
T


FAU IMPRESSA +

2/201430
ARQUI

31
FAU LANÇA REVISTA ACADÊMICAÁdila Tavares - Secretaria de Comunicação da UnB
publicação original do site da UnB
A Faculdade de Arquitetura e Ur-banismo (FAU) lançou nesta quarta-feira (22) [de outubro de 2014] a revista ARQUI. O evento ocorreu no recém-inaugurado auditório da faculdade. O periódico reúne projetos desenvolvidos na área e divulga os trabalhos finais de curso que mais se destacaram nas bancas avaliativas do úl-timo semestre letivo.
A publicação terá periodicidade se-mestral e pode ser acessada em formato impresso ou virtualmente.
A revista ARQUI nasce com edição de número 2, em referência ao primeiro periódico da faculdade, publicado há quin-ze anos, em uma única edição. “Pensamos em homenagear a revista anterior e criar esta linha na história”, explica o estudante Danilo Fleury, que participou da produção gráfica.
A edição possui 111 páginas divididas em sete seções, nas quais são des-tacados conteúdos comuns ao universo da Arquitetura, como fotos, pesquisas e projetos arquitetônicos. “A revista é muito visual e tem uma força natural e poderosa dos estudantes”, avalia o diretor da FAU, José Manoel Morales Sánchez.
A publicação apresenta também uma homenagem ao fundador da FAU e professor emérito da UnB, João Filgueiras Lima, falecido em 21 de maio deste ano [de 2014].
Idealização: A ARQUI surge com três responsabilidades definidas: “Docu-
PERIÓDICO REÚNE FOTOS, PESQUISAS
E PROJETOS DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E
URBANISMO, ALÉM DE PUBLICAÇÕES QUE
SAÍRAM NA IMPRENSA SOBRE A FACULDADE
fotografia por Marilia Alves
arqui + Didáticos

2/201432
ARQUI
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PUBLICA SÉRIE DE LIVROS DIDÁTICOS
Ádila Tavares - Secretaria de Comunicação da UnBpublicação original do site da UnB
Os professores e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB) ganharam um espaço inédito para divul-gação e consulta acadêmica. A FAU lan-çou nesta semana a Série Didáticos, uma publicação periódica composta por três coleções de livros didáticos, divididas de acordo com a linha dos departamentos da faculdade: Teoria e História, Projeto e Tecnologia.
“A publicação tem como objetivo apresentar resultados de pesquisas e es-tudos em formato acessível aos estudan-tes de graduação e fornecer material de apoio para as disciplinas da faculdade”, aponta a editora executiva da FAU, pro-fessora Maria Fernanda Derntl.
A Série Didáticos é mais uma inicia-
INICIATIVA INÉDITA É COMPOSTA POR TRÊS
COLEÇÕES INTITULADAS: TEORIA E HISTÓRIA,
PROJETO E TECNOLOGIA
mentar a história da FAU, servir de canal para os ex-alunos e de estímulo pedagó-gico aos graduandos”, aponta o diretor da faculdade.
A documentação histórica é realiza-da a partir da compilação e publicação na revista dos textos divulgados na mí-dia sobre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
O canal com o ex-aluno acontece naturalmente, uma vez que a revista, em sua publicação impressa e digital, apro-xima o cotidiano da faculdade dos gra-duados que estudaram na FAU. Para a concretização do objetivo pedagógico do periódico, os professores definiram publi-car na revista os trabalhos de conclusão de curso (TCC) avaliados com a nota má-xima.
“Assim eles servem de estímulo para os novos alunos a partir da compa-ração dos futuros trabalhos com os reali-zados e da expectativa de sair na revis-ta”, explica Sánchez. Para o diretor, isso deve colaborar para a melhoria da quali-dade dos trabalhos acadêmicos.
TAVARES, Ádila. FAU lança revista acadêmica. Dis-ponível em: <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9022>. Acessado em: 21 jan. 2015
T

33
tiva da Editora FAU/UnB, estruturada em 2012. Neste período, houve a produção de diversos trabalhos, como a revista ARQUI; o livro Cidade Rural, do professor Luiz Alberto Gouvêa; o CD Urbanismo no Rio de Janeiro, organizado pelos professores Rodrigo de Farias e Vera F. Rezende; e pu-blicações derivadas do seminário Histó-ria da Cidade e do Urbanismo, organizado pela FAU, neste ano.
Teoria e história: O primeiro volu-me da Série Didáticos foi divulgado na última quarta-feira (22) [de outubro de 2014]. O lançamento ocorreu durante a cerimônia de inauguração do auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-mo. O livro faz parte da coleção Teoria e História.
Intitulada Arquitetura, Estética e
Cidade, a obra possui dez textos escritos por professores do departamento de Teo-ria e História (THA) da FAU. “Temas im-portantes para a formação do arquiteto são analisados em perspectivas que deri-vam das pesquisas originais dos profes-sores”, define Maria Fernanda Derntl. Ela e a professora Elane Ribeiro Peixoto divi-dem a organização desse primeiro livro.
Os livros da editora da FAU-UnB são distribuídos gratuitamente a faculdades de Arquitetura e Urbanismo de universi-dades públicas e aos principais arquivos e bibliotecas do país. Também podem ser encontrados na livraria do Chico, no ICC Norte. A expectativa é de que, no ano que vem, sejam publicados mais dois volu-mes da Série Didáticos.
Danilo Fleury e Luiz Eduardo Sarmento expõem os conceitos das publicações
fotografia por Julia Seabra/UnB Agência
Lançamento da Revista ARQUI da FAUfotografia por Julia Seabra/UnB Agência
TAVARES, Ádila. Faculdade de Arquitetura e Urba-nismo publica série de livros didátivos. Disponível em: <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unba-gencia.php?id=9024>. Acessado em: 21 jan. 2015
T

2/201434
ARQUI
Em comemoração ao Dia do Arquite-to e Urbanista e ao aniversário do mestre Oscar, a Câmara dos Deputados lançou o livro Os palácios originais de Brasília, de autoria do arquiteto Elcio Gomes da Silva. Trata-se do resultado de sua tese de doutorado, em que o autor examinou cuidadosamente os primeiros palácios construídos para a inauguração da nova capital federal na década de 1960.
Motivada pela necessidade de pre-servação do patrimônio, a tarefa teve por base o estudo dos registros de arquitetu-ra e de engenharia estrutural da época para identificar nas obras construídas o conjunto de valores declarados pelos au-tores de projetos.
O livro descreve, ao longo de mais de quatrocentas páginas, o processo de concepção e construção dos Palácios da Alvorada, do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, acompanhados de um rico conjunto de fotografias de maquetes e desenhos ori-
ginais de Oscar Niemeyer e Joaquim Car-dozo, produzidos entre 1956 e 1960, além de desenhos elaborados especialmente para o livro.
Romullo Baratto - ArchDaily Brasilpublicação original do site do ArchDaily Brasil
BARATTO, Romullo. Livro “Os palácios originais de Brasília” disponível online. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/759279/livro-os-palacios-ori-ginais-de-brasilia-disponivel-online>. Acesso em: 21 jan. 2015.
OS PALÁCIOSORIGINAIS DEBRASÍLIA
T

35
No dia 16 de outubro tivemos uma inauguração “fora de época” do novo auditório da FAU. Foi lançado no Brasil – em São Paulo no dia 15 e em Brasília no dia 16 – o livro Urbanismo ecológico organizado e coeditado pelos professores Mohsen Mostafavi e Gareth Doherty da Faculdade de Arquitetura da Paisagem de Harvard University. O evento foi orga-nizado pelos professores Caio Silva, Liza Andrade e José Marcelo (Universidade Federal do Amapá), contou com palestra de abertura de ambos os professores e a presença da Editora Gustavo Gili, que fez a venda exclusiva dos primeiros exem-plares do livro em sua versão portugue-sa. O tema instigante das novas formas de urbanização, levando em conta as dimensões da sustentabilidade, atraiu mais de 150 estudantes, que promoveram um rico debate com os professores convi-dados. Os professores Carolina Pescatori e Daniel Sant’Ana contribuíram com as traduções no evento.
Caio Frederico e Silva
URBANISMOECOLÓGICO
Simpósio Internacional Urbanismo Ecológico em São Paulo, 2014fotografia pela Editora Gustavo Gili
fotografia por Marilia Alves TGuarda do Palácio
fotografia por Marilia Alves


FAUNARUA +

2/201438
ARQUI
Entre os dias 20 e 25 de agosto ocorreu a segunda edição do projeto Pé na Estrada, dessa vez com destino à ci-dade de Curitiba (PR), sob a coordenação dos docentes Caio Silva e Ricardo Trevi-san e organização das discentes Bárbara Gomes e Brenda Pamplona. Cidade re-conhecida dentro e fora do país por seu planejamento urbano e modelo inovador de transporte público, a capital parana-ense foi a escolha para receber os pés de quarenta curiosos estudantes e as contri-
buições imprescindíveis das professoras Gabriela Tenório, Giselle Chalub, Liza An-drade e Mônica Gondim.
O projeto Pé na Estrada, institucio-nalizado pela professora Elane Ribeiro Peixoto em 2010 (SigProj), teve como pa-rada inaugural Goiânia (GO) em dezembro daquele ano. Surgiu com o objetivo de es-timular a reflexão e a discussão sobre Ar-quitetura e Urbanismo a partir da vivên-cia de diferentes localidades brasileiras, contribuindo para a formação de nossos
PÉ NA ESTRADA
PÉS EM CURITIBARicardo Trevisan
Praça de Bolso do Ciclistafotografia por Bárbara Gomes

39
alunos, revelando realidades distintas à do Distrito Federal e, simultaneamente, compartilhando os conhecimentos ad-quiridos por meio de ações in loco ou ex-posição de trabalhos. Como ocorre desde a primeira versão, o Pé na Estrada estru-tura-se em três etapas: (1) Pré-viagem (es-colha do local, organização operacional, criação de roteiro, divulgação, inscrição, seminário com temáticas específicas); (2) Viagem (visitas, palestras com persona-gens locais, ações pontuais, registros e produção de material); e (3) Pós-viagem (sistematização e exposição pública dos produtos obtidos). Para essa jornada, o Pé ganhou logomarca e qualidade operacio-nal, graças ao trabalho árduo de um gru-po de engajados alunos.
Assim, partimos: do Planalto Cen-tral ao Paranaense, dos ipês-amarelos às simbólicas araucárias, do Plano Piloto à acupuntura urbana. As vinte e quatro horas de viagem serviram para integrar o grupo e aproveitarmos das paisagens
urbanas e rurais por quais passamos. Nos quatro dias em Curitiba, o ritmo foi intenso por conta da ampla agenda a cumprir – aos desavisados: o Pé não é uma mera viagem turística, mas aulas de campo intensivas! Caminhando ou valendo-nos do transporte coletivo, pude-mos confrontar a imagem da cidade ide-al, aquela promovida em palestras por órgãos públicos e profissionais (URBS, Jaime Lerner etc.), com a realidade vi-venciada nas ruas (Centro Histórico, Rua das Flores, Rua da Cidadania, Centro Cí-vico, Praça de Bolso do Ciclista, Largo da Ordem), nos parques (Botânico, Tanguá e Tinguá) e nos equipamentos urbanos (Mercado Municipal, Universidade Livre do Meio Ambiente, Ópera de Arame, Mu-seu Oscar Niemeyer). Ao experimentar o real – suas escalas, suas cores, seus chei-ros, suas temperaturas, seu povo e seus costumes, sua cultura etc. –, reavaliamos (positiva ou negativamente) as expecta-tivas geradas a partir de estudos adqui-
ridos em aulas, livros, sítios eletrônicos, vídeos etc. Ao fim, sabemos que cada participante é capaz de não apenas re-petir rótulos como Curitiba sustentável ou Curitiba marketing, mas de atribuir julgamentos e apreciações fundamenta-das sobre a arquitetura, o urbanismo, o planejamento e a urbanidade da capital paranaense.
Diante da importância e eficácia desse instrumento na formação comple-mentar do futuro arquiteto-urbanista e na contribuição pública para conheci-mento de nossas cidades, o projeto Pé na Estrada pode adquirir status de regulari-dade dentre as atividades acadêmicas e de extensão da FAU-UnB. Fato é que sua terceira edição foi lançada, com destino a Minas Gerais, ao colonial de Ouro Preto, à modernidade de Belo Horizonte e à ex-pressividade artística e paisagística de Inhotim. Assim, pessoas, pé na estrada!
Selfie da fofura das professoras no Jardim Botânicofotografia por Bárbara Gomes
Professora Mônica explicando sobre o sistema de transporte inovador de Curitiba
fotografia por Bárbara Gomes
T

2/201440
ARQUI
A metrópole fluminense tem sido pensada para seus habitantes? Foi den-tro desta discussão que se inseriu a via-gem didática “Vivenciando a cidade do Rio de Janeiro”, realizada de 4 a 9 de no-vembro de 2014, propondo-se a consoli-dar os arcabouços teórico-práticos minis-trados nas disciplinas de Projeto Urbano 1 e Projeto Paisagístico 2 pela professora Camila Gomes Sant’Anna.
A interlocução entre as disciplinas se faz fundamental para que os alunos entendam a importância dos espaços livres como nós articuladores de inter-venções urbanas ocorridas ao longo do desenvolvimento das cidades. Foram analisados, em especial, os recentes pro-jetos de mobilidade, de reestruturação de áreas centrais, de reordenamento de assentamentos informais e de expansão urbana no Rio de Janeiro. A escolha da
VIVENCIAR A CIDADE COMO PROPOSTA DE ENSINOCamila Gomes
VIAGEM DIDÁTICA AO RIO DE JANEIRO
capital fluminense se deu por uma con-junção de fatores que enriqueceriam a discussão do espaço urbano: a cidade, de 450 anos, possui marcas acumuladas de vários períodos históricos e remodela-ções urbanas de diferentes épocas, além de viver um momento de expressivas intervenções urbanísticas por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas.
A atividade contou com colabora-ção e acompanhamento do Prof. Mateus Rosada, da FAAL (Faculdade de Adminis-tração e Artes de Limeira), que fez impor-tantes aportes sobre a história da cidade, o patrimônio cultural e as reformas urba-nas que o centro histórico sofreu, além de estimular os alunos a desenhar e a fo-tografar suas impressões sobre a cidade.
Foi definido um itinerário que não só discutisse in situ o objeto estudado, mas também permitisse aos alunos a
construção de um olhar crítico sobre a cidade, sua paisagem, sua dinâmica e sua mobilidade. Essa imersão cultural foi orientada em quatro eixos:
No eixo História, Formação Urbana e Patrimônio Construído foram realiza-dos percursos pelo centro do Rio, expla-nando-se sobre a evolução da cidade, os morros desmontados e aterros realizados sobre o mar. Também se observaram a in-serção e o papel na imagem urbana de edificações coloniais (Convento de San-to Antônio, Paço Imperial, Praça XV de Novembro), neoclássicas/ecléticas (edifí-cios da Cinelândia e da rua Uruguaiana, Real Gabinete, comércio do Saara, CCBB, Casa França-Brasil) e do movimento mo-derno (ABI, Palácio Capanema). No âmbi-to do Urbanismo, foi possível percorrer algumas avenidas do Plano Pereira Pas-sos e as que vieram após o Plano Agache,

41
resultados das várias reformas estrutu-rais pelas quais a cidade passou.
Analisou-se também a Paisagem Carioca, por meio do estudo de passeios públicos, largos, praças e parques do sistema de espaços livres da cidade, ar-ticulando-a com áreas institucionais e ambientais de grande relevância (Barra da Tijuca, Aterro do Flamengo, Parque Guinle e Jardim Botânico).
Dentro da tentativa de compre-ender a inter-relação entre os edifícios institucionais e culturais e as áreas li-vres, insere-se o eixo das Grandes Obras Arquitetônicas, nos quais se observaram os equipamentos de cultura existentes e em implementação, suas características de cunho patrimonial existentes ou não, sua proposta de expografia e sua relação estabelecida com o usuário e da obra ar-quitetônica com o entorno (Cidade das
Artes, MAM, MAR e as obras do MIS e do Museu do Amanhã).
No eixo Intervenções e Projetos Ur-banos, houve a visita e interlocução com o escritório Atelier Metropolitano, do ar-quiteto Jorge Jauregui, especializado em reurbanização de favelas. Ainda dentro desse eixo, procurou-se compreender me-lhor a operação urbana de remodelação da área portuária: os alunos percorreram a região, visitando a sala de exposições do Projeto do Porto Maravilha, o que lhes permitiu compreender a história do local e como ficará o redesenho da área.
Ao final, percebemos que a viagem didática instigou a exploração do ter-ritório fora do ambiente universitário, transformando a cidade em sala de aula, estabelecendo parcerias diversas e enri-quecedoras com empresas privadas, pro-fissionais liberais e territórios de cultu-
ra. Promoveu-se um maior entrosamento entre os alunos e destes com os professo-res, o que enriqueceu a participação no desenvolvimento das disciplinas.
Para as próximas viagens, plane-jam-se parcerias com outras universida-des, de modo a conhecer sua estrutura, seu corpo docente e seu programa de curso. Torna-se interessante também a promoção de um ciclo de palestras com docentes de outras disciplinas para ins-tigar intercâmbios de conhecimento en-tre os diferentes conteúdos do curso.
Por fim, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento a todas as pessoas e instituições que prestaram inestimá-vel apoio, em especial ao Prof. José Ma-noel M. Sanchez e à Profa. Luciana M. B. Schenk (IAU-USP) e aos funcionários Jo-sué, Adriana e Soemes.
Palacio do Catetefotografia por Mateus Rosada
Palacio Capanemafotografia por Mateus Rosada
T

2/201442
ARQUI

43
IMSfotografia por Ana de Abreu Altberg
MAMfotografia por Mateus Rosada
Real Gabinete Português de Leiturafotografia por Mateus Roasada

BRASÍLIA MONUMENTALPOR EDUARDO ROSSETTI
gale
ria
foto
gráf
ica

45

2/201446
ARQUI

47


FAUPESQUISA +

2/201450
ARQUI
diplomação
ENSAIOTEÓRICO

51
rquitetura e Urbanismo são, ao mesmo tempo, arte, estética, te-oria, projeto, técnica, represen-
tação e também texto. Isto é, impressos, a Arquitetura e o Urbanismo por escrito constroem-se em linhas e entrelinhas e ora expressam, manifestam, discutem, debatem, apresentam e divulgam, ora complementam, esclarecem, analisam ou acompanham ideias, conceitos e con-teúdos de maneira bem mais acessível que a obra edificada.A Arquitetura e o Urbanismo, ensaiados por escrito nas páginas que se seguem, revelam a riqueza e a complexidade do campo profissional que definem. Trata-se de Arquitetura e Urbanismo em pala-vras, pausas, pontuação e significados que se edificam a partir de temas esco-lhidos pelos próprios alunos, em momen-to de conclusão da cadeia de disciplinas do departamento de Teoria e História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Entretanto, ao contrário do que se pode imaginar, os temas elencados não se res-tringem à teoria e história da Arquitetu-ra e Urbanismo que, de fato, são apenas o alicerce por meio do qual se desenvol-vem também questões de projeto e tecno-logia.Dos cinquenta e oito trabalhos apresen-tados à disciplina Ensaio Teórico no se-gundo semestre de 2014, quinze foram selecionados para compor esta pequena amostra. Dentro deste universo, notam-se uma preocupação e o interesse cada vez maiores com o espaço urbano. Assim é que, subvertendo a noção geral de que é
o edifício isolado o objeto primordial de atenção do arquiteto urbanista, é a cida-de que em primeiro plano aparece. Uma cidade que se questiona sob o ponto de vista da sustentabilidade, da mobilidade, da acessibilidade, da participação popu-lar, da apropriação dos espaços públicos, das praças e parques e da memória mate-rializada também em edifícios que nela se inserem e da qual fazem parte, indis-sociavelmente.Sintam-se, portanto, convidados por Bianca Rabelo e Nágila Ramos ao desa-fio de comparar, respectivamente, as ci-dades tradicionais de Paris e Budapeste, de um lado, com a cidade modernista de Brasília, do outro, sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Também Juliana Lo-pes Vasconcelos e José Henrique Freitas oferecem à leitura a questão da mobili-dade urbana, cada um à sua maneira. À Juliana interessa mostrar o pedestre, de uma maneira geral e, especificamente, o seu papel dentro do câmpus da Universi-dade de Brasília. A José Henrique impor-ta o ciclista, ou melhor, a possibilidade de metamorfosear ele mesmo, você ou outros em ciclistas, a partir da definição de um manual do ciclista urbano. A cida-de como espaço de vida pública, social-mente justo, democraticamente acessível é a preocupação que baliza o convite às reflexões de Lara Garcia, Camila Abrão, Caroline Nogueira e Diogo Lins. Lara e Camila pensam o espaço público a partir de áreas verdes, de praças e parques em Anápolis, ou da proposição de um mapa de uso do Parque da Cidade, em Brasília,
Ana Elisabete MedeirosCoordenadora de Ensaio Teórico
respectivamente. Caroline toma de em-préstimo a metáfora da cidade post-it, de Giovanni de la Varra, e compara as ocupações dos espaços vazios de Brasí-lia à escrita temporária destes, ou seja, assim como os papéis adesivos e colori-dos marcam páginas e desaparecem sem deixar vestígios, as ocupações pontuam a cidade e também se vão. Diego pensa a reapropriação dos espaços a partir do Co-nic e, especificamente, da Fundação Bra-sileira de Teatro, evocando, do passado, Dulcina de Morais, numa aproximação à questão da memória e da identidade, também exploradas por Ingrid Siqueira e Jéssica Gomes. De fato, tendo por objeto de estudo de caso os museus a céu aberto, Ingrid discute o papel da autenticidade e sua relação com o território. Jéssica, por sua vez, traz à tona o problema da declaração de significância de bens mo-dernistas sem reconhecimento oficial. E ainda: Lucas Parahyba e Regina Miranda oferecem à leitura a cidade a partir do ponto de vista da sustentabilidade; Pedro Ernesto Barbosa enfoca o planejamento urbano participativo a partir do estudo de caso de dois bairros em Salvador, e Stephanie Souza lança um olhar por tri-lhos e casas por meio e em meio ao uni-verso de Tu não te moves de ti, obra de Hilda Hilst.
Assim, saibam que, aonde quer que as páginas que se seguem os levem, vocês não se moverão de si mesmos. Boa via-gem, boa leitura!
A
T

2/201452
ARQUI
Vários estudos de organismos in-ternacionais alertam que nosso modo de vida é insustentável em termos socioe-conômicos e ambientais, considerando uma população de 7,2 bilhões no plane-ta. Nossa principal matriz energética, o petróleo, chegou ao seu pico e sua extra-ção vai ficar cada vez mais difícil e cara, levando ao declínio. É necessária uma mudança radical no estilo de vida dos moradores das cidades, uma vez que, em 2050, 70% da população mundial viverá nos centros urbanos.
Diante desse cenário, alternativas para a construção de um modo vida mais sustentável vêm crescendo, como a per-macultura, criada na década de 1970 na Austrália por David Holmgren e Bill Mollison. Inicialmente aplicada como so-lução para agricultura com um sistema integrado de espécies animais e vegetais perenes, foi ampliada para uma cultura sustentável de planejamento e aperfeiço-amento de esforços realizados por indiví-duos, familiares e comunidades (HOLM-GREN, 2002).
A fim de conseguir subsídios para analisar técnicas ou ações sustentáveis investigou-se sobre a ética da permacul-tura e os princípios de design. No âmbito urbano, analisou-se o movimento “Tran-sition Towns”, iniciado na Inglaterra como uma prática de mobilização para tornar as cidades resilientes, baseada em princípios holísticos da permacultura com foco no planejamento de adaptação das cidades ao declínio do petróleo.
Este trabalho procurou estudar quais princípios da permacultura urba-na e do movimento Transition Towns podem ser identificados no programa de agricultura urbana denominado Incredi-ble Edible da cidade de Todmorden na In-glaterra, já expandido para o mundo todo. Este programa tem como objetivo fortale-cer a comunidade por meio de constru-ção de hortas urbanas na forma de can-teiros e parques da cidade, que servem como propaganda com a função de criar oportunidade de discutir sobre “comida”. Identificou-se que vários aspectos foram estudados e trabalhados, como a ligação com a terra, alimentação saudável, pro-dução local e senso de coletividade. Este programa teve alta aceitação da comu-nidade, o que possibilitou modificações na matriz curricular de colégios locais e criação de selos que autenticam produ-tos locais.
Concluiu-se que o programa respon-de aos princípios permaculturais e o mo-vimento Transition Towns na busca de uma sociedade mais resiliente e susten-tável. Além disso, é um exemplo prático de como a coesão de uma comunidade é essencial para enfrentar crises econômi-cas, sociais e ambientais. Um programa replicável e com características que per-mitem sua implementação em cidades brasileiras.
Permacultura Urbana para Cidades em Transição: avaliando o programa Incredible Edible de Todmorden
Orientador: Liza AndradeBanca: Camila Sant´anna e Giuliana de Brito Sousa
por Lucas Parahyba
T

53
Por trilhos e (c)asas, o fragmentado espaço do canto: tu não te moves de ti, de HH, é um trabalho dedicado a mapear e analisar as imagens poéticas relativas ao espaço na obra Tu não te moves de ti (1980) de Hilda Hilst (1930-2004), tendo por base as propostas de Gaston Bache-lard (1884-1962) em A Poética do Espaço
(1989). Busco, por assim dizer, aproximações entre o espaço da narrativa literária e o espaço vivencial da escritora (A Casa do Sol) na procura da experiência do espaço físico pelo espaço poé-tico (não de maneira refletida, tal como um espelho, mas amal-gamada, retorcida). A poética de Hilst – rica na construção de imagens e símbolos – junta, e essencialmente, com a residência que ela construiu e morou a partir de 1963, A Casa do Sol (ainda que nem sempre reconhecida como um ponto de partida da sua
produção) nos traz reflexões sobre o pró-prio arquétipo de casa proposto por Ba-chelard. Segundo ele, é necessária uma associação sistemática entre o ato da consciência criadora e a imagem poética para apreendermos a fenomenologia da imaginação. A Casa do Sol, como as per-sonagens de Tu não te moves de ti (e o espaço que as envolve), ascende, muda, transcende: como suas personagens, Hil-da nutre carinho pelo canto, pela figuei-ra e pelo céu encerrado no pátio interno. O perder-se pelas imagens, poéticas ou não, é quase simultâneo ao adentrarmos o mundo real, tão onírico, da Casa do Sol. Este universo é capaz de nos transpor-tar a tantos outros, inclusive o envolvido pelo mantra: tu não te moves de ti. O mo-vimento é espectro da casa. Bachelard, ao colocar a poesia como fenomenologia da alma, dá espaço para irmos além da imagem poética, além da própria casa, além da própria alma – o que faz dos con-flitos das personagens na obra estudada material de extrema importância para absorver e recriar os universos espa-ciais que as contêm. A casa, ainda que por vezes esparsa e confundida a outros elementos, é muito presente e essencial, segundo Bachelard, para a representação da experiência humana. Busco relacio-nar (no sentido de pôr em relação) a poe-sia da autora com a experiência humana – infinita e inexplicável, embora sempre provocativa, instigante e sedutora (como os textos de Hilda; como a própria Hilda; como a própria vida).
Por trilhos e (c)asas, o fragmentado espaço do canto: tu não te moves de ti, de HH
Orientador: Elane Ribeiro PeixotoBanca: Alexandre Pilati e Miguel Gally
por Stephanie Souza
...SE ÉS POETA, ENTENDES. CASA É ILHA.
E O TEU AMOR É SEMPRE TRAVESSIA.
(HILDA HILST)
Longo ao tempoFoto da autora
T

2/201454
ARQUI
A arquitetura como objeto de museu:O caso dos museus a céu a abertopor Ingrid Siqueira
Processo de enumeração das partes do edifício, a fim de ser transportado para o museu

55
A ARQUITETURA COMO OBJETO DE MUSEU
O CASO DOS MUSEUS A CÉU ABERTO
Banca composta por Maria Cecília Gabriele e Eduardo Pierrotti RossettiFonte: Imagem retirada do site < eyeonwales.wordpress.com>. Acessado dia 18/11/2014.
Ensaio Teórico | Autoria de Ingrid Siqueira | Orientação de Ana Elisabete Medeiros
Este ensaio faz um breve apanhado
no histórico da museologia, mostrando
como a arquitetura torna-se um objeto
museal, com foco principal no museu a
céu aberto. Tal tipo de museu desloca a
arquitetura de seu contexto original através,
geralmente, do processo de anastilose,
ou seja, recompõe partes existentes de
edifícios dentro do museu. Assim, o Ensaio
tem como principal questionamento se
tais prédios deslocados para dentro do
museu põe, ou não, em risco a ideia de
autenticidade estabelecida no campo do
patrimônio histórico? E, até que ponto a
relação da arquitetura deslocada com a
autenticidade realmente importa? Busca-se
compreender a noção e a relação entre
território e a arquitetura como objeto de
museu, além de seu papel formador de
identidade.
Dia 28/11/2014 às 16:00 Auditório da FAU - UnB
No desenvolvimento da Museologia ao longo dos séculos, passa-se a questio-nar os princípios dos museus tradicio-nais e a incitar a necessidade de estes se tornarem objetos mais próximos da sociedade. Assim, o museu passa por inúmeras transformações, que levam ao surgimento de tipos diversos de museus, em que dois serão, em diferentes medi-das, tratados neste trabalho. Ambos apre-sentam a arquitetura como objeto museal e inovam na maneira de interagir com o público.
O museu a céu aberto surge no final do século XIX, como uma forma de resgatar a cultura vernácula dos países e passá-la a outras gerações. Além de objetos que representavam a cultura da população, passou-se a deslocar edifícios históricos inteiros para dentro do museu, expondo-se um ambiente reconstruído da história. O ecomuseu entra na discussão porque trata de forma diferenciada a relação da arquitetura com o território, uma vez que esta não é deslocada de sua localização original. Além de objetos, cos-tumes e a arquitetura, o próprio território
circundante é também artefato museoló-gico.
Questiona-se, assim, se o con-ceito de museu a céu aberto põe ou não em risco a ideia de autenticidade estabe-lecida no campo do patrimônio histórico. E até que ponto a noção da arquitetura deslocada com a autenticidade realmen-te importa. Introduz-se a noção de au-tenticidade, uma vez que o processo de deslocamento do edifício da sua localiza-ção original para o museu a céu aberto consiste, geralmente, no procedimento caracterizado pela anastilose, ou seja, desmonte e identificação das partes do edifício e em seguida a reconstrução. Tal método é bastante questionado por inú-meros teóricos no campo do patrimônio histórico.
Tal pergunta é respondida por meio da análise do estudo de caso, o mu-seu St. Fagans, localizado no sul do País de Gales, e também de um processo es-pecífico de deslocamento de um dos edi-fícios do museu. Apesar dos questiona-mentos, este museu é bastante popular não só no país, mas em toda a Europa.
Por meio da reconstrução de edifícios de variados locais e de diferentes épocas, consegue-se reafirmar o sentimento de pertença de toda a população. Esses edi-fícios, sozinhos e espalhados em diferen-tes localidades, não teriam acesso a um público tão extenso. O ecomuseu, por sua vez, reforça o sentimento de pertença de uma população específica, já que ape-nas tal comunidade e seus edifícios se tornam museu. Assim, a autenticidade é quebrada no sentido da localização no museu a céu aberto, mas entende-se que se faz um sacrifício em prol da cultura, uma vez que um maior número de pesso-as tem acesso à história de seu país.
Orientador: Ana Elisabete MedeirosBanca: Maria Cecília Gabriele e Eduardo Pierrotti Rossetti
Fonte: Imagem retirada do site < eyeonwales.wordpress.com>. Acessado dia 18/11/2014.
T

2/201456
ARQUI
“Habitar”, lembrando Heidegger, significa “nosso modo de estar no mun-do”, constituindo-se, antes de tudo, num modo de relacionamento com o outro, com o lugar, com a cultura.
Na construção das cidades, esse habitar tem sido marcado por variadas formas de interação com as águas: de aproximação, no passado, ao afastamen-to, no presente, seja pela fragmentação da cidade, pelo modo produtivo do con-sumo e descarte de recursos, pela crença na tecnologia como solução para todos os problemas, numa visão de dominação e controle da natureza, com impactos na qualidade de vida da cidade e bem estar das pessoas. (CORNELL, 1998; HERZOG; 2013; LOTUFO, 2011)
Novas formas de habitar se tornam possíveis quando se leva em considera-ção os fluxos de água e o desenho urbano sensível à água, aliando tecnologia verde às variadas necessidades e desejos das pessoas e comunidades. O ciclo da água, como parte integrante dos processos e fluxos da natureza e da cidade, é influen-ciado pelos fatores climáticos, pelas ati-
vidades humanas e pela forma urbana, configurando importante indicador da qualidade de vida que a cidade oferece aos seus cidadãos. (ANDRADE, 2014; DE HAAN ET AL, 2012; GORSKI, 2010)
Tendo como base a Teoria das ne-cessidades humanas de Alderfer (1969) E.R.G. (Existence, Relatedness, Growth), De Haan et al (2011) sugere uma cone-xão entre habitabilidade e água urbana, a partir de três categorias de necessida-des sociais: Existência (física e material); Relacionamento (interação entre as pes-soas, e destas com seu ambiente); e Cres-cimento (autoestima e realização social). Estas categorias auxiliam na promoção da qualidade dos espaços da cidade como um instrumento orientador do planeja-mento urbano nas escalas da cidade, da rua e do edifício.
Este trabalho teve como objetivo investigar se o programa australiano De-senho Urbano Sensível à Água (WSUD), com foco na cidade de Melbourne, tem conseguido aplicar as categorias de ne-cessidades sociais, além dos ganhos am-bientais nas soluções inovadoras.
HABITABILIDADE E CIDADES SENSÍVEIS À ÁGUA:Uma avaliação dos espaços públicos em Melbourne
Orientador: Liza Andrade Banca: Camila Sant’Anna e Daniel Sant’Anna
por Regina C. Ribeiro Miranda
T

57
maior sintonia com a ideia de “direito a cidade” levantada por Lefebvre (1991). Essa entrada das pessoas na luta pela democratização do planejamento e ges-tão urbanos deve estar atenta a não re-produção das relações heterônomas atra-vés da garantia da autonomia coletiva das populações.
O foco na autonomia segundo Souza (2010) permite que a cidade seja de fato uma construção coletiva na qual as pes-soas estão atentas aos problemas, pro-põem soluções coletivas e respeitam as diferenças. Dessa forma, a participação popular na construção do espaço urbano surge como uma forma de efetivar esse conceito, sendo necessário que planeja-dores e gestores saibam aplicar metodo-logias e técnicas que de fato consigam dar voz à população.
Para buscar um maior entendimen-to das técnicas de participação comuni-tária foi feito um estudo dos planos par-ticipativos dos bairros de Saramandaia e Dois de Julho em Salvador. A estes foi aplicada uma matriz que quantificava a aplicação de técnicas com base em
um levantamento de 57 modalidades apresentadas pelo relatório português 41/2013 DED/NAU (Participação da Comu-nidade em Processos de Desenho Urbano e de Urbanismo).
O estudo dos modos de participar na construção da cidade mostra que o cami-nho para que a população seja ouvida é longo e trabalhoso. Nesse sentido, as uni-versidades devem estar mais envolvidas no processo de formação de profissionais reflexivos e responsáveis e, por outro lado, os governos devem aumentar os ca-nais de participação. “Participar é mais” quando todos podem ter voz ativa, inde-pendente das diferenças de cor de pele, gênero, idade, crença religiosa e política.
PARTICIPAR É MAIS:um estudo sobre planejamento urbano participativo e autonomia nos planos de bairro da saramandaia e dois de julho em salvador
Orientador: Liza AndradeBanca: Benny Schvarsberg e Carolina Pescatori Candido da Silva
por Pedro Ernesto Chaves Barbosa
As transformações nas cidades ao longo dos anos, tanto no Brasil como no resto do mundo, têm mostrado uma acen-tuada predominância da heteronomia. Em outras palavras, técnicos, políticos e empresários/empresas controlam a vida das pessoas e o lugar onde elas moram sem que as mesmas possam manifestar suas intenções, desejos e expectativas.
Com base em teóricos como Kapp et al. (2012), Lefebvre (1991), Vainer (2000) e Leite (2007) dividiu-se essa atuação no espaço urbano em quatro modelos: i) da tecnocracia; ii) da manutenção da ordem; iii) da terra que vale ouro e iv) da gestão empresarial. Esses modos de fazer a cida-de não acontecem de forma isolada, são simultâneos e podem ser ilustrados com exemplos que vão desde Pereira Passos no Rio de Janeiro e Haussmann em Pa-ris, até às Operações Urbanas Consorcia-das (OUC) que se alastram por todo o país.
O estudo sobre os movimentos so-ciais urbanos mostra que em contrapon-to às “reformas urbanas” heterônomas, há uma necessidade de ressignificar os modos de fazer a cidade buscando uma
T

2/201458
ARQUI
As Praças e Parques de Anápolis: Discussões sobre seus efeitos na vida pública da cidade nos últimos 8 anospor Lara Garcia
Parque Ipiranga. Autor desconhecido. Fonte: Acervo do Museu Histórico de Anápolis

59
Os espaços públicos são elementos estruturantes da cidade e importantes na construção do espaço democrático, pois são essencialmente todos os lugares a que qualquer um pode ter acesso, nos quais todas as pessoas têm o direito de permanecer e são livres para se manifes-tar e se expressar (TENORIO, 2012). Esse ensaio enfoca as áreas de praças e par-ques públicos, lugares que, por definição, oferecem ou deveriam oferecer ativida-des, atrativos e elementos convidativos para as pessoas estarem ao ar livre, para permanecerem e, mais do que isso, demo-rar-se. Áreas imprescindíveis para o uso contemporâneo dos espaços públicos.
Anápolis, sítio do estudo, é uma ci-dade brasileira de médio porte. Distante e desconhecida pelos mais importantes pensadores da urbanidade. Apesar de longe, localizada no interior do Brasil e
escondida pelos troncos contorcidos do cerrado, a cidade tem passado por fortes intervenções nos seus espaços públicos de convivência. Desde 2009, cerca de cinquenta praças e parques foram revi-talizados ou construídos. Questiona-se então: O modo de produção recente das praças e parques de Anápolis tem promo-vido a vida pública e a justiça social?
A estrutura metodológica adotada para responder a esse questionamento tentou conciliar conhecimentos teóricos e observação empírica como forma de documentar e analisar os fatos presen-tes. Para isso, primeiramente, fez-se um embasamento teórico discorrendo sobre pensadores da urbanidade, como Jane Jacobs, Jan Gehl e William Whyte, es-tabelecendo-se assim os princípios de investigação. A análise em si é dividida em duas partes, o discurso da cidade e
Orientador: Gabriela TenorioBanca: Leandro de Sousa Cruz e Monica Gondim
o estudo macro. A primeira parte é com-posta por uma leitura comparativa dos dois últimos Planos Diretores de Anápo-lis, 1992 e 2006. A segunda parte é uma análise panorâmica do desempenho da expansão das áreas de praças e parques, a partir de parâmetros investigativos como o aumento de oferta, a democrática distribuição territorial e a diversidade de atividades oferecidas. Por último, foram divulgados resultados da pesquisa de uso e percepção realizada com 210 habi-tantes de Anápolis, expressando assim costumes, opiniões e demandas da popu-lação sobre essas áreas. T

2/201460
ARQUI
Orientador: Benny SchvarsbergBanca: Mônica Gondim e Gabriela Tenorio
MOBILIDADE URBANA:CIDADE MODERNA VS CIDADE TRADICIONAL, OS CASOS DE BRASÍLIA E BUDAPESTEpor Nágila Ramos
São vários os aspectos que deter-minam os deslocamentos das pessoas nas cidades: físicos, econômicos, sociais, culturais e outros. Porém, a configuração física e a distribuição das atividades no espaço urbano têm papel fundamental.
Objetivando compreender como a configuração urbana influencia ou con-diciona a mobilidade e a acessibilidade na cidade, foi desenvolvido um estudo em duas etapas: revisão da literatura so-bre o tema e comparação entre a cidade moderna e a tradicional, através de dois estudos de caso, Brasília e Budapeste. Ambas são capitais nacionais, cercadas por áreas metropolitanas com cerca de 3,5 milhões de habitantes. À parte essas semelhanças, possuem estruturas urba-nas, contextos social, cultural, histórico e de meio ambiente natural bastante dis-tintos. Todavia, essa comparação pôde exemplificar como diferentes configura-ções urbanas geram padrões de mobili-dade diversos.
Foram analisadas informações (compiladas e representadas em mapas, tabelas e gráficos) relativas ao desenho urbano (através da sintaxe espacial), densidades, distribuição de usos, redes de transporte público (focando em sua distribuição e cobertura espacial) e da-dos estatísticos (repartição modal, taxa de motorização e evolução do uso de veí-culos privados).
Constatou-se que ambas as cidades apresentam dificuldades à mobilidade. Contudo, a configuração de Budapeste (malha viária mais integrada e compac-ta, diversidade de usos, centro mais den-so e acessível) propicia melhores con-dições de mobilidade e acessibilidade urbana do que a configuração de Brasí-lia, que decorre direta ou indiretamente do seu desenho moderno (separação de usos, baixas densidades, malha viária mais labiríntica, muito espaço para ve-ículos, longas distâncias entre os diver-sos bairros e entre funções diversas). Ou
seja, o que a literatura consultada propõe foi confirmado com os estudos de caso: mais uso misto, densidades urbanas mais altas e menores distâncias entre as atividades implicam menor necessi-dade de transporte motorizado, incentivo ao pedestre e ao ciclista, e, além disso, o transporte público pode ser mais bem distribuído, mais rápido e custar menos.
Concluiu-se que as metrópoles têm um desafio: o planejamento permanente e integrado entre os sistemas de mobili-dade/transporte e de uso e ocupação do solo, que busque costurar os diversos te-cidos que compõem a malha urbana, pro-movendo melhores distribuições da ocu-pação urbana e conexões de seus usos no território. Dessa forma, é possível atingir níveis mais altos de sustentabilidade em relação à mobilidade urbana. T

61
Dulcina de Moraes nasceu em 1908, no Rio de Janeiro. É considerada a primeira dama do teatro brasileiro, por sua importância na luta pelo reconheci-mento do Teatro como profissão e pela institucionalização do ensino dessa arte.
No final da década 1960, motivada pela construção da nova capital, Dul-cina decide construir, em Brasília, a Fundação Brasileira de Teatro (FBT), no Setor de Diversões Sul, o CONIC. A FBT é a mantenedora da Faculdade Dulcina de Moraes (FADM), tendo sido inaugura-
DULCINA E BRASÍLIA por Diogo Lins
da em 21 de abril de 1980, com projeto inicial de Oscar Niemeyer. É a primeira faculdade de Teatro do país.
Em 7 de dezembro de 2007, o Teatro da FADM e todo o acervo da atriz foram reconhecidos pelo governo como Patri-mônio Cultural do DF. A urgência atual é assegurar a preservação desse patri-mônio. A situação da FBT é crítica. A fundação mantém a faculdade, o teatro e o acervo, e corre risco de falência, pelas dívidas herdadas ainda do período da construção.
A FBT E O CONICÉ impossível contar a história do
Dulcina sem contar a do CONIC, que é visto por muitos como uma mácula na paisagem urbana da capital, por conta do período em que foi uma região marcada pelo tráfico de drogas, crime e prostitui-ção. “É um caso raro de edifício tomba-do que de tempos em tempos cogita-se que seja demolido” (NUNES, 2009). O que ocorre é que, embora o CONIC seja um exemplar arquitetônico muito próprio de Brasília, é o único local em que a cida-de se parece com qualquer outra, onde a cultura é acessível a tribos de realidades completamente diferentes.
Recentemente, motivados a tornar Brasília uma cidade viva, diversos gru-pos independentes vêm criando eventos que estimulam a população a ocupar o espaço público. São eventos de cunhos diversos: culturais, comerciais, festivos, e acontecem em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura, provando que mais importante que o espaço é a ativi-dade. Nunes acredita que esses jovens, que não têm mais os antigos preconcei-tos das gerações anteriores, salvarão o CONIC. A FBT é muito compatível com esses movimentos, e talvez agora seja um momento oportuno para ela própria estimular esse tipo de uso naquele espa-ço, e beneficiar-se disso. A memória de Dulcina agradece.
Dulcina de Moraes nos anos 30. Foto Acervo de Sérgio Viotti, retirada do livro Dulcina e o Teatro de Seu Tempo
Orientador: Reinaldo Guedes MachadoBanca: Eliel da Silva e Marcia Troncoso
T

2/201462
ARQUI
Acessibilidade e mobilidade urbana são assuntos atuais e cada vez mais dis-cutidos no contexto das cidades. O exces-so de carros e a má qualidade do trans-porte público coletivo configuram um problema atual em Brasília e em grande parte das cidades brasileiras. Em todo o mundo, as cidades vêm se renovando e tomando medidas para reduzir o tráfego de automóveis. Com o plano de mobili-dade de 1998, Paris adotou medidas que, em um período de dez anos, contribuíram para uma redução de 24% do uso de auto-móvel e um aumento de 30% das viagens de trem, 18% das de metrô e 10% do uso de ônibus.
O Ensaio Teórico teve como objetivo a análise da mobilidade urbana em Paris e em Brasília a fim de responder à se-guinte questão: Após meio século desde a sua inauguração, a cidade modernista planejada para o automóvel realmente alcançou seus objetivos de transformar os espaços da cidade em expressões má-ximas do conforto e da fluidez de pesso-as e bens quando comparada à cidade de origem medieval?
Para tanto, definiu-se o conceito de mobilidade urbana, abordando os meios de transporte, suas transformações ao longo da história, problemas e desafios da mobilidade no contexto atual das ci-dades.
Para melhor compreender os perí-metros estudados, o Plano Piloto de Bra-sília e os 20 arrondissements de Paris, foi feito um estudo dos seus históricos.
Brasília, cujo plano urbanístico de Lu-cio Costa buscou refletir a política im-plementada pelo presidente JK, é uma cidade modernista com um sistema de mobilidade pensado e voltado quase que exclusivamente para o automóvel. Já Pa-ris, cidade centenária de origem romana e objeto de inúmeras expansões e refor-mas ao longo dos anos, foi abordada a partir da reforma do século XIX condu-zida por Napoleão III e o prefeito Hauss-mann, que fez desaparecer a imagem da cidade antiga e insalubre, facilitando a circulação a partir dos novos eixos e va-lorizando os monumentos.
No estudo de casos, os dados de mo-bilidade nas duas capitais foram anali-sados e comparados nos subcapítulos “As cidades e o ciclista”’, “As cidades e o transporte coletivo”, “As cidades e o auto-móvel” e “As cidades e o pedestre”.
Com os dados obtidos, concluiu-se que o objetivo do urbanismo modernista de otimizar a fluidez e a velocidade na cidade não se cumpriu. A capital apre-senta grandes problemas de mobilidade, que se intensificam em virtude do seu transporte público ineficiente e do nú-mero cada vez maior de automóveis par-ticulares. Problemas que não acontecem somente por ter sido planejada segundo a prática rodoviarista, mas sim por uma questão de gestão pública.
Orientador: Ana Elisabete MedeirosBanca: Mônica Gondim e Giselle Chalub
mobilidade urbana: Os Casos de Paris e de Brasíliapor Bianca Rabelo
T

63
Imagem produzida pela autora

2/201464
ARQUI
Partindo da premissa do sociólogo Anthony Giddens de que a sociedade contemporânea está vivendo um mo-mento de alta modernidade marcado pela efemeridade do “novo” e pela velocidade das comunicações interpessoais, é pos-sível concluir que os espaços urbanos estão passando por mais um período de mudança ocupacional. Estas transfor-mações geram novas demandas sociais, e a forma como elas interagem entre si, ocupando, além de um espaço físico, um espaço virtual, influencia todo o espaço urbano.
O arquiteto italiano Giovanni de la Varra foi o primeiro a utilizar o termo Post-it City, metáfora que compara o com-portamento da cidade contemporânea aos blocos adesivos usados para anotar recados. A Post-it City seria a rede frag-mentada e temporária de estruturas fun-cionais que ocupam os espaços públicos vazios do tecido urbano e promovem a escrita temporária deles. Esses modos temporais de ocupação do espaço público
agem como um dispositivo de funciona-mento da cidade contemporânea ligado às dinâmicas da vida coletiva fora dos canais convencionais. Revelando a habi-lidade de reconquistar o espaço público a partir de uma vontade da população, o post-it se torna um sensor da qualidade urbana latente de um espaço aberto a di-nâmicas que garantem a diversidade de ideias e pessoas. Dadas a espontaneida-de e a informalidade com que se dissemi-nam no espaço, La Varra considera essas ocupações como formas de resistência à normatização dos padrões de comporta-mento público e ao consumismo da cida-de.
Considerando apropriações ocor-ridas em Brasília, projetada com base nas ideias do urbanismo moderno, onde a estrutura das ruas é completamente mo-dificada, a análise de Transformando o lugar: a (re)descoberta dos espaços públi-cos brasilienses contrapõe estas ideias a opostas como as da americana Jane Jaco-bs, que acreditava que esta nova organi-zação resultaria em uma cidade sem pes-soas nas ruas, mantendo-as em parques sem muitas possibilidades de mudança. Entretanto, considerando a cidade como um organismo dinâmico, essas novas apropriações post-it dos espaços públi-cos brasilienses se contrapõem também à de Jacobs e podem ser uma resposta tanto às demandas criadas pelo projeto urbanístico de Brasília quanto às novas demandas contemporâneas.
Transformando o lugar: a (re)descoberta dos espaços públicos brasilienses
Orientador: Luciana Saboia Fonseca CruzBanca: Ana Elisabete Medeiros e Miguel Gally
por Caroline Nogueira
COMO UM TEXTO CHEIO DE POST-IT, A CIDADE CONTEMPORÂNEA ESTÁ OCUPADA
TEMPORARIAMENTE POR COMPORTAMENTOS QUE NÃO DEIXAM RASTRO – COMO
TAMPOUCO O DEIXAM OS POST-IT NOS LIVROS – QUE APARECEM E DESAPARECEM
DE MODO RECORRENTE, QUE TÊM SUAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO E DE ATRAÇÃO, MAS QUE CADA VEZ SÃO MAIS DIFÍCEIS DE
IGNORAR. (LA VARRA)
T

65
Ao traçar o perfil evolutivo da his-tória dos parques urbanos no mundo, per-cebe-se que sua evolução está atrelada ao desenvolvimento da sociedade com suas transformações e renovações, e também ao crescimento rápido das cidades com seus problemas dele advindos.
Assim, ponderar qualidade de vida requer pensar em estratégias de prote-ção e preservação de espaços potenciais, para conservação de suas características em busca de um aperfeiçoamento.
Foi nesse contexto que surgiu a ideia da criação de um Parque Recreativo em Brasília, mais tarde chamado de Par-que da Cidade Dona Sarah Kubitschek, em homenagem à mulher de Juscelino Kubitschek, e inaugurado em outubro de 1978. Nomes como o de Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx participaram de sua criação.
O interesse em desenvolver um trabalho de Ensaio Teórico a respeito do espaço público do Parque da Cidade Dona Sarah Kubistchek em Brasília sur-giu após ter morado um ano na cidade de Paris na França pelo programa Ciên-cias sem Fronteiras. Esse intercâmbio universitário me possibilitou conhecer diversos lugares novos, com culturas e pessoas diferentes. E me permitiu per-ceber e comparar como os espaços públi-cos podem ser diferentes em cada local
e contexto, tanto em relação aos seus es-paços físicos quanto ao modo como são usados.
Ao pensar em um espaço próximo a mim e também sendo usuária dele, per-cebe-se que o Parque da Cidade desem-penha um papel de grande importância na estrutura urbana do Distrito Federal. Assim, estudar estratégias de uso de um parque urbano é fundamental para fo-mentar o uso desse espaço livre público para o lazer.
Com o intuito de potencializar e estimular o uso do Parque foi elaborado um mapa para uso do Parque da Cidade como um documento orientativo para seus usuários, a fim de ressaltar as prin-cipais atividades e serviços existentes na região, fazendo com que o Parque da Cidade seja um espaço mais presente no cotidiano tanto das pessoas que já o utilizam quanto para os que serão novos usuários.
Para desenvolver o mapa e fazer com que os resultados sejam mais próxi-mos da realidade, alguns procedimentos metodológicos foram adotados como, por exemplo, visitas in loco, fotografias das principais atividades, zoneamento das áreas do Parque.
No mapa, as atividades e os servi-ços existentes no Parque foram mostra-dos por meio de pictogramas, por ser uma
linguagem universal de fácil compreen-são. Além disso, traz informações gerais sobre onde estão as estações de metrô próximas ao Parque, os acessos voltados para o carro, para os pedestres, as esta-ções de bicicleta do Itaú e os pontos de ónibus.
A parte do verso do mapa possui algumas fotos para mostrar ao usuário o que acontece no Parque. Também traz informações a respeito da localização do Parque na cidade de Brasília e quais são os principais meios que o usuário possui para acessar a área. Além disso, faz re-ferência às zonas do Parque do projeto original de Burle Marx.
Esse mapa foi pensado para fazer com que as pessoas tenham conheci-mento das diversas opções de lazer que o Parque da Cidade oferece e também para incentivá-las a usufruírem desse espaço. Acredito que o mapa deve ser divulgado na Administração do Parque, na internet e nos jornais, pois com isso as pessoas terão melhor conhecimento do que existe no Parque e este desempenhará seu pa-pel como um grande espaço público de lazer.
Mapa para o Uso do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek em Brasília/DF
Orientador: Caio Frederico e SilvaBanca: Camila Sant´anna e Giuliana de Brito Sousa
por Camila Abrão
T

2/201466
ARQUI
O projeto de Brasília nasce em 1957 de um concurso, onde Lucio Costa foi vencedor. Primeiramente, no Relatório do Plano Piloto, a cidade surge de duas linhas formando o sinal da cruz e que le-vemente se adaptam ao relevo local.
Desde seu surgimento, Brasília já se destacava por ser uma cidade fruto do movimento moderno, onde se vê as qua-tro funções básicas da Carta de Atenas: habitar, trabalhar, recrear e circular.
Em 1987, Brasília fica conhecida pelo seu tombamento na UNESCO. Porém a imagem que surge, é que ela seria uma cidade “engessada”. Por ter sido plane-jada, entende-se que a cidade já estava pronta antes mesmo de ser construída.
Todavia, Brasília foi construída e apropriada, com isso construiu sua pró-pria identidade, que não era “prescrita” no Relatório. A cidade foi construída em partes e cada um dos edifícios que a compõe contribuem para a formação des-sa identidade. Muitas das obras já eram previstas no Relatório do Plano Piloto, no entanto, tomaram usos e apropriações diferentes das idealizadas e contribuem para a caracterização da paisagem do co-tidiano da cidade.
Entre os edifícios descritos no Re-latório, encontra-se o chamado Touring Club, localizado na região central de Bra-sília, mais especificadamente no Setor
Cultural Sul. Descrito inicialmente no como uma “casa de chá”, foi inaugura-do em 1967 como o edifício sede do Tou-ring Club em Brasília. Desde os ano 90, o mesmo já passou por diversos usos, mas nunca o de “casa de chá”. Entretanto, em 2007, foi tombado em nível federal.
Através da teoria dos valores patri-moniais de Alois Riegl, pretende-se en-tender que papel teve o Touring Club no dia-a-dia da cidade. Para isso será usado o conceito de narrativa do filósofo Paul Ricoeur, no intuito de entender como o edifício se reflete na memória da popu-lação e como ele se configurou na pai-sagem do cotidiano da cidade. Desenvol-veu-se, então, a história do edifício e seu entorno por meio de fontes documentais
Memória e Cidade: O caso do Touring Club
Orientador: Luciana Saboia Fonseca Cruz Banca: Luana Miranda Esper Kallas e Maria Cecilia Filgueiras
por Viviane Moreira
e entrevistas realizadas com arqui-tetos, ex-estudantes da Faculdade de Arquitetura de Brasília, em que narram suas memórias ao longo das 5 décadas de Plano Piloto afim de concluir: como o edifício se construiu na paisagem do co-tidiano da cidade e como isso se reflete na memória das pessoas.
Touring Club 1967Fonte: Revista Brasília
T

67
Orientador: Cláudia da Conceição Garcia Banca: Ana Elisabete Medeiros e Elane Ribeiro Peixoto
A perda de exemplares não excepcionais para a Arquitetura Moderna: Estudo de Caso - O Centro de Dança do DFpor Jéssica Gomes da Silva
Questões de preservação e reconhe-cimento dos bens edificados hoje são dis-cutidas com ênfase nas transformações pelas quais vem passando a sociedade na forma como essa se relaciona com suas edificações. Mais ainda, hoje entra em discussão a dificuldade de se preser-var bens que não possuem tombamento e que, portanto, não possuem o devido reconhecimento. Partindo desse tema principal, surge o Ensaio Teórico que tem por finalidade discutir exatamente a questão da valorização de bens não
excepcionais da Arquitetura Moderna, e como estudo de caso o Centro de Dança do DF. Essa é uma edificação de cunho unicamente cultural, voltado para a dan-ça que, ao longo dos anos, desde a década de 1960, quando construída, passou por alguns diferentes usos e um longo pro-cesso de degradação que se estende até os dias atuais. O trabalho primeiro abor-da a questão de preservação do patrimô-nio moderno, apresentando inicialmente as características dessa arquitetura, que a tornam única, e as premissas de sua
salvaguarda. O tema Brasília é inserido em seu contexto urbano e arquitetôni-co, de forma a apoiar o entendimento do movimento moderno e suas principais características. Assim, é inserida a pro-blemática específica dos exemplares modernos que não são reconhecidos e preservados. Após um panorama geral, o Centro de Dança do DF é apresentado com todo o seu histórico e memórias a ele relacionadas, tentando juntar, desse modo, todas as peças desse quebra-cabe-ça. Fechando o Ensaio, a realidade do es-paço é retratada por meio de fotos e cro-quis, demonstrando a situação atual da edificação, passando pelos valores que ela possui, para propor uma Declaração de Significância. Como conclusão são te-cidos alguns comentários acerca de sua salvaguarda, não unicamente relaciona-dos às memórias das pessoas, mas à sua história de fato.
Imagem do Teatro Nacional em construção com o Centro de Dança ao fundo. Fonte: Revista Brasília (21.04.1961)
T

2/201468
ARQUI
Este ensaio mostra e analisa, na te-oria e na prática, a mudança na rotina de um cidadão comum na mobilidade urba-na, identificando os principais desafios enfrentados pelo indivíduo que decide mudar de padrão de mobilidade, transfor-mando-se em um ciclista em sua cidade. O processo é uma verdadeira metamorfo-se ou alomorfia, termos de sentido bioló-gico, que se referem a uma mudança na forma ou na estrutura de um ser vivo no curso do desenvolvimento de sua vida.
O autor coloca-se então como co-baia de seu próprio estudo e tenta sofrer a metamorfose proposta. Seria possível, em Brasília, largar de vez ou pelo menos um pouco o uso do automóvel e começar a fazer uso da bicicleta como meio de transporte? Os desafios e obstáculos, re-gistrados e identificados durante a meta-morfose, foram trabalhados e detalhados, formando o roteiro do conteúdo funda-mental do “Manual do Ciclista Urbano”, um guia voltado especialmente às pes-soas que pretendem se metamorfosear, apoiando novatos em ciclismo urbano, tirando dúvidas sobre a nova forma de
vida e dando dicas e conselhos sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Além disso, aumenta a conscientização da necessidade da melhoria do transpor-te no Distrito Federal, com propostas de incentivos e campanhas, almejando-se novos modais de transporte, desacelera-ção de vias, investimentos em infraes-truturas e restrições ao uso do automóvel individual. E esse roteiro somente pôde ser desenvolvido a partir da vivência da metamorfose, que permitiu ao autor caracterizar com clareza e precisão os temas principais a serem abordados no manual.
Um dos motivos de se transformar o trabalho teórico em prático ocorre pelo fato de, muitas vezes, ao fazermos estu-dos sobre mobilidade ou urbanismo na faculdade, elaboramos planos de implan-tação de ciclovias, por exemplo, sem nun-ca termos feito uso da bicicleta em nossa cidade ou saber como é a vivência do ci-clista. O novo estilo de vida sobre duas rodas parece desafiador, mas é também motivado por outras questões, como o fato de se aliar a necessidade de desloca-mento cotidiano à prática de atividade fí-sica ou de economizar em combustível e manutenção do veículo. Adicionalmente, traz diversos benefícios à cidade, desde a não emissão de poluentes no meio am-biente até a economia em infraestrutura urbana e uso de espaço público. A cidade carece desse tipo de vivência atualmen-te, em que o carro se tornou um anfitrião em Brasília e deixou o pedestre e o ciclis-ta como figurantes da vida urbana.
Manual de Ciclismo Urbano: Como sofrer uma metamorfose?
Orientador: Carolina PescatoriBanca: Benny Schvarsberg e Maribel Aliaga
O Ensaio completo pode ser acessado no portal Issuu, através do link: www.issuu.com/josehenriquefreitas/docs/en-saio_viewAs entrevistas podem ser acessadas na página de Facebook Ciclistas de Brasí-lia, criada para o Ensaio, através do link: www.facebook.com/ciclistasdebrasilia
por José Henrique Freitas
A VIDA É COMO ANDAR DE BICICLETA. PARA
TER EQUILÍBRIO, É PRECISO MANTER-SE EM
MOVIMENTO.(ALBERT EINSTEIN)
T

69
Orientador: Carolina Pescatori Candido da Silva Banca: Benny Schvarsberg e Frederico Flósculo
O Lugar do Pedestre no Espaço Universitáriopor Juliana Lopes Vasconcelos
O trabalho se concentra em desco-brir o real espaço dedicado ao pedestre dentro do câmpus universitário. O câm-pus é o lugar de importantes manifes-tações culturais e acadêmicas dentro de uma cidade. Sendo assim, compõe uma importante área de estudo, abran-gendo uma quantidade significativa de pessoas que fazem o uso desse espaço diariamente. A configuração espacial dos edifícios no câmpus universitário e os caminhos traçados a partir destes são características fundamentais para o entendimento da circulação do pedestre na universidade. O estímulo do usuário a caminhar e a valorização do pedestre no espaço, na perspectiva atual da mobi-lidade sustentável, são elementos essen-ciais para começar a mudança de hábitos e de paradigmas urbanos. Com isso, o pe-destre se apresenta como a temática cen-tral desse estudo, em que se depara com o questionamento de como ele percorre o espaço universitário. Esse espaço está estruturado para o uso do pedestre? Qual é o lugar do pedestre no câmpus?
Para responder a essas indagações, constrói-se, então, um panorama com a composição dos primeiros campi universi-tários do mundo até chegar à organização obtida nos dias de hoje no Brasil e depois em Brasília, com a Universidade de Brasí-lia. Tendo como objeto principal de estudo o Câmpus Darcy Ribeiro, delineia-se sua evolução histórica desde as suas primei-ras construções até a configuração das edificações em seu território atualmente. Depois, parte-se para o entendimento das dimensões e conceitos que valorizam a prática do caminhar na sociedade, isto é, procura-se entender quais são as diretri-
zes para valorizar e estimular os percur-sos e caminhos e, consequentemente, o pedestre. Com isso, são atribuídas quatro dimensões para definir critérios de análi-se desses percursos: (1) acessibilidade, (2) segurança e proteção, (3) conforto ambien-tal e (4) atratividade.
Com base nessas dimensões esta-belecidas, tem-se a análise do espaço do pedestre na qual se busca compreender se o usuário utiliza ou não esse espaço dedicado a ele, por meio da observação das condições que esses percursos se apresentam para o pedestre. Para isso, utiliza-se o Câmpus Universitário Dar-cy Ribeiro como um estudo de caso para elucidar o método elaborado e para obter
um diagnóstico do cenário das calçadas, percursos e demais espaços dedicados a esses pedestres dentro da universidade. Os resultados obtidos evidenciam que a universidade foi perdendo a qualidade das edificações construídas no início de sua construção, no que diz respeito à aces-sibilidade e à qualidade dos percursos, para dar lugar a novas edificações que priorizam o sistema viário em detrimento do espaço do pedestre dentro do câmpus.
Percurso longitudinal realizado
T


FAUPREMIADA +

2/201472
ARQUI
RANK
ING
>>

73
RANK
INGO jornal Folha de S. Paulo divulgou
a edição 2014 do Ranking Universitário Folha (RUF), publicação anual que elege as melhores universidades e cursos do país a partir de quesitos como “Qualida-de de Ensino” e “Avaliação do Mercado”. Em arquitetura e urbanismo, a Universi-dade de São Paulo (FAU-USP) encabeça a lista, que abrange 239 instituições de todos os estados brasileiros.
Curiosamente, no ranking geral as dez primeiras posições são ocupadas por instituições públicas, onde figuram a Universidade de Brasília (UnB) no segun-do lugar e a Universidade Federal de Mi-nas Gerais (UFMG) na terceira colocação.
Já entre as instituições privadas, o top 10 destaca sete paulistas, tendo a Mackenzie no topo da lista. Nas duas posições seguintes estão a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PU-C-Campinas) e o Centro Universitário Be-las Artes de São Paulo.
A ordem de classificação ainda pode variar de acordo com os quesitos selecionados. A FAU-USP tem a maior pontuação nas categorias “Avaliadores do MEC” e “Avaliação do mercado” – ao lado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Mackenzie –, enquanto a UnB é a melhor em qualidade de ensino.
O RUF também engloba os seguin-tes parâmetros: Doutorado e Mestrado; Nota no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade); e Professores com dedicação integral e parcial.
Criado em 2012, o Ranking Univer-sitário Folha é uma avaliação do ensino superior brasileiro, que utiliza informa-ções coletadas pelo veículo em bases de patentes brasileiras e periódicos cientí-ficos, dados do Ministério da Educação (MEC) e pesquisas nacionais de opinião feitas pelo Datafolha. T
1º Lugar – Universidade de São Paulo (USP)2º Lugar – Universidade de Brasília (UnB)3º Lugar – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)4º Lugar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)5º Lugar – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)6º Lugar – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)7º Lugar – Universidade Federal do Ceará (UFC)8º Lugar – Universidade Federal do Paraná (UFPR)9º Lugar – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)10º Lugar – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
1º Lugar – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP2º Lugar – Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)3º Lugar – Centro Universitário Belas Artes de São Paulo4º Lugar – Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) – São Paulo, SP5º Lugar – Universidade Paulista (UNIP)6º Lugar – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)7º Lugar – Universidade Positivo (UP) – Curitiba, PR8º Lugar – Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – São Paulo, SP9º Lugar – Universidade Nove de Julho (UNINOVE) – São Paulo, SP10º Lugar – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Confira abaixo os dez melhores cursos de arquitetura e urbanismo na classifi-cação geral:
Veja os dez melhores cursos de arquite-tura e urbanismo no ranking de institui-ções privadas:
RANKING 2014 dos melhores cursos de arquitetura do Brasil é divulgado. Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!news/read/14189/ranking-2014-dos-me-lhores-cursos-de-arquitetura-do-brasil-%C3%A9-divulgado>. Acesso em: 21 jan. 2015.

2/201474
ARQUI
Pesquisa da Universidade de Brasí-lia (UnB) propõe um prédio experimental que consuma a mesma energia que pro-duz ao longo de um ano, conhecido como edifício com balanço energético nulo (nZEB). Por meio de simulações compu-tacionais, os estudiosos calcularam o consumo de energia e a capacidade de produção para um ano típico e demons-traram o sucesso na meta de consumo líquido nulo inicialmente proposto.
O estudo, intitulado “Proposta de edificação experimental com balanço energético nulo para a Universidade de Brasília”, ganhou o prêmio ANPRAC de melhor trabalho técnico apresentado no 9º Congresso Internacional de Ar Con-dicionado, Refrigeração, Aquecimento e Ventilação – MERCOFRIO 2014.
Idealizado em conjunto, o artigo de Geraldo Pithon e João Pimenta, do De-partamento de Engenharia Mecânica da
PROJETO DE HABITAÇÃOAUTOSSUFICIENTE
Lanna Santana - Secretaria de Comunicação da UnB
IDEIA É CONSTRUIR UM ESPAÇO DE PESQUISA
MULTIDISCIPLINAR PARA OS CURSOS
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR FONTES RENOVÁVEIS
prêmioAnPRAC

75
Faculdade de Tecnologia (FT), foi feito em parceria com Cláudia Naves Amorim e Márcia Birck, ambas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).
O projeto além de atender às ativi-dades comuns de um edifício acadêmico, será uma plataforma de pesquisa com ca-ráter multidisciplinar para as engenha-rias, além do uso por outras áreas como a Arquitetura. Dessa maneira, a edifica-ção permitirá as mais diversas análises de mecanismos de eficiência energética, qualidade do ar interior, produção de energia por fontes renováveis e estudo de tecnologias prediais eficientes.
“Um edifício nZEB só é possível quando todas as áreas de projeto envol-vidas caminham juntas desde a sua concepção inicial, acompanhadas de fer-ramentas de simulação confiáveis que permitam análise do impacto de cada decisão de projeto tomada. Dessa manei-
ra, estamos criando um grupo de estudos vinculado à ASHRAE para reunir as áre-as da universidade e dar continuidade à proposta” destaca Geraldo.
Edifício de energia líquida zero, em inglês net Zero Energy Building (nZEB), é a nomeação dada a projetos que possuem alta eficiência energética para o mínimo consumo possível aliada à produção de energia por fontes renováveis.
João Manoel Pimenta, professor de Engenharia Mecânica da UnB, aponta que no mundo já existem exemplos de edificações nZEB. “O intuito deste edifí-cio experimental será um projeto pionei-ro”, conclui Pimenta.
No Brasil esse ainda é um assun-to restrito, mas em países da Europa e nos Estados Unidos há denso material de pesquisa e edifícios já comprovada-mente net zero. Cada país usa um tipo de energia alternativa diferenciada, pois os
diversos projetos envolvidos dependem das condições climáticas do local.
MERCOFRIO – O evento que ocorreu de 25 a 27 de agosto em Porto Alegre (RS) trouxe 36 trabalhos de alta notoriedade na área. Cinco trabalhos da universida-de foram apresentados, sendo um deles premiado como melhor trabalho do con-gresso.
Promovido pela Associação Sul Bra-sileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação (ASBRAV), o Congresso MERCOFRIO acontece bianu-almente nas principais capitais da re-gião Sul do país desde 1998.
Na premiação é selecionado o me-lhor trabalho no setor que visa aspectos ambientais, interesses industriais e so-cioeconômicos.
Fachada Noroeste-oeste - evidencia-se a separação clara entre o bloco de laboratórios (em amarelo) e o
público (em azul).imagem por Gloria Lustosa Pires
SANTANA, Lanna. Projeto de habitação autossufi-ciente. Disponível em: <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=8930>.
T

2/201476
ARQUI
Pensar a respeito das cidades atu-ais requer uma regressão analítica e crí-tica das reflexões urbanas ocorridas na história. Este trabalho apresenta, de ma-neira introdutória, um panorama do pen-samento urbano, desde a industrializa-ção até as últimas ideologias urbanas do século XX (Internacional Situacionista), que colabore para o entendimento acerca da situação urbana na contemporanei-dade. As transformações que ocorreram durante esses séculos, permeadas por di-versas ideologias, construíram a comple-xa situação urbana das cidades atuais.
Iniciamos um breve o passeio pelas utopias dos primeiros urbanistas (e pré-urbanistas), aqueles que se distinguiam entre progressistas e culturalistas. Visi-tamos então a imponente ideologia mo-derna e também as críticas urbanas pós-modernas até chegar, por fim, aos dias atuais. Percebe-se nesse breve passeio que a história urbana se dá como um tra-ço tortuoso que vai e vem, cheio de es-peranças e nostalgias, de revisões e con-tradições. Assim, a contemporaneidade nos vem aos olhos como esse complexo
espaço/tempo que engloba simultanea-mente críticas, elogios e reinterpretações do passado.
Por compreender que a arte é o anúncio pioneiro dos novos tempos, apoiamo-nos nela, junto com o que se viu nessa regressão à história do pensamen-to urbano, para refletir sobre as cidades que estão por vir. Nos anos 90, Nicolas Bourriaud em seu livro “Estética Relacio-nal” reflete sobre o lugar da arte na socie-dade contemporânea e as interferências que o mercado e a cultura de consumo produzem no ambiente social. A diminui-ção progressiva de espaços de convívio e relação em prol de ambientes de consu-mo é o contexto onde surge a produção artística que ele denomina de arte rela-cional. Por mais que sua reflexão esteja voltada para a arte contemporânea, ela é de extrema relevância para o pensamen-to urbano. Agregar o valor da sensibilida-de artística, suas potências sociais e po-líticas, pode ser de grande importância para a reflexão urbana atual. Nossa pes-quisa investiga se e em que medida tais ideias permitiriam uma virada de chave
AS CIDADES:DA INDUSTRIALIZAÇÃO À ESTÉTICA RELACIONALDanilo Fleury
Aluno: Danilo FleuryOrientador: Miguel GallyPlano de Trabalho Pibic 2013/2014:“O corpo e a cidade: uma investigação preliminar sobre as aproximações entre arte visual e arquitetura a partir das in-tervenções urbanas”
no pensamento e nas práticas urbanís-ticas, atualizando sua produção para as novas potencialidades da sociedade e da vida contemporânea.
A pesquisa em questão teve impor-tantes resultados e repercussões. O tra-balho “As cidades, da industrialização à estética relacional” foi aceito como co-municação do XIII Seminário de História das Cidades e do Urbanismo realizado do dia 9 a 12 de setembro de 2014. A versão expandida do mesmo trabalho foi aceita para publicação na Revista de Estética e Semiótica (ISSN 2238-362X), no volume I de 2014.
pibicmenção honrosa
T

77
Cidades utópicas pós industrialização
Cidade Industrial de Tony Gardier
Plano Voisin de Le Corbusier
Mapa psicogeográficos da Internacional Situacionista
construção de Brasília
Documentation of 8 foot line tatooed on six remunerated people, 1999. Santiago Sierra
Perca Tempo, intervenção urbana do Coletivo Poro
Le corbusier e suas cidades utópicas
Críticas e utopias da Internacional
Situacionista
Carta de Atenas e as cidades modernas
Estética Relacional de Nicolas Bourriaud
Arte contemporânea e as intervenções
urbanas


HOMENAGEM +

2/201480
ARQUI
LINA BO BARDI

81
Dentre as diversas comemorações sobre a obra de Lina Bo Bardi, que ocor-reram em 2014 em universidades e ins-tituições – tanto no Brasil, como no ex-terior – por ocasião de seu centenário de nascimento no dia 5 de dezembro, a FAU-UnB organizou no dia 13 de novembro o evento “Lina Bo Bardi _ 100 anos”. Tratou-se de uma atividade singela voltada para comunidade acadêmica, a fim de instigar reflexões sobre a trajetória, a atuação e o legado da obra da arquiteta dentro do
LINA BO BARDI _ 100 ANOSEduardo Rossetti - organizador do evento
campo cultural brasileiro. Houve a exi-bição do filme Lina Bo Bardi (1993), se-guida de um debate com o diretor Aurélio Michiles, que antes de se tornar cineas-ta estudou arquitetura na UnB nos anos 1970. A Profa. Sylvia Ficher mediou o de-bate com a plateia que prestigiou o even-to. Ainda no âmbito desta comemoração o jornalista e ensaísta Claudio Valentinet-ti – sobrinho da arquiteta – gravou um depoimento para a TV UnB, que foi ao ar do dia do centenário.
SESC POMPEIA 2013fotografia por Eduardo Rossetti
T

SOBRE LINA BO BARDICAPA POR LAURA CAMARGO
GALERIA POR LUIZ SARMENTO
gale
ria
foto
gráf
ica


2/201484
ARQUI

85
NÃO PROCUREI BELEZA, MAS LIBERDADE. OS INTELECTUAIS NÃO GOSTARAM, O POVO, SIM
(LINA BO BARDI)

2/201486
ARQUI

87
CAPA: exposição sobre a Lina Bo Bardi no Pavillion de l’Arsenal, em Paris, por Laura Camargo
Trio de fotos: SESC POMPEIA, por Luiz Sarmento
Foto: MASP São Paulo, por Luiz Sarmento
Foto anterior: SESC POMPEIA, por Luiz Sarmento


NOVOSARQUITETOS +

diplomação
DIPLÔ

91
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), segundo as Diretrizes Cur-riculares Nacionais do curso de
graduação em Arquitetura e Urbanismo estabelecidas na resolução no 2, de 17 de junho de 2010, deve ser realizado ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa.
A FAU-UnB segue estes preceitos. Em nossa Instituição o trabalho é in-dividual, com tema de livre escolha do aluno. É desenvolvido sob a supervisão do professor orientador. O TCC é dividido em duas partes: Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso, realizado no pri-meiro semestre, e o Trabalho de Conclu-são de Curso, desenvolvido no segundo semestre do ano letivo. No primeiro o alu-no deve apresentar como produto final o anteprojeto de um objeto arquitetônico, na escala da edificação ou da cidade e o TCC possui ênfase na continuidade e evolução do anteprojeto.
A fim de sistematizar o trabalho deste último ano do curso, foi criado o Plano de Curso da Diplomação. Neste são estabelecidas regras, cronograma, con-teúdo mínimo, formato de apresentação, avaliação, entre outros, que devem ser seguidos pelos estudantes.
A avaliação é feita por bancas. Es-tas são compostas pelo orientador mais dois professores. Os membros são fixos, participam e avaliam todo o processo. São acrescidos à banca final do TCC dois membros: um professor convidado e um
arquiteto convidado. Estes avaliam o pro-duto final.
Sendo assim, apresento, com enor-me satisfação, os trabalhos deste último semestre. Foram defendidos 29 projetos. Destes, 13 estão sendo expostos de forma resumida e 4 ganharam maior destaque. Foram selecionados a partir de critério estabelecido por comissão composta para este fim. A comissão optou por publicar os trabalhos contemplados com menção superior (*).
A produção apresentada a seguir nos permite observar a diversidade de temas. Estes refletem questões atuais relacionadas à estrutura da cidade, à sociedade, ao meio-ambiente. Mostram a maturidade desta nova geração de arqui-tetos -- seu engajamento e capacidade de conceber, de forma consciente, através de projetos práticos, toda a teoria apre-endida durante o curso. Resultado, além do empenho do aluno, da qualidade do corpo docente.
Diante do cenário atual de políti-cas públicas, estes novos arquitetos re-presentam a perspectiva de uma cidade melhor, com menos problemas sociais e mais qualidade de vida.
Agradeço imensamente por mais este semestre, a disponibilidade e em-penho dos professores e arquitetos con-vidados, na participação das bancas. Te-mos a consciência de que é um trabalho árduo mas extremamente importante e gratificante.
Paola Caliari Ferrari MartinsCoordenadora de Diplomação
O
T
(*) Dezoito trabalhos obtiveram menção superior. Treze apre-sentaram resumo para publicação.

2/201492
ARQUI
Daniela Quinaud orientadora:Carolina Pescatori
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMERCIALPARA O PEDESTRE
Carolina Nascimento orientador:Bruno Capanema
COMPLEXO ESPORTIVO
Emanuelle Pereiraorientador:Oscar Ferreira
CENTRO INTEGRADO DE MODA DO GUARÁ
Jana do Santosorientador:Cláudio Queiroz
INSTITUTO DE ARTES
Ana Júlia Maluforientador:Oscar Luis Ferreira
CENTRO DE CULTURA ÁRABE
Júlia Piccolo Cinquiniorientador:Frederico Flósculo
CENTRO PARA IDOSOS
Danilo Fleuryorientadora:Elane Ribeiro Peixoto
ANTI UTOPIA URBANA
Gabriela Emi Akabociorientadora:Raquel Blumenschein
CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS EMSAÚDE
Erick Welson Medonçaorientador:Cláudio Queiroz
CASA DE RETIRO RELIGIOSO
Fabrícia Figueiredo
COMPLEXO CULTURAL EM PLANALTINA
orientador:Cláudio Queiroz
Gabriela Farinassoorientadora:Gabriela Tenorio
INTERVENÇÃO NA RODÔ - O CORAÇÃO DE BRASÍLIA
Guilherme Silvaorientadora:Raquel Blumenschein
PROTÓTIPO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL INDUSTRIALIZADA E SUSTENTÁVEL.
Hana de Andradeorientadora:Elane Ribeiro Peixoto
KARTÓDROMO DO GUARÁ
Íngrid de Araújoorientadora:Gabriela Tenorio
SETOR COMERCIALSUL
Isabel Cabral Alencarorientador:Cláudio Queiroz
CENTRO ONCOLÓGICO
CATÁLOGO DE PROJETOS >>

93
Márcia Birckorientadora:Cláudia Amorim
EDIFÍCIO DE BALANÇO ENERGÉTICO NULO (NZEB) NA UNB
Kenji Nakakuraorientador:Bruno Capanema
CENTRO DE DANÇA
Vander Delgadoorientador:Cláudio Queiroz
EMBAIXADA DE CABO VERDE EMBRASÍLIA
Leandro Aguiarorientadora:Marta Romero
CONJUNTOS HABITACIONAIS DO GUARÁ II
Manuela Marcelinoorientador:Frederico Flósculo
ESCOLA INTEGRAL COM ENSINO ESPECIAL
Marcela Munizorientadora:Gabriela Tenorio
URBANISMO
Mateus Costaorientador:Claudio Queiroz
IGREJA SÃO JOSÉ
Stella Junqueiraorientador:Cláudio Queiroz
IGREJA CATÓLICA
Laura Camargoorientador:Bruno Capanema
ESTAÇÃO DA DANÇA
Luiz Filipe de Souzaorientador:Oscar Luiz Ferreira
ESCOLA PARQUE
Matheus Maramaldoorientador:Jaime de Almeida
CENTRO CULTURAL 25 DE OUTUBRO
Moira Nevesorientadora:Marta Romero
HEMOCENTRO REGIONAL DO GAMA
Ninivy de Oliveiraorientador:Cláudio Queiroz
ESPAÇO DE AÇÕES DE MELHOR IDADE
Rubiana Lemosorientadora:Raquel Blumenschein
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
FAU-UnBfotografia por Marilia Alves

2/201494
ARQUI
projetos EM destaque >>

95
CENTRO DE CULTURA ÁRABE ANA JÚLIA SAMPAIO MALUF
O trabalho de conclusão de curso de Ana Júlia Sampaio Maluf, o Centro de Cultu-ra Árabe, é, no meu entender, ao mesmo tempo o encerramento de um ciclo de de-dicação e sucesso de uma aluna sensí-vel não apenas à arquitetura, profissão escolhida, mas a princípios pessoais de origem familiar, que a fazem valorizar a
ética, o respeito aos colegas e a busca de uma ideal de perfeição. Como, também, a abertura de um universo profissional vasto. A edificação proposta é o exemplo desta afirmação, ao mesmo tempo em que celebra uma outra cultura, a cultura dos países cuja língua oficial é o árabe, res-peita, ao fazer referência clara à arquite-
tura brasileira, à cidade de Brasília onde está implantada, marco da arquitetura e do urbanismo modernos e patrimônio da humanidade. Uma palavra traduz a bus-ca constante e por que não dizer frenéti-ca empreendida por ela desde o início de nossas orientações: conhecimento!
Oscar Luis Ferreira
A NOVA PLATA [FORMA] DA RODÔ GABRIELA CASCELLI FARINASSO
A nova plata[forma] da Rodoviária, de Gabriela Cascelli Farinasso, é uma inter-venção projetual no coração de Brasília. Ponto nodal dos fluxos de automóveis e pessoas, local de encontro e dispersão, de
diversidade, de possibilidades, a Rodovi-ária do Plano Piloto é um edifício-cidade. Com grande sensibilidade às questões de mobilidade sustentável e de preservação do patrimônio, Gabriela propõe uma in-
tervenção lúdica e cuidadosa, na qual o homem – e não o automóvel – é a medida. Espaços ociosos são ocupados, lugares de convivência são criados: uma nova [for-ma] para a velha Rodô.
Gabriela Tenorio
CENTRO CULTURAL 25 DE OUTUBRO MATHEUS MARAMALDO
Este Centro Cultural propôs-se num mo-mento oportuno de discussão do período de ditadura no Brasil. O projeto está fun-damentado num estudo histórico escrito em tom original e apresenta-se em dese-
nhos à mão livre dotados de grande for-ça expressiva. A proposta estimula uma reflexão crítica sobre nossa história de autoritarismos sem se limitar a uma vi-são única ou encerrada daquele período.
Os espaços do centro cultural permitem a exposição de documentos e artefatos de naturezas diversas, explorando aspectos sensoriais e estimulando os encontros e as discussões.
Maria Fernanda Derntl
LAURA CAMARGO
O projeto da Estação da Dança se propõe a criar um centro de excelência para essa arte, bem como proporcionar um espaço cultural de permanência prolon-gada, aberto para a população em geral. A inserção na Avenida W3, com um par-tido aberto e receptivo aos pedestres, tem o intuito de contribuir para a revitaliza-ção da região e de disseminar a arte da dança, num local de grande movimenta-
ção de pessoas. O partido adotado baseou-se no uso de palavras-chave e conceitos relacionados à dança e à representação volumétrica e espacial de tais conceituações. Isso se reflete no ritmo do volume das salas de dança, bem como no equilíbrio entre cheios e vazios, força e leveza.Outro conceito, presente de maneira bas-tante sensível, é o da permeabilidade,
que se dá na manutenção e valorização dos caminhos existentes e na criação de novos trajetos, nos quais a arte se expres-sa com força e dinamismo.O Centro de Danças responde de maneira muito sutil e elegante ao desafio relativo a um projeto que alie força com leveza e beleza com técnica.
Bruno Capanema
ESTAÇAO DA DANÇA~

2/201496
ARQUI
CENTRO DECULTURA
ÁRABE
ANA JÚLIA MALUF
Aquilo que se considera civilização árabe ou mulçumana surgiu na Penínsu-la Arábica, formada por povos nômades e comerciantes sem uma estrutura esta-tal estabelecida. No século VI iniciam-se, com o Profeta Maomé, a unificação e a expansão do império. Os guerreiros islâ-micos, imersos da rica tradição de comér-cio, expandiram-se para além dos povos persas e bizantinos. No auge do império, os muçulmanos controlavam a Penínsu-la Arábica, no norte da Índia, norte da África e a Península Ibérica, chegando a Constantinopla.
Em vários aspectos, a civiliza-ção mulçumana caracterizou-se por sua tolerância na relação com outras cultu-ras, resultado da extensão e da natureza comercial do império. Com isso espalhou cultura por toda a vastidão a que tinha acesso, difundindo desde técnicas agrí-colas, a métodos astronômicos e medici-nais. Uma estimativa desta importância pode ser mensurada com um exemplo na matemática. O zero, arimetizado, como o conhecemos e usamos, foi uma elabo-ração de um matemático e astrônomo do Observatório de Ujain, no século VI, na Índia. Os árabes passaram a chamar este número de zifr (vazio), em seus tra-tados de aritmética e análise numérica.

97
Em Veneza, ponta da Rota da Seda para entrada de especiarias orientais na Eu-ropa, zifr passou a ser chamado de cifra e zevero; e então “zero”. Vale ainda citar a disseminação da bússola e da pólvora, inventadas pelos chineses, e o cultivo de produtos agrícolas, como o café, cana-de-açúcar, algodão, arroz, laranja, limão, entre outros.
Na arquitetura, perseguiram ca-minhos únicos, por conta das imposições das regras do Islã e das especificidades das terras quentes onde viviam. Em com-plexos como as madrassas, as escolas do Islã, a partir dos elementos estéticos disponíveis e possíveis, a azulejaria, as estruturas geométricas, as composições de ocupação espacial, tanto para o estu-do como para a devoção, a iluminação e ambientação atingiram as formas mais requintadas e harmoniosas possíveis. Ainda hoje, é difícil a um viajante pela Península Ibérica ou a uma cidade islâ-mica, como Samarcanda, não se impres-sionar ou se comover com tais edifica-ções.
Desde o início do Islã, a rela-ção dos árabes com os povos cristãos e judeus foi pacífica. Vale citar a famosa e respeitada comunidade judaica que floresceu na Babilônia. Esta atitude dos
mulçumanos se justificava, pois estes consideravam judeus e cristãos como po-vos coirmãos – ‘’os povos do livro”, como eram denominados. A deteriorização dessas relações radicalizou-se com dois marcos: o fim do Império Otamano, na primeira Guerra Mundial, e a criação do estado de Israel, após a segunda Guerra Mundial. Esse processo tem origem com o predatório processo de colonialismo e o neocolonialismo europeu nos séculos XIX e XX, com ocupações no norte da África, Oriente Médio e todas as regiões da Ásia. No final do século XX, conduzido principalmente pela indústria da guerra articulada com o projeto neoliberal e o fundamentalismo cristão, o Ocidente pro-move em larga escala a propaganda de identificação dos povos árabes com par-celas fundamentalistas do Islã. O resul-tado é uma tentativa de demonização de todos os povos mulçumanos e a desqua-lificação de sua vasta riqueza cultural.
Mas, a despeito dessa situação atual, não é exagero quando Humberto Eco ou Jorge Luís Borges clamam que os árabes civilizaram a Europa; e por exten-são os países das Américas, todos eles ex-colônias europeias. No Brasil, como interessante exemplo, cerca de 16 mi-lhões de pessoas possuem ascendência
árabe (dados do IBGE), constituindo-se na maior colônia fora dos países de origem. Nessa população, a maioria é libanesa, seguida dos sírios.
O projeto proposto trata de um Centro de Cultura Árabe localiza-do em Brasília, na entrequadra Norte, EQN712/912. O Centro é privado e perten-cente à Embaixada da Arábia Saudita. Contudo, em posse da embaixada, o edifí-cio possui um caráter público, sendo, por-tanto, aberto à população. Seu objetivo é a divulgação da cultura árabe na cidade. Por ser um centro cultural, o projeto pos-sui uma função de abertura a diferentes atividades de interesses artísticos.
A mesquita do Centro Islâmico do Brasil foi construída na década de 1960, com financiamento das embaixadas ára-bes. O Centro funcionou na 712/912 norte até a década de 1980, quando foi incen-diado e hoje está abandonado. De modo a ocupar seu lugar, foi erguida, em terreno adjacente, a mesquita do Centro Islâmico do Brasil, localizada na 912 Norte, inau-gurada em 1990. Essa mesquita é a maior da América Latina (com 2.800 m²) e foi a única mesquita da cidade até a inau-guração da Mussala Muhammad Al-Ras-sullah (Muhammad, “O mensageiro de Deus”), na cidade satélite de Taguatinga.

2/201498
ARQUI
A mesquita abandonada é hoje, segundo o jornal Correio Braziliense e outros jornais locais, uma área de risco. Tornou-se um ponto de consumo de en-torpecentes, abrigo para viciados em dro-gas e também está infestada de ratos e de outros animais transmissores de doença. Em decorrência dos danos causados pelo incêndio e do atual mau uso da mesqui-ta, os moradores dos prédios vizinhos e a comunidade escolar reclamam da situa-ção de abandono.
Com queixas frequentes, o go-verno do Distrito Federal autorizou a demolição da mesquita e deu um prazo para a embaixada responsável tomar as devidas providências e resolver o que fazer com o terreno problemático. Até o momento, a área continua abandonada e a mesquita ainda não foi demolida.
Assim, o projeto contempla um memorial islã que registra traços da mes-quita desativada mediante o desenho da planta baixa. A projeção da cúpula é des-tacada por um banco em forma de anel. O salão principal (maior pé-direito) é re-baixado, o que forma um mural expositor. Nele, há um revestimento em mármore que possui registros acerca da cultura mulçumana. O salão e a rampa de aces-so são contornados por um fino espelho
d’água. As demais áreas são marcadas no chão com texturas (argila expandida). Parte dos arcos da mesquita é preserva-da e faz a divisão do centro com o me-morial. O desnível provoca uma queda d’água que passa pelos arcos da ruína.
O projeto arquitetônico do Centro de Cultura Árabe é uma fusão dos esti-los moderno e árabe. O projeto tem um caráter contemporâneo, com inúmeras referências a elementos tradicionais da arquitetura árabe.
O primeiro traço do projeto foi ligar o principal fluxo de pedestre à Mes-quita. Ao longo desse percurso é possível enquadrar a Mesquita por meio de um proposital espaço vazio conforme ima-gem.
Todas as árvores do terreno são existentes, exceto as palmeiras (somente sobre o seixo fino) que compõem o paisa-gismo juntamente com o espelho d’água, lembrando um oásis. A marcação da tex-tura de argila expandida está alinhada com o terreno e com a Mesquita incen-diada. Já a marcação da textura do seixo fino está alinhada com o edifício, com a Mesquita e com Meca. As duas texturas reforçam a torção proposital do edifício com relação ao lote.
O painel é um marco do proje-
to que convida o pedestre a conhecer a Mesquita do Centro Islâmico do Brasil. Alinhado com Meca, o painel se curva de modo a lembrar uma reverência diante de Deus, conforme a oração da Alvorada (principal oração Islã). Sua curvatura tende a formar o arco otomano, seme-lhante ao arco utilizado na Mesquita. As alturas das placas do painel crescem de modo que, ao se traçar uma linha imagi-nária da ponta da primeira placa à ponta da mesquita, tem-se as demais alturas.
Orientador: Oscar Luis FerreiraBanca examinadora: Ana Suely Zerbini, Bruno Capanema e Cláudio QueirozArquiteto convidado: Ricardo Theodoro
Implantaçãoimagem por Ana Júlia Maluf
Renderizaçõesimagens por Ana Júlia Maluf
T

99

2/2014100
ARQUI
Por que a Rodô? A forma como a Plataforma conduz o sistema viário de Brasília, concentrando o ponto nodal do transporte público no Plano Piloto e criando um imenso espaço suspenso e aberto que une os dois Setores de Diver-sões, ao mesmo tempo torna-a edifício e espaço público central da vida urbana. Ela permite a vista desimpedida de toda a Esplanada, tanto no sentido do Con-gresso Nacional quanto no sentido da Torre de TV.
Hoje a Rodoviária recebe todos os dias cerca de 630 mil usuários de trans-porte público, mas sua configuração es-
pacial reserva cerca de 65% de sua área para o tráfego de carros e 1.057 vagas de estacionamento.
Com a intervenção proposta, che-gou-se a mais que dobrar a área disponí-vel para pedestres, passando dos atuais 36.061 m² para 75.809 m².
O que muda? O projeto partiu da pre-missa de que o pedestre é o sujeito prin-cipal do centro da cidade, e então a área destinada aos automóveis foi convertida em espaços públicos. O sistema viário foi modificado para que, na plataforma su-perior, não seja mais permitida a passa-
A NOVAPLATA [FORMA]DA RODÔ
GABRIELA CASCELLI FARINASSO
gem de veículos particulares, criando-se quatro novos eixos de circulação vertical destinados a pedestres e ciclistas. Tanto na plataforma superior quanto na infe-rior foram inseridas ciclofaixas com bar-reira física e reservou-se área para cerca de mil vagas em bicicletários. A qualifi-cação do espaço público foi pensada para propiciar ocupação e apropriação, com valorização das visuais, inserção de pai-sagismo e diversos elementos lúdicos.
E o patrimônio? Fica claro, a partir das intenções projetuais de Lucio Costa, que muito se perdeu ao longo dos anos.

101

2/2014102
ARQUI
O Plano fala em trânsito local, praças com piso sobrelevado para travessia de pedestres e ainda recomenda que não se tenham estacionamentos, justamen-te o contrário do que ocorre hoje. Com exceção das duas praças da plataforma superior, que foram preservadas e tom-badas pelo IPHAN, a área de pedestres ficou restrita a calçadas estreitas e irre-gulares. E mesmo essas duas praças, que deveriam servir ao livre convívio de pes-soas, só são utilizadas em determinados horários e dias, sendo desconfortáveia e desinteressantes a maior parte do tem-po. Por isso seus desenhos de piso foram alterados, mas elas tiveram suas áreas
acrescidas e suas fontes d´água e a ve-getação existentes preservadas, uma vez que elas têm importância simbólica para a história da consolidação das praças na plataforma superior. Sendo assim, o pre-sente trabalho respeita o tombamento da Rodoviária, mantendo intactas as estru-turas e a arquitetura original.
Orientador: Gabriela TenórioBanca examinadora: Elane Ribeiro Peixoto, Giuliana de Brito Sousa e Mônica GodinArquiteto convidado: Thiago Teixeira de Andrade
Móduloimagem por Gabriela Farinasso
Sem títuloimagem por Gabriela Farinasso
Esquema explodidoinfográfico por Gabriela Farinasso
T

103

2/2014104
ARQUI
ESTAÇÃODA DANÇA
LAURA CAMARGO

105

2/2014106
ARQUI
A Proposta: diante da demanda e da falta de estrutura dedicada à dança em Brasília, propõe-se a criação de um cen-tro de excelência para essa arte. Surgiu com os objetivos de proporcionar à popu-lação um fácil acesso à dança; deseliti-zar a prática e a apreciação dessa arte; permitir a interação entre um maior nú-mero de pessoas; e possibilitar o desen-volvimento técnico dos bailarinos.
A escolha do terreno na 512/513 sul, na W3, foi automática, visto que a aveni-da é o maior corredor de transporte públi-co do Plano Piloto e necessita de urgente revitalização. Dentre as características do entorno estão a grande diversidade de usos e o alto fluxo de pedestres.
O Partido: buscando palavras-cha-ve relacionadas à dança, os conceitos se unem aos condicionantes do terreno para definir o partido.
A força está expressa nos cheios. O ato de densificar uma parte do terre-no e criar uma fachada contínua com a W3 fortalece a horizontalidade da via. A leveza está nos vazios. A liberação da ou-tra parte faz a conexão com as superqua-dras, configurando uma praça entre elas.
A permeabilidade refere-se a deixar passar. Com uso de pilotis, a edificação permite a passagem, e ao incluir ativida-des no térreo incentiva a permanência. Aumentar a visibilidade da dança no
contexto urbano é uma forma de aumen-tar sua importância na cidade. Utilizan-do transparência, a edificação torna-se uma vitrine.
O ritmo está no misturar movimen-tos contrários em intervalos periódicos de tempo. A modulação diz respeito à definição de um traçado regulador para disposição dos espaços, de forma a pos-sibilitar a flexibilização e adaptação dos ambientes e dos usos, sem perder a uni-dade do conjunto.
A disciplina refere-se à ordem e ao ato de manter os pés no chão, visando à valorização do pedestre. Acolhe o grande fluxo de pessoas que transitam, incenti-va a curiosidade, convida-as a entrar e descobrir o edifício. A ousadia está no levantar voo, na criação de ambientes internos que se relacionam com o espa-ço externo. As salas de ensaio se tornam vitrines para os transeuntes de fora que veem os bailarinos dançando e molduras para os bailarinos que dançam tendo o céu de Brasília como cenário.
O Programa: além de toda a estru-tura necessária para a prática da dança, o edifício será composto pelo programa da atual Biblioteca Pública e acrescido de novos documentos voltados à dança, transformando-se em Midiateca. O es-paço cultural complementa o espaço de dança, formado por espaços de convivên-
cia, estudo e descanso. Além da estrutura interna, a edificação proporciona à cida-de um espaço público de qualidade, com atividades diferenciadas, estimulando o contato dos brasilienses com a dança.
Orientador: Bruno CapanemaBanca examinadora: Cláudia Garcia, Márcia Troncoso e Ana Suely ZerbiniArquiteto convidado: Ricardo Meira
T

107
Imagens renderizadaspor Laura Camargo com colaboração
de Filipe Berutti Monte Serrat

2/2014108
ARQUI

109
CENTROCULTURAL25 de OUTUBRO
Você conhece aquele sabor metáli-co inconfundível de ferro? Que se dilui como chumbo através da garganta? Eu não conheço. Contudo, parece-me fácil falar como sendo sangue escorrido de ou-tros. Como resistir? É o amargor de um anti-herói, de um esquecido prisioneiro. Vão-se palavras toscas recém-vomita-das... Sou mesmo um burguês escatoló-gico de versos samaritanos e de cons-ciência pesada, que vê na loucura e no nefasto sua perseguição, insistindo em falar do que não viveu: Ditadura branda, Ditadura hostil, Ditadura dos pobres, Di-tadura dos liceus... sussurros medonhos
MATHEUS MARAMALDO
do passado e daqueles que insistem em reaparecer: “Deixe-me sair, senhor! Mos-trar-lhe-ei os grilhões e cada farrapo sujo de rubro ou de escorbuto. Nada será como antes, poderei contar uma outra versão dos arquivos mortos... estupidamente mortos...”.
Neste clima sanguíneo de balas perdidas, rostos sem nome, avanços e falácias, foi instigada a criação de um memorial que contasse uma narrativa de tempos não tão distantes: as ditaduras no Brasil. Pensando nisso, o que viria a sê-lo? Uma tradução literal de todos os palavrões pichados nas latrinas dos pre-

2/2014110
ARQUI
sídios? Optou-se pelo mais ameno, a tra-dução desse profundo medo e total exas-peração conjugada ao alívio do brilho do sol... já era um centro cultural.
Este espaço mais aberto para o di-álogo do passado com o futuro, na 916 Norte de Brasília, não seria mais um poço de lembranças, mas sim o ápice de novos olhares e ultrapassagens, na qual a perseverança paradoxal permitiu um desenho bastante cenográfico para o vi-sitante. O contínuo esforço originou am-bientações de forte introspecção e exte-riorização, em um grande jogo perceptivo de luz e sombra, aura metafísica e cinza-vermelho-sol, conferido pelas várias vi-brações pixeladas rubras projetadas e as visuais tão intensamente marcadas.
Tratando de forma lúdica e mani-comial, espera-se que o visitante percor-ra a obra com curiosidade, sempre com mudanças de humor e visão a cada novo passo. Seu esboço foi feito para mostrar contrastes e discussões, estabelecendo-se, assim, como uma grande plataforma democrática, na qual o sol e o céu dão as respostas, porque o que há em frente é o puro clichê do esgotamento.
Orientador: Jaime Gonçalves de AlmeidaBanca examinadora: Aleixo Furtado, Luciana Sabóia e Maria Fernanda DerntlArquiteto convidado: Ricardo Theodoro
Módulodesenho por Matheus Maramaldo
Teatro de Arenadesenho por Matheus Maramaldo
T

111

2/2014112
ARQUI
ANTI UTOPIA URBANADANILO FLEURY
Idealizado para ser um oásis no meio do cerrado brasiliense, o R$ tinha uma proposta ousada e caríssima. Em uma área de 12,56km2, foi construído um gigantesco condomínio de luxo que abrigava cerca de 400 mansões mobilia-das com o que havia de mais tecnológico na época. Entre suas atrações encontra-vam-se: uma réplica fiel do extinto Jar-dim do Palácio de Versalhes; uma praia artificial com mais de 2 quilômetros de extensão; uma pista de esqui no alto de uma montanha nevada (também artifi-cial); uma selva (artificial!) com espécies de flora e fauna, hoje extintas, como por exemplo o rinoceronte asiático, a arara azul e o urso polar; universidade; clínica de estética e campos de golfe. Tudo cer-cando uma belíssima reprodução de um château francês que abrigava o maior shopping center das Américas. No Ver-sailles Shopping Center, os moradores e visitantes podiam encontrar desde arti-gos para o lar à concessionárias de carro.
O Condomínio Residential Shopping era isolado do resto do mundo por uma grande cúpula que, além de purificar o ar, controlava o clima e a temperatura. Na época do Natal, fazia nevar; nos fins-de-semana e feriados, um sol (filtrado) de rachar fazia a alegria de quem gostava de praia -- uma tecnologia inédita em 2016. Nenhum lugar do planeta abrigava um projeto tão megalomaníaco como aquele.
Para comprar uma das mansões dentro do condomínio, o cliente deveria entrar em uma lista de espera que contava com o nome de mais de 100 mil famílias. Os candidatos a moradores eram analisados por uma comissão e se fossem contem-plados, poderiam desfrutar do maior em-preendimento residencial e comercial da Era Pós-Moderna.
De 2016 a 2029, o R$ era aberto para moradores e visitantes. Em sua inaugu-ração, no dia 21 de abril de 2016, um congestionamento de mais de 300 quilô-metros formou-se diante de seus portões. Eram consumidores curiosos para visi-tar e conhecer o R$. A cúpula poderia ser vista de muito longe, o local tornou-se um ponto de turismo da região de Brasí-lia. Não era permitida a entrada a pé e o único transporte coletivo era o que leva-va e trazia os funcionários, uma grande caminhonete apelidada de “Camburão”. Nesse período que permaneceu aberto, o R$ tinha a maior concentração e a maior circulação de dinheiro do país. Porém, com o Colapso de 29, mudanças urgentes precisaram ser feitas... (to be continued)
Orientador: Elane Ribeiro PeixotoBanca examinadora: Carolina Pescatori, Pedro Paulo Palazzo e Leandro CruzArquiteta convidado: Cristina de Oliveira
Centro de higienização subterrâneopor Danilo Fleury
Vista do Verssailes Shopping Center-por Danilo Fleury
T

113
futuro apocalípticopor Danilo Fleury
Acesso ao R$por Danilo Fleury
Praia artificialpor Danilo Fleury

2/2014114
ARQUI
CASA DE RETIRORELIGIOSO
ERICK WELSON MENDONÇA
O que se buscou foi a proposta de um projeto que atendesse a uma necessi-dade coletiva. Pensar um espaço edificá-vel que expressasse o sagrado e que per-mitisse condições eficazes ao serviço dos agentes da Igreja Católica. O programa de uma Casa de Retiro se assemelha a uma hospedaria, restaurante, vestiários, auditórios, oratórios, jardins e espaços livres – é uma escola. Os usuários desta edificação não são pessoas consagradas/ordenadas, ou seja, não são padres, frei-ras, monges, e sim, o que a igreja chama de “leigas” (pessoas comuns da comuni-dade, fiéis, que participam da Igreja e for-mam grupos de atividades).
As considerações de maiores desta-ques que resultaram na “cara do projeto” foram: 1. as particularidades do progra-ma de necessidades aliadas à compreen-são do tema; 2. a articulação dos espaços à capacidade máxima de usuários (425 pessoas, sendo 300 cursistas e 125 evan-gelizadores); 3. a localização (área rural de Brazlândia/DF); 4. a topografia.
O projeto possui a capacidade e fle-xibilidade para a realização de cinco reti-ros simultaneamente, de forma que aten-desse à instituição EESA na sua escala
estadual (no caso, DF). O edifício alto foi implantado na hi-
potenusa do lote triangular-reto, por ser a maior lateral e pela proteção a oeste que proporcionaria ao restante do lote. Pilotis + 2 andares + cobertura, com três caixas de escada e um de elevador, nele se con-centram os dormitórios, e vestiários, se-parados por sexo e por funções, além do refeitório com duas cozinhas e trezentos lugares no subsolo e salas de eventos no térreo. Nele está o conjunto de banheiros de toda edificação. Na cobertura (3º ní-vel) há dois terraços que permitem visu-ais para o horizonte, além de configurar mais um nível de área de interação além da plataforma.
Na parte de cima da plataforma, pousa o cone inclinadamente cortado, por sobre o espelho d’água. De planta circular, é partido em cinco fatias, confi-gurando cinco espaços de oração, acessí-veis pelo corredor que os envolvem, num jogo de sombra e luz, a preparar a transi-ção do espaço comum ao sagrado.
Exatamente abaixo das capelas, e da plataforma, se instala o auditório, também circular, fatiado em cinco, porém com divisórias retráteis, por permitir fle-

115
xibilidade. Escondido abaixo da platafor-ma há o estacionamento para os carros dos evangelizadores e os cinco ônibus que transportam os cursistas (fretamen-to particular é o único jeito de se acessar a edificação, por estar em uma área mui-to isolada, conforme o “retirar-se” pede).
Como elementos de ligação entre o edifício e as capelas, lançam-se a mar-quise e o teatro de arena, abrindo acesso e fornecendo vento e luz à parte inferior da plataforma, onde se encontram os au-ditórios.
Apesar da complexidade do progra-ma, buscaram-se a síntese e a leveza e abertura para a paisagem. Diante da sua conjuntura, configurou-se como um es-paço dinâmico e simples que representa a proposta da Escola de Evangelização.
Orientador: Cláudio QueirozBanca examinadora: Ivan Manoel Rezende do Valle, Raimundo Nonato Veloso Filho e Ana Elisabete Medeiros Arquiteto convidado: Antônio Carlos Alvetti
Imagens renderizadaspor Erick Welson Medonça
T

2/2014116
ARQUI
COMPLEXOCULTURAL
EM PLANALTINA
FABRÍCIA DE SOUZA FIGUEIREDO

117
Planaltina tem por ela mesma uma propensão histórica no DF. Por sua condi-ção particular e por suas múltiplas ma-nifestações culturais existentes.
Depois da inauguração de Brasília e como consequência, o aumento do contin-gente populacional, em 1966, foi elabora-do um Plano de ocupação que garantisse a preservação da parte antiga da Cidade – Setor Tradicional – e que permitisse a nova expansão, ser um bairro autônomo – Vila Buritis. Entre esses dois bairros foi planejada uma faixa de integração. Nessa faixa se encontram os principais equipamentos urbanos da cidade como, por exemplo, o Setor Administrativo e a Rodoviária.
O terreno do Complexo Cultural foi estabelecido 20 anos após esse plano, re-sultando da divisão do lote do Setor Ad-ministrativo. A parte destinada à cons-trução do Complexo Cultural encontra-se vazia até hoje e recebe alguns eventos
provisórios como circos e Shows. Para desenvolver o programa de
necessidades foi necessário analisar os eventos culturais e o cotidiano da cida-de. Além disso, três projetos serviram como diretrizes. São eles: o Centro Cultu-ral Georges Pompidou por sua escala em relação ao espaço medieval envolvente, preexistente, e a flexibilidade horizontal e vertical do edifício; o Centro Cultural Jean Marie Tjibaou devido a sua implan-tação, desfrutando da natureza paisagís-tica e o simbolismo contido no caráter cultural dos “percursos étnicos” e por úl-timo o SESC Pompeia em São Paulo pela relação com as velhas instalações res-tauradas e reaproveitadas, mas em har-monia com a parte nova, arrebatadora, mas igualmente harmoniosa, face a área restaurada. No caso, trata-se da condição do novo equipamento, diante da tradição e da escala de Planaltina.
Após muitos estudos volumétricos,
enfim, foram propostos quatro edifícios que integram a malha urbana preexis-tente. Eles Possuem alturas diferentes e formam entre si trajetos e praças. Essas volumetrias “fragmentadas” criam vários enquadramentos e ocupações diversas, ao mesmo tempo isoladas. Dessa forma podem acontecer eventos simultâneos no interior e no exterior dos edifícios. Os espaços principais são: as praças, o mirante, os salões de dança, o teatro, as salas de música, a biblioteca e o museu.
Orientador: Cláudio QueirozBanca examinadora: Kristian Schiel, Maribel Aliaga e Raimundo Nonato Veloso FilhoArquiteto convidado: Antônio Carlos
T
Imagens renderizadaspor Fabrícia Figueiredo

2/2014118
ARQUI
KARTÓDROMO DOGUARÁ
HANA AUGUSTA DE ANDRADE
Em todas as categorias do automobi-lismo, vê-se um denominador comum: to-dos os seus pilotos iniciaram-se no mun-do do esporte através do kart. O Brasil é um exportador de pilotos para as catego-rias internacionais, porém são poucos os espaços adequados à sua formação. Como meio de garantir um espaço de trei-namento de qualidade aos futuros cam-peões brasilienses, escolhi no projeto de diplomação propor uma reestruturação do Kartódromo Ayrton Senna, de forma que ele se torne uma referência nacional em centro de treinamento de kart. Porém, não se pode pensar no cartódromo sem levar em conta o espaço no qual está in-serido, o Centro Administrativo Viven-cial e Esportivo do Guará (CAVE), que de-mandava modificações urbanas.
A proposta desenvolvida para o CAVE consistiu na criação de conexões

119
e ordenação espacial a partir das edifi-cações existentes. As maiores alterações observadas foram o remanejamento do depósito da Administração e demolição das edificações obsoletas (antigo Rotary, antiga Casa da Cultura e Salão Multiuso), para a criação de novas áreas de lazer para a população. Outra grande interven-ção foi feita na pista existente no meio do CAVE. Ela foi transformada em uma grande promenade que conecta a área es-portiva às outras áreas do complexo. A nova pista iniciar-se-á ao lado da área de cross, contornando o CAVE e se conectan-do ao Guará I pela pista existente.
Com a reformulação do CAVE foi possível a expansão da área do cartó-dromo. Com isso, a pista foi reformulada para se adequar às exigências interna-cionais. As arquibancadas foram altera-das de forma a se inserirem no terreno,
compondo a paisagem do parque.A edificação foi desenvolvida para
acompanhar a pista e suas curvas. Pen-sou-se em dois blocos: um que abranges-se boxes e lojas (térreo, linear) e outro que reunisse toda a área administrativa (bloco vertical).
A principal característica do pro-jeto é a laje, que explora o espaço como uma fita. A laje, portanto, é o elemento de força da edificação, Toda sua volumetria e fechamento foram trabalhados para en-fatizar este elemento arquitetônico.
Orientador: Elane Ribeiro PeixotoBanca examinadora: Carolina Pescatori, Oscar Luis Ferreira e Raimundo NonatoVeloso FilhoArquiteto convidado: Breno Rodrigues
Proposta para o CAVEimagem por Hana de Almeida
imagens renderizadas por Hana de Almeida
T

2/2014120
ARQUI
Hospital do câncer de Brasília: uni-dade pública, instrumento facilitador na recuperação e tratamento, destinado ao suprimento de demandas regionais. For-mulei esta proposta de projeto com intui-to de investigar a potencialidade criati-va e de síntese da arquitetura visando contribuir nos processos terapêuticos e incentivar, indiretamente, o atendimento a uma demanda existente no DF.
Estruturei o princípio do projeto como uma analogia ao lar, mas logo per-cebi o engano: poderia surtir efeito posi-tivo em crianças, mas não em adultos. Nenhum hospital se compara a um lar. Busquei definições do que é a “humani-zação” na arquitetura (o oposto seria “de-sumanização”?) e creio ter encontrado soluções satisfatórias.
A necessidade de se “humanizar” a arquitetura e de aproximá-la às ações so-ciais foi um dos fatores que me guiaram nas resoluções do projeto hospitalar.
As analogias mais usadas por ar-quitetos para a humanização da arquite-tura hospitalar se resumem em “hotel”,
“figura do espaço urbano e do convívio social”, “lar e possibilidade da intimida-de” e, por último, “relação com a natureza e a integração com obras de artes”, sendo esta a que mais utilizei no projeto.
Atenção Psiconeuroimunológica aplicada à arquitetura: a psiconeuroimu-nologia estuda as relações entre emoções e doenças físicas e a associação às dis-funções imunológicas, como o câncer. Al-guns autores apontam como o ambiente hospitalar pode auxiliar nos tratamen-tos, fazendo, por exemplo, bom uso da luz (influencia o controle endócrino, humor etc.) e utilizando-se das distrações positi-vas, como a boa relação exterior-interior.
Partido: o uso de uma arquitetura horizontal e pavilhonar ajuda com a inte-gração exterior-interior, facilitando as vi-suais da paisagem em vários pontos. Por exemplo, as varandas nas extremidades dos pavilhões; as sacadas na internação; percurso no jardim pelo pomar, interli-gando praças; estares em áreas comuns em corredores etc.
O partido é suspenso no terreno,
permitindo o escoamento livre de águas pluviais e a permeabilidade do solo. Os pavilhões são estruturados por vigas vierendeel, que geram fachadas ventiladas com pergolados.
No programa arquitetônico, dei amplo espectro às funções exercidas no hospital, com áreas que permitam trata-mentos alternativos e atividades do coti-diano dos pacientes, como salas de aula para pacientes em escolarização, cape-las, salas para musicoterapia, artesana-to, entre outras, além de suporte social às famílias, por meio de hospedagem em si-tuação de baixa renda, estação de ônibus com apoio e proximidade com equipa-mentos públicos de Paranoá (restaurante comunitário, Hospital geral).
Orientador: Cláudio QueirozBanca examinadora: Maribel Aliaga, Oscar Luis Ferreira e Reinaldo Guedes MachadoArquiteto convidado: Juan Carlos Guillén Salas
CENTROONCOLÓGICO
ISABEL CABRAL ALENCAR
T

121
Processo de criação
Mudança da formas do pavilhão de circulação principal e anexo de funções não-hospitalares, para melhor adequação às diretrizes
Processo de criação
Mudança da formas do pavilhão de circulação principal e anexo de funções não-hospitalares, para melhor adequação às diretrizes
croquis por Isabel Alencar
imagem por Isabel Alencar

2/2014122
ARQUI
O Instituto das Artes contempla a necessidade de espaços para o ensino e traz para o câmpus universitário Darcy Ribeiro novos espaços de convivência e para encontro entre as pessoas, abrindo lugar para apresentações, eventos e mos-tras ao ar livre.
O “de”, de Instituto de Artes, pressu-põe todas as artes (Música, Dança, Pintu-ra, Escultura/Arquitetura, Teatro, Litera-tura, Cinema); o “das” denota a integração pretendida pelo projeto. Este conceito revela-se em cada intenção projetual, na busca pela integração do conjunto ao entorno e aos principais eixos de acesso e circulação, bem como sua integração à paisagem construída. Mostra-se na busca por integrar os espaços, integrar a per-manência e a passagem pelo edifício.
O projeto se localiza na Gleba A, no SS-12, próximo ao Memorial Darcy Ribei-ro e Instituto de Biologia, em unidade com o conjunto cultural do câmpus. Com-põe-se por três edifícios dispostos em tor-no da Praça das Artes.
O maior edifício molda-se à curva do terreno, respeitando e acompanhando sua topografia. O mesmo desenho é tam-bém acompanhado pela rampa que nos leva sinuosamente a sua entrada princi-pal. A grande abertura permite o enqua-dramento do teatro que se coloca logo ao fundo e configura-se num espaço a ser ocupado pelos alunos e suas atividades.
É neste edifício que se realizam as gran-des oficinas, em salas e anfiteatros para o ensino coletivo, permeável pelo pilotis existente em toda sua extensão. O segun-do, o bloco Apoio, coloca-se ao conjunto no eixo de ligação com o Beijódromo e pa-ralelo ao IB, e também recepciona aque-les que chegam pelas principais vias de acesso ao terreno. Abriga o centro de do-cumentação, a biblioteca das artes junto com áreas de estudo, pós-graduação e es-paços administrativos. O terceiro edifício apresenta-se ao centro da grande praça, abrigando o teatro, café, alas para exposi-ções, salas de aula e salas de ensaio.
A praça das artes é um espaço de circulação e passagem, ligando os edi-fícios de suas proximidades à via L4, e fazendo ligação dos três edifícios no con-junto. E também de encontro, pois nos convida a um espaço de convivência aberto a todos os alunos do instituto e da universidade, onde o teatro integra-se a sua cena exterior.
Sejam muito bem-vindos ao Institu-to das Artes!
JANA CÂNDIDA CASTRO DOS SANTOS
INSTITUTO DE ARTES
Orientador: Cláudio QueirozBanca examinadora: Raimundo Nonato Veloso Filho, Maria Cecília Gabriele e Ségio Rizo DutraArquiteto convidado: Antônio Carlos
Vista do Conjuntoimagem por Jana Santos
Praça das artesimagem por Jana Santos
T

123

2/2014124
ARQUI
Net Zero Energy Buildings (nZEB) são edifícios altamente eficientes (do ponto de vista energético) e capazes de produzir, no período mínimo de um ano, pelo menos a mesma quantidade de ener-gia que consomem. Combinam estraté-gias de redução de consumo com aumen-to de eficiência energética e geração de energia a partir de fontes renováveis.
Localização: O terreno situa-se no
extremo sul do Cãmpus Universitário Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasí-lia (UnB), a sudeste do Centro de Desen-volvimento Tecnológico (CDT). O edifício proposto localiza-se dentro da área pre-vista pelo projeto de urbanização da par-te Sul e do Parque Científico e Tecnológi-co. O PCTecUnB tem como propósito ser um mecanismo a mais de construção de novas relações institucionais entre uni-versidade, empresa, governo e sociedade.
Conceito: A função específica do nZEB da UnB é dar estrutura para o desenvolvi-mento de estudos em áreas tecnológicas da Universidade, conjugando laborató-rios relacionados à eficiência energética em edificações de várias áreas (Arqui-tetura, Engenharia Mecânica, Elétrica e Civil).
Entende-se que o edifício deveria ter imagem coerente com a UnB, bem como com a função ao qual o edifício se
MÁRCIA BOCACCIO BIRCK
NZEB EDIFÍCIO DE BALANÇOENERGÉTICO NULO NA UNB

125
Orientador: Claudia Naves AmorimBanca examinadora: Antônio Rodrigues Filho, Daniel Sant’ana e Raquel BlumenscheinExaminador convidado: engenheiro João M. Pimenta
propõe: testar tecnologias relativas à efi-ciência energética em edificações. Sendo assim, o projeto é regido pelos seguintes princípios:
•Integração ao Câmpus Darcy Ribei-ro.
•Racionalidade e tecnologia: otimi-zação da construção e diminuição dos danos ambientais.
•Aproveitamento das condicionan-tes climáticas e visuais: maximização do potencial dos recursos naturais, para que, dessa maneira, a quantidade de energia demandada seja menor; aprovei-tamento das melhores vistas.
•Caráter experimental do edifício: o
próprio edifício é objeto de estudos e pes-quisas sobre o desempenho das várias tecnologias nele empregadas.
O Projeto: As diferentes atividades realizadas no edifício, embora sejam em áreas afins e que demandem certo nível de integração, requerem uma separação física. Dessa maneira, divide-se o conteú-do do programa de necessidades em três volumes: um bloco destinado a escritó-rios, que produz pouco ruído e demanda silêncio; outro a laboratórios, que produz bastante ruído; e, por fim, um bloco pú-blico, contendo atividades diversas. Com o objetivo de integrar tais volumes, proje-
ta-se um elemento que envolve os diver-sos blocos e que também tem a função de proteção da radiação solar e da chuva. A geometria simples dialoga com os pri-meiros edifícios do Câmpus Darcy Ribei-ro e a organização dos volumes auxilia o usuário a se localizar.
Fachada Sudeste-leste - parte dessa fachada é in-terativa, permitindo-se que diferentes materiais
sejam testadosimagem por Gloria Lustosa Pires
Vista da cobertura - cobertura utilizada para exposição da tecnologia experimental
imagem por Gloria Lustosa Pires
Vista aérea - Vista aérea demonstrando a implantação do edifício, bem como as placas
fotovoltaicas na coberturaimagem por Gloria Lustosa Pires
T

2/2014126
ARQUI
O aumento do número de idosos no cenário nacional é apresentado nos últi-mos anos através de pesquisas estatísti-cas. No Distrito Federal, esses dados são ainda mais expressivos: os idosos repre-sentam uma participação na população total acima da média nacional, somando pouco mais de 326 mil pessoas, o equiva-lente a 12,8% da população total.
Mas o perfil desse grupo mudou. Nos últimos anos o idoso dependente e incapaz de seguir ativo na sociedade e economia brasileira não é mais a maio-ria. Os novos idosos apresentam boa dis-posição física, independência em suas atividades, expectativas de futuro e von-tade de continuar atuando no mercado de trabalho.
A análise crítica do perfil social brasiliense foi inspiração para o proje-to do Instituto de Integração entre Ge-rações, elaborado a partir do projeto pe-dagógico SENAI PARA MATURIDADE,
NÍNIVY CAROLINY MELO DE OLIVEIRA
ESPAÇO DE AÇOESDE MELHOR IDADE
~

127
desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizado Industrial. O espaço promo-verá cursos técnicos e profissionalizan-tes, possibilitando ao idoso a integração com o público jovem. O espaço também proporcionará ao público jovem o co-nhecimento acerca de tradições trazidas pela experiente abordagem de quem já viveu mais anos.
A partir do gesto simples, inspirado em uma fita, de dobrar e flexivelmente envolver partes tornando-a um conjunto, nasceu o conceito para o edifício escolar: integrar.
Localizado no SGAN 606, o Institu-to foi implantado no terreno que atual-mente já exerce a função de integrar, já que é utilizado como caminho, unindo a L2 Norte ao Câmpus Universitário Darcy Ribeiro. Buscou-se no projeto valorizar a atividade já existente no local, pois a partir da disposição de rampas e espaços possibilita-se a travessia ou a permanên-
cia. Ao Idealizar os primeiros traços do
projeto, optou-se pelas rampas para inte-grar as partes de maneira contínua e in-clusiva. Deste modo, o projeto visa criar acessíveis e confortáveis condições de uso para jovens e idosos.
A rampa externa liga de maneira sutil o público ao privado, possibilitando assim a integração. Entrando no edifí-cio o usuário pode utilizar rampas para atravessá-lo, ou ainda acessar as partes do edifício e suas funções nos diversos pavimentos.
Os espaços funcionais dentro do edifício encontram-se organizados orto-gonalmente e quase simetricamente, fa-cilitando a compreensão do espaço, for-malidade relevante para um edifício de ensino.
Os espaços verdes internos também se constituem como elemento integrador. O bucólico, conforme identificado nas
análises anteriores ao projeto, é utiliza-do tanto nas superquadras residenciais quanto no Câmpus Universitário como conector das diversas partes, tornando-a um conjunto.
O Edifício propõe a relação de inte-gração entre os grupos societários, pro-porcionando trocas, culturais, técnicas e temporais entre os distintos públicos. Entre, fique à vontade e nos ensine sobre o seu tempo.
Orientador: Cláudio QueirozBanca examinadora: Claudia Garcia, Maria Cecília Gabriele e Raimundo Nonato Veloso FilhoArquiteto convidado: Breno Rodrigues
Imagens renderizadaspor Nínivy de Oliveira
T

2/2014128
ARQUI
Educação ambiental: dentre as contribuições dos vários atores sociais, jurídico, científico, político e econômi-co, o educacional traz um meio mais interativo para contribuir para o desen-volvimento de um Brasil sem pobreza, buscando ensinar que o homem faz parte do meio ambiente, e que desta forma um equilíbrio entre natureza e cidade deve ser alcançado, sem agressões e sim com uma interação harmoniosa.
O parque e a cidade: o Parque Eco-lógico Mata da Bica, localizado na cidade de Formosa-GO, a 75 km de Brasília, abri-ga a nascente do Rio Preto, afluente da Bacia do São Francisco. Rico de variada flora e fauna, o parque é procurado por instituições de ensino locais e do entor-no, incluindo o Distrito Federal, para au-las ao ar livre sobre botânica, biologia, ciências naturais, zoologia etc.
Sendo um grande articulador mu-nicipal de Formosa, o parque sobreviveu ao crescimento não planejado da cidade por muitos anos, hoje cercado por qua-tro grandes bairros, incluindo o central. O parque não tem a atenção que merece da comunidade, daí então surgindo a ne-cessidade de interagir os habitantes com este bem natural que participa do dia a dia do formosense sem que este lhe dê relevância. Seu entorno encontra-se mar-ginalizado, em grande parte, sendo foco
RUBIANA LEMOS
CENTRO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL
~

129
de insegurança para os transeuntes, que evitam os arredores do parque.
A proposta do CEA não é uma novi-dade para a legislação da cidade, sendo sua necessidade abordada desde a cria-ção oficial do parque como área de pre-servação em 2000, mas não concretizada.
O CEA: Centro de Educação Am-biental seria implantado entre equipa-mentos urbanos que são foco de grande circulação – a rodoviária, um hospital e uma praça que está entre tais equipa-mentos. Abre-se para a cidade, buscando a interação com tais equipamentos e a curiosidade de quem transita pela re-gião. Ao entrar no Centro, o visitante tem contato com a horta comunitária do lado esquerdo, cenário de aulas práticas, e do lado direito um jardim com flores típicas do cerrado. O caminho principal leva ao acolhimento do Centro – uma cafeteria e um Ponto de Informações/ Bilheteria –, de onde o visitante pode se direcionar para os vários ambientes de interesse.
O CEA, organizado em dois pavi-mentos, conta, além dos espaços citados acima, com biblioteca, galeria, depósitos, salas de aula, laboratório de informática, administração, auditório, estufa/viveiro de mudas e sanitários de uso convencio-nal e o dito seco, com compostagem da matéria orgânica para produção de adu-bo. Estes ambientes são alternados com
a presença de praças de convivência ao longo do edifício, que permitem também uma maior permeabilidade visual, bus-cando uma transição mais suave entre a cidade e a mata.
O Centro traz para o cenário cons-trutivo local materiais que buscam o equilíbrio ambiental, como o Bambu Laminado Colado (BLC), presente na es-trutura, no piso e nos brises, o painel wallwood, feito de madeira sarrafeada e placas cimentícias, no contrapiso, e a co-bertura com telhas Shingle, escolhidas por ser um material de fácil instalação e porque sua origem é do que é descartado do asfalto.
O projeto também aborda a estru-turação de um plano mínimo de manejo e zoneamento do parque, interagindo-o com o CEA e com a cidade.
Orientador: Raquel BlumenscheinBanca examinadora: Liza Andrade, Frederico Flósculo e Jaime de AlmeidaArquiteto convidado: Stepan Krawctschuk
Imagem renderizadapor Rubiana Lemos
T

sobre as ilustrações(VENCEDORES DO CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO PARA AS SESSÕES)
Quando soubemos do concurso para elaboração das ilustrações da revista ARQUI uma palavra nos chamou a atenção: multifacetado. Não apenas por ser um caráter da essência do arquiteto, mas também pela proposta que a revista apresenta, abordando as diversas faces presentes na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília.Como não conheciamos o conteúdo decidimos usar como guia o arquiteto homenageado, no caso, Lina Bo Bardi.Agora que nós tinhamos esses dois conceitos buscamos junta-los de uma forma simples e ao mesmo tempo simpática, sem enormes reflexões ou palavras difíceis. Depois de es-tudar nossas possibilidades surgiu a ideia de trabalharmos com sólidos, principalmente por trazer essas diferentes faces do arquiteto mas também pelo seu significado filosófico.Os sólidos platônicos são importantes não apenas no campo da matemática, mas no da filosofia. Cada um deles representa um elemento como a terra, o fogo, a água, e o ar. A es-colha nos pareceu bem pertinente já que no livro “Sutis Substâncias da Arquitetura”, Lina Bo Bardi usa o termo substâncias ao invés de materiais para explicar de que estaria feita a sua arquitetura. Assim, ela entende esses elementos como essenciais para a composição da sua obra.
ANA CAROLINA MACEDO MORETHGABRIEL ERNESTO MOURA SOLÓRZANO
[email protected]@gmail.com
As ilustrações se encontram na capa e nas páginas 8, 26, 34, 46, 68, 76 e 86.

ARQUI DIGITAL EM HTTP://WWW.FAU.UNB.BR/
CONTATO: [email protected]
ARQUIR E V I S T A D A F A U - U n B

faunb
2 / 2 0 1 4