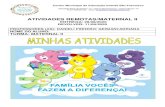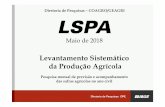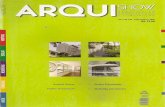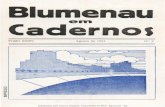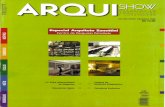ARQUI #4
description
Transcript of ARQUI #4

R E V I S T A D A F A U U n B
Dezembro de 2015 - edição 1/2015 - no 04
faunb
ARQUI


ARQUIR E V I S T A D A F A U U n B
faunb
Universidade de BrasíliaFaculdade de Arquitetura e Urbanismo
Dezembro de 2015 - edição 1/2015 - no 04

LAGO PARANOÁ
entra por onde?

LAGO PARANOÁ
entra por onde?
Nicolas Behr

sta quarta edição da ARQUI foi produzida em tempos de alta estiagem. A revista tematiza as cores de Brasília nesta estação e, oportunamente, celebra o Lago Paranoá, cuja orla está em vias de se tornar mais pública. Celebramos também a consolidação de nossa proposta editorial.
Desde o número 2, quando retomamos a ideia da antiga Revista da FAU-UnB, dando-lhe o novo nome, a ARQUI propôs documentar e divulgar, com ênfase na linguagem visual, trabalhos de alunos de gradu-ação, palestras, prêmios, eventos e outras notícias do semestre anterior. Neste número, a ARQUI mantém esta proposta, mas traz também algumas inovações.
Como se pode ver na coluna ao lado e ao longo de nossas páginas, parte dos textos apresenta-se também na versão em inglês. A intenção é alcançar uma divul-gação mais ampla de nossos trabalhos, estimulando possibilidades de diálogo e intercâmbio. Outra novi-dade é o minicurso de produção gráfica e editorial oferecido a alunos e técnicos enquanto esta edição estava sendo elaborada. Buscou-se assim incentivar o interesse por essa área na Faculdade e ampliar a interação entre a Revista e a comunidade acadêmica.
As principais seções da revista permanecem. É um indicativo da continuidade e regularidade das iniciativas de ensino e extensão na Faculdade. Basta ver, por exemplo, os desdobramentos do Programa Pé na Estrada. Iniciado por um grupo de professores do Departamento de Teoria e História em 2010, o
E
editorial
Programa foi encampado pelos alunos e agora já tem muitos pés percorrendo esquinas de Brasília e estradas do Brasil. No 1º semestre de 2015, os encontros científicos, de caráter internacional ou local, foram bastante variados nas temáticas – habitação, paisa-gismo, África do Sul, poder, morfologia e até mesmo Brasília! A FAU-UnB ganhou prêmios e teve destaque na mídia. Como se vê, a produção de conhecimentos na universidade pode ter impactos e implicações sociais diversos, dos mais imediatos àqueles perceptíveis apenas no longo prazo, das intervenções concretas às discussões em sala de aula e publicações funda-mentadas na pesquisa.
Os trabalhos finais de curso surpreendem mais uma vez pela criatividade na sua formulação e apre-sentação. Nos Ensaios Teóricos, veem-se resultados de um esforço de pesquisa em nível de graduação, suge-rindo possibilidades de desenvolvimentos na pós-gra-duação. E os trabalhos de Diplomação trazem tanto projetos pensados para sítios e limitações reais como também propostas utópicas que, como se sabe, têm sido da maior importância na construção da História da Arquitetura e do Urbanismo.
Este conjunto de trabalhos e iniciativas parece propício ao clima desta estação: apesar do risco de incêndios, é também o tempo de exuberantes flores-cimentos.
A equipe editorial

This fourth edition of ARQUI was produced in a time of severe drought. The journal uses the colors of Brasilia in this season as a theme and opportunely celebrates Lake Paranoá, whose shores are about to become more public. We also celebrate the consolidation of our editorial proposal.
Since issue 2, when we took up again the idea of the old FAU-UnB Journal and renamed the journal, ARQUI has, while emphasizing visual language, proposed to document and publish the work produced by undergraduate students and to report the lectures, awards, events, and additional news from the previous semester. In this issue, ARQUI not only maintains the proposal, but also introduces a few innovations.
As can be seen throughout our pages, some of the texts are displayed in their English translation as well. The aim is to reach a wider readership of our work, encouraging greater dialogue and exchange. Also new is the graphic production and publishing minicourse offered to students and technicians and announced when this issue was still in the making. We have thus sought to stimulate an interest in this field in the school and broaden interaction between the journal and the academic community.
The main sections of the journal remain. This is indicative of the continuity and constancy of initiatives in teaching and continuing education in the school. Just consider the developments of the “Programa Pé na Estrada” (¨Hit the Road Program”), for one. Started by a group of professors from the Department of Theory and History in 2010, the program was taken over by the students and
now there are many who have set out to cover the city blocks and venture along the roads in Brazil. In the first semester of 2015, the scientific meetings, international or local, spanned a diversity of topics – housing, landscape design, South Africa, power, morphology, and even Brasilia! FAU-UnB won prizes and featured prominently in the media. As can be seen, knowledge production at the university may have diverse social impacts and implications, from the most immediate to those only perceptible in the long term, from concrete interventions to classroom debates and research-based publications. The end-of-program projects or papers again surprise us with their creativity in formulation and presentation. Theoretical Essays show the results of research efforts at the undergraduate level with the potential for further developments at the grad-uate level. The Graduation Projects include not only plans which consider real sites and limitations but also utopian proposals, which, as we all know, have been of the utmost importance in the construction of the History of Architec-ture and Urbanism.
All of the works and initiatives seem to agree with this season’s climate: despite the risk of fires, this is also the time of exuberant flowering.
The editorial staff

diplô
destaquesteleport city gabriela bílácasa de brincar julia lunanovo centro em montes claros nágila ramoscentro de tênis gustavo kuertenrodrigo rezende
recuperação e intervenção do cine drive-in beatriz gomesespaço de trabalho compartilhado bernardo vianna duqueo avesso de brasília ao avesso eduarda aunjuntarq federica filippone, giulia filippone, rachele sipione e salvatore ciceroregeneração urbana da região do estrei-tamento do córrego jataí adauto melorevitalização w3 ana paula seraphimintervenções em espaço público gabriel ernesto
sumárioensaio
vivendas paraíso ana reino caso do programa minha casa minha vida entidades camila cardoso silvaintegridade e intervenção camila maia diasbrasília: o nome das coisas e dos lugares na construção da memória caroline albergariaa metropolização no brasil felipe cláudio ribeiro da silvaas casas usonianas de frank lloyd wright fernanda mazzilli toscano de oliveiraruas comércios lugares gloria lustosa pires
PESQUISA
NOVOS ARQUITETOS
sobre o conceito de arquitetura em étienne-louis boullée a partir da filosofia da representação jacqueline barbosam.o.b. - manual de ocupação de brasília júlia solléro de paulade fora para dentro lara caldas silveiraarquitetura e urbanismo na era digital marcelo bragamodernidade e paisagem maria fernanda fariaso pedestre em eixos monumentais milena vincentiniarquitetura e isolamento: conceito, elementos e programas vanessa costalonga
centro de retiro josefinos hernany dos reisintervenção em patrimônio histórico ingrid beatriz siqueiravem pro parque camila abrãopermacultura urbana lucas parahybaescola classe e jardim de infância joão francisco waltermob. in. campus juliana vasconcelos[re]viva o centro julio paivaespaço leitura biblioteca comunitária do guará marcelo aquinomidiateca pública de brasília marcelo oliveiraintervenção no mab mariana leiteprojeto participativo infantil marilia tulermosteiro de são bento matheus macedocentro de excelência esportiva muhammad bazilaclube do servidor paulo silgueironovo autódromo de brasília tasso mendonça
9
10
1214
1516
18
19
20
21
22
2324
26
28
30
33
34
38404448
52
56
58
6062
64
6566
6870
727374
767880
82
84868890
9294

31ª quadrienal de praga caraíbaa nova arquitetura de brasília 2015prêmio anpur 2015 método e arte: urbani-zação e formação de territórios na capitania de são paulo, 1765-1811
FAU PREMIADA97 98
102106
workshop de designcasas recebe III colóquio habitat e cidadaniacidade e patrimônio a áfrica do sul e o cenário mundialna invenção de brasíliapnumcolóquio quapá-selpoder e manipulação primeiro simpósio internacional de estética
ENCONTROS109 110114116
118120122124
intercâmbio em sustentabilidadeestudante de arquitetura faz casa na árvore na praçaestudantes e professores da unb discutem código de edificaçõesbrasília pantonethalijapesquisa indica que prédios do noroeste podem consumir mais energiaruínas de uma loucura
NA MÍDIA127
128129
130
131132134
135
pé na estradapé em mg um pé na cidade como prática de ensinopé na esquina bsb monumentalpé com pé ciclo de palestras
NA RUA137
138139
142143
26ª festa da arquitetura natália castanhobrasília pantone gabriela bílá e marilia alves
GALERIA145
146152
lago
relatório de glaziou brasília: olhai pro céu, olhai pro lago sylvia ficher e eduardo pierrotti rossettinicolas behr
HOMENAGEM161
162
164166
168

PES

QUISAPES

ravessia: é muito conhecida a última palavra do Grande Sertão: Veredas de João Guima-rães Rosa. Travessia é a palavra que parece sintetizar todo o processo existencial do personagem principal – Riobaldo Tatarana – e que define o tema construído ao longo de todo o livro. Travessia é a palavra que condensa o processo de deslocamento, enfrentamento do meio e convívio com seus elementos. A travessia transforma o sentido das coisas e transforma aquele que vê, narra e reconta as coisas.
Tomada como metáfora, travessia também pode bem servir para pensar sobre a importância do Ensaio Teórico como uma etapa de um processo, que formal-mente corresponde ao arremate das disciplinas do Departamento de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAU.
Trata-se de uma disciplina singular dentro de nosso currículo, que estimula e propicia ao aluno pensar e enfrentar um assunto qualquer inscrito no domínio de especulação amplo e diverso que configura o campo da arquitetura e do urbanismo. Em prin-cípio, refere-se ao enfrentamento de temas e assuntos que podem interessar ao aluno naquele momento, revelando miríades de soluções, encaminhamentos e procedimentos de pesquisas, novos autores e novas leituras, possibilitando certas conclusões.
Amável senhor que me ouviu, minha ideia confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia.
(Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas)
A partir de um cronograma contido em um semestre, em meio a um rol de outras atividades e disciplinas, o Ensaio Teórico também é um momento especial para o aluno da FAU estudar temas, assuntos e questões que podem lhe conduzir para novos cami-nhos, seja para testar seus interesses, seja para forjar a aproximação ou embasar a Diplomação, seja ainda para desdobrar pesquisas futuras.
Os quatorze Ensaios Teóricos que serão apre-sentados a seguir foram selecionados a partir das 26 indicações realizadas pelas bancas, extraídos de um total de 67 Ensaios. Agradeço o apoio fundamental das professoras Cláudia da Conceição Garcia e Maria Cecília Gabriele, que compuseram comigo uma pequena comissão de seleção. Diante da diversidade de temas e assuntos que os Ensaios Teóricos especulam ficam patentes o potencial de pesquisa e a riqueza latente de enfrentamentos que foram construídos ao longo de cada uma destas travessias.
Fica então franqueado ao leitor o convite para enveredar por estes Ensaios Teóricos, e realizar, por assim dizer, a sua própria travessia...
ensaio
Eduardo Pierrotti RossettiCoordenador de Ensaio Teórico
...T

…The passage: is the well-known last phrase of João Guimarães Rosa’s Grande Sertão: Veredas (The Devil to Pay in the Backlands). The passage is the phrase that appears to synthesize all of the existential process of the main char-acter – Riobaldo Tatarana – and that defines the theme built up throughout the book. The passage is the phrase that condenses the process of relocating and coping with the environment and learning to live with its elements. The passage transforms the sense of things and transforms the one who sees, narrates, and retells something.
Taken as a metaphor, ‘passage’ might also be used to think about the relevance of the Theoretical Essay as the last stage in a process, formally corresponding to the completion of the courses of the Department of Theory and History of Architecture and Urbanism of the school.
It is a unique discipline in our curriculum, encouraging and enabling the student to think about and deal with just any subject registered in a domain of wide and diverse speculation which altogether shapes the field of architecture and urbanism.
“It was kind of you to have listened, and to have confirmed my belief: that the devil does not exist. Isn’t that so? You are a supe-rior circumspect man. We are friends. It was nothing. There is no devil! What I say is, if he did… It is man who exists. The passage.”
(Guimarães Rosa. The Devil to Pay in the Backlands. Translation by James L. Taylor and Harriet de Onis)
In principle, it is about addressing the themes and issues that might be of interest to the students at that particular moment and about coming up with a myriad of solutions, research lines and procedures, new authors and new interpretations, making it possible to reach certain conclusions.
Based on a timetable contained within a semester, amidst a score of other activities and courses, the Theoretical Essay is also a special moment for the architecture student to study topics, subjects, and issues possibly leading to new pathways, be it to test their interest, be it to get closer to or provide a basis for the Graduation Project, be it also to develop future research.
The 14 Theoretical Essays introduced below were chosen from among 26 designated by the committees out of a total of 67 essays. I am grateful to the crucial support given by Profs. Cláudia da Conceição Garcia and Maria Cecília Gabriele, who joined me to form a small selection committee. In view of the diversity of themes and subjects that the Theo-retical Essays speculate about, the research potential and the latent richness of the approaches built throughout each one of the passages become obvious.
Readers are now free to accept the invitation to venture into the Theoretical Essays, and start their own passage, so to speak…
Eduardo Pierrotti Rossetti - Theoretical Essay coordinator

Especulações sobre a localização geográfica do lendário Jardim do Éden motivaram entusiastas e pesquisadores a proporem teorias que determinam localidades do Crescente Fértil ao Rio Orinoco. Quem tiver interesse em visitar o tão disputado sítio pode se dirigir a oeste de Sobradinho, RA-V do Distrito Federal. Todavia, um aviso: será difícil adentrar o enclave, pois só atravessa a cancela do Condomínio Vivendas Paraíso aquele com convite de um de seus moradores.
O ensaio teve sua gênese na vontade de observar os condomínios residenciais horizontais de Brasília, áreas urbanas substanciais da metrópole. Alçando o viés do utópico na visão sobre esse tema ao empreender uma leitura paralela desse espaço com o “paraíso perdido” do Jardim do Éden, o trabalho desenvolveu-se como uma exploração do habitar; o habitar como forma de edificar, pela casa, o projeto de um espaço ideal. Partindo da tipologia da casa unifami-liar, base da urbanidade e modo de vida do condomínio, foi estruturada uma narrativa de associações que se inicia no momento em que a humanidade é banida do paraíso no mito do Éden e encara pela primeira vez a natureza em sua forma hostil. Dos princípios de culturação da paisagem natural na forma
da cabana primitiva de um passado remoto, damos um salto à casa de três suítes, cozinha, área de serviço, sala(s), lavabo, área de lazer, piscina e garagem. A visão do paraíso como lugar ameno de um jardim se transmuta no espaço doméstico e artificial.
Duas leituras foram importantes na construção do trabalho: o artigo A Hermenêutica do Mito (1971) de Emma-nuel Carneiro Leão e o capítulo inicial do livro Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions (2005) de Fredric Jameson. No primeiro o autor empreende uma exegese do mito do Éden buscando desvelar ques-tões existenciais expressas na estrutura da narrativa, dentre as principais a cons-ciência do homem sobre sua mortali-dade e seu desejo por transcendência. No segundo Jameson faz um resumo em linhas gerais do livro The Principle of Hope (1959) de Ernst Bloch, que vê um “impulso utópico” em toda a atividade produtiva humana. Estabelecendo um diálogo entre os dois, temos tanto as raízes profundas de uma inquietação humana de cunho utópico como a sensibi-lização para enxergar a utopia até mesmo nas atividades mais banais do cotidiano, premissas para o início do ensaio.
A partir dessas e de outras leituras
e de um pequeno conjunto de entrevistas com moradores de condomínios da região do Grande Colorado, adjacente a Sobra-dinho, constituiu-se um repertório de imagens e ideias que, associadas em um processo bastante livre, assumindo as liberdades de um ensaio, deu forma aos três principais capítulos do trabalho. Eles abordam desde temas como a domesti-cação da natureza na construção da casa, a oportunidade de se fazer um mundo “à sua imagem e semelhança” no lote vazio como tabula rasa, a casa como refúgio de um mundo do trabalho “de esforços e penas”, até o desejo por continuidade além da vida expresso na constituição do lar.
O percurso inaugurado pela casa de condomínio levou a uma reflexão mais abrangente sobre o habitar e a cidade, limitada em seu escopo e aprofunda-mento pelo tempo de desenvolvimento do trabalho. As redes de ideias suscitadas pelas leituras e reflexões ficam abertas, revelando a profundidade de relações centradas na casa que se dão além da arquitetura.
Ana Rein
vivendas paraísoimpressões sobre o éden e casa de condomínioLed to observe the phenomenon of gated residential communities, suburban developments which rapidly expanded in the area surrounding Brasilia, the author gave the single-family detached dwelling, the basic cells of such spaces, an interpretation from the perspective of utopian writings, especially the ‘lost paradise’ of the Garden of Eden. Investigation into such relationships enabled a variety of approaches to the house as a leap is taken from the image of paradise as a pleasant garden to one of domesticated and artificial nature crystallized into the contemporary dwelling.
Orientadora: Elane Ribeiro PeixotoBanca: Carolina Pescatori e Leandro de Sousa Cruz
1/201514
arqui #4

“Adam and Eve in the Garden of Eden” (1936)Pintura de Charles Mahoney
15

Projetar a habitação priorizando somente as necessidades da fase de cons-trução e da ocupação inicial sem levar em consideração as novas formações familiares, sua evolução e suas neces-sidades, para, posteriormente, adequar a residência segundo novas demandas de seus usuários, resulta, com frequência, em frustrações e custos adicionais aos financiados do Programa Minha Casa Minha Vida.
Para muitas famílias carentes, a ajuda do governo na aquisição da casa própria é o maior incentivo para a supe-ração da pobreza ao longo de suas vidas. Assim, um projeto de qualidade é essen-cial, para que a moradia não volte a ser um problema e seus esforços e investi-mentos se concentrem em outras áreas.
Este projeto deve ser funcional para comportar as atividades essenciais que uma casa deve abrigar, deve ser aces-sível para usuários de todas as idades e limitações, deve possuir elementos que o insiram corretamente na malha urbana, como parte integrante e fundamental
da cidade e, principalmente, deve ser flexível, pois assim ele poderá se adaptar às variadas conformações familiares e suas demandas. Tudo isso pode ser alcançado mais facilmente incluindo os futuros moradores, no início do processo, na elaboração do projeto arquitetônico.
O objetivo da pesquisa é destacar a importância da participação da comu-nidade no processo de projeto para promover uma maior qualidade das habitações de interesse social, segundo os princípios acima citados. Com base nos autores Brandão e Heineck (2003), Palermo (2009), Finkelstein (2009), Brandão (2010), Amorim et al. (2015) e Andrade e Lemos (2015), foi gerada uma matriz de avaliação com critérios e parâ-metros de projeto, com um conjunto de diretrizes para o processo projetual que evidenciem possibilidades de adaptação da moradia ao longo de sua vida útil.
A partir da matriz de avaliação foi feita uma análise comparativa entre um projeto desenvolvido pelo PMCMV- Entidades (Mutirões Tânia Mara e 5
de Dezembro) e outro por iniciativa privada (Conjunto Residencial Parque Saturno), ambos em Suzano, São Paulo, para ilustrar a diferença entre as formas de planejar o ambiente e comportar mudanças ao longo do tempo. O resul-tado indicou que o modelo adotado pelo PMCMV- Entidades é mais eficiente em atender às necessidades básicas e também às individuais dos futuros moradores.
Pretendeu-se, com isto, despertar os profissionais da área de habitação quanto às práticas correntes de projeto e produção dos empreendimentos de habitação de interesse social, visando reforçar a importância dos conceitos de participação, habitação flexível e funcional, e reforçar a necessidade de gerar novos desenhos que permitam maior apropriação do espaço doméstico por seus ocupantes.
Camila Cardoso Silva
With a view to improving the quality of public housing projects linked to the Minha Casa, Minha Vida (My House, My Life) Program, the study is centered on the construction of a project assessment matrix for evaluating such items as popular participation in housing development, flexibility and functionality, typological variety, accessibility, and urban insertion of the undertakings. Two projects of the program were then assessed according to the matrix which was developed.
o caso do programa minha casa minha vida entidades
Orientadora: Liza AndradeBanca: Caio Frederico e Silva e Valério Medeiros
1/201516
arqui #4

Com o declínio da extração do ouro, a expansão da cultura cafeeira para o oeste é motivada pelos estoques de terra disponíveis, pela introdução da mão de obra imigrante, pela tecnologia da mecanização agrícola e pela construção de estradas de ferro que davam acesso à região. Nesse contexto, Álvaro Antunes Coelho chega à região da Alta Soroca-bana, adquirindo as terras da fazenda Santa Sofia, objeto de nosso estudo.
A atuação no patrimônio cultural com vistas a reverter situações de aban-dono e esquecimento revela um grande desafio: o distanciamento entre a teoria e a prática. Desse impasse nascem inter-venções que priorizam a recuperação da dimensão estética como maneira de promover a visibilidade local e turística, gerando o esquecimento de sua dimensão histórica.
Buscando uma abordagem que fosse capaz de abranger amplamente as diversas dimensões do patrimônio,
propõe-se nesse estudo um olhar mais aprofundado acerca do conceito de integridade. Reconstituir a integridade no patrimônio cultural visa recuperar a capacidade de comunicar sua significância cultural. Entende-se que a identificação e recuperação dos atributos que conferem ao bem o status de patrimônio cultural, analisados dentro da realidade vigente, são essenciais para reconstruir sua imagem e seu vínculo com a sociedade.
O objetivo deste ensaio é a opera-cionalização do conceito de integridade, através da identificação de atributos patrimoniais e físico-materiais do bem cultural, com vistas à aplicação no estudo de caso, o Casarão Álvaro Coelho, possi-bilitando a construção de propostas de intervenção capazes de reconstituir sua integridade, com alterações mínimas de sua autenticidade.
Para isso, o estudo é estruturado em duas abordagens. A primeira baseia-se na tese de doutoramento de Flaviana Barreto
Lira, Patrimônio cultural e autenticidade: montagem de um sistema de indicadores para o monitoramento, onde se estudam os atributos patrimoniais como indica-dores da capacidade do bem em transmitir sua significância. A segunda é focada na visão técnico-construtiva desenvolvida por Jorge Eduardo Lucena Tinoco para os estudos do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI –, que nos permite avaliar, através de “rastros materiais”, as alterações sofridas pelo patrimônio ao longo dos anos, bem como o estado atual de seus atributos patrimoniais. É através do cruzamento dessas duas abordagens que se concretiza a elaboração da proposta de intervenção no Casarão Álvaro Coelho apresentada ao final deste estudo.
Camila Maia Dias
integridade e intervençãoensaio sobre a intervenção no patrimônio cultural com foco na reconstituição de sua integridade: o caso da sede da fazenda santa sofiaIn order to consolidate a proposal for intervention in the Álvaro Coelho House, the author conducts a management study of cultural heritage, first looking more deeply into the integrity concept as a communicative factor of cultural significance and thus relevant to the relationship between property and society. This instance of abandonment pose great challenges for the custodian; the work aims at mediating integrity and authenticity issues in the building.
Orientadora: Flaviana Barreto LiraBanca: Maria Fernanda Derntl e Oscar Luís Ferreira
17

Caroline Albergaria
brasília: o nome das coisas e dos lugares na construção da memóriaA photo survey of historical images and field research allowed the identification of a set of toponymic references and graphic solutions to determine the most disseminated images and names in the Federal Capital and their role in local urban memory and identity. Such names and images, with their frequent reference to the Monumental Scale, show, as in the case of Brasilia, that the city’s memory is linked directly to its architecture and urbanism.
Carrinho de sorvete com imagem da coluna do Palácio da AlvoradaFonte: Arquivo Público do Distrito Federal
1/201518
arqui #4

Brasília possui um urbanismo planejado e é constituída por formas edificadas que representam as diversas características adquiridas no decorrer dos anos. As memórias construídas num espaço e transformadas ao longo do tempo são combinações subjetivas de uma população. Assim, as dimensões sociológica e afetiva são essenciais para a permanência da memória e da iden-tidade local. Em Brasília, essa memória está diretamente ligada a sua arquitetura e seu urbanismo.
O presente ensaio teórico objetiva identificar um conjunto de referências toponímicas de Brasília e suas soluções gráficas, por meio de levantamento foto-gráfico de imagens históricas e pesquisa de campo, a fim de apurar e conhecer as imagens e os nomes mais difundidos na Capital Federal e como eles fazem parte da memória urbana e identidade local.
Juscelino Kubitschek, em sua campanha presidencial, designa Brasília
como sua Meta-Síntese. Tal propósito carreou, no entanto, diversas opiniões contrárias, sendo necessário esforço do Governo para amenizá-las. De acordo com Gustavo Lins Ribeiro, em seu livro O capital da esperança (2008), utilizar o assunto da identidade brasileira foi, de fato, o principal mecanismo para auxi-liar na aceitação da construção da nova capital, além do esforço em recuperar a memória e trazer à tona a história do Brasil.
Aos poucos uma identidade de Brasília foi sendo formada e a necessi-dade de tomar posse daquela região era essencial para a busca da identidade local. A partir de então, nasceram as toponímias locais, que remetem ao nome da capital, de seus palácios, do desenho urbano e da arquitetura moderna da região.
Sob o ponto de vista das toponí-mias, constatou-se que os nomes mais difundidos são: Alvorada, Brasília, Brasi-liense, Candango, Capital, Distrital, JK
e Família e Planalto. Essas palavras, quando atribuídas aos variados comércios e serviços da cidade, funcionam como adjetivos, pois qualificam e caracte-rizam o serviço conforme a identidade e a memória da toponímia.
Já as imagens mais difundidas são: a Coluna do Palácio da Alvorada, a Coluna do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, os Eixos Rodo-viários, o Memorial JK e a Ponte JK. O conjunto visual difundido forma a cidade análoga de Brasília, ou seja, os principais pontos e marcos que são estratificados na memória coletiva. Analisando as imagens, quase todas fazem parte da arquitetura e do urbanismo modernos criados por Oscar Niemeyer e Lucio Costa e estão inseridos na Escala Monumental de Lucio Costa, constituindo o espaço mais marcante da capital.
Orientador: Eduardo Pierrotti RossettiBanca: Leandro de Sousa Cruz e Sergio Rizo
Gravação na TV Brasília com o desenho do Congresso Nacional estampado na câmeraFonte: Arquivo Público do Distrito Federal
19

A pesquisa realizada relacionou-se ao comportamento particular estabe-lecido entre a metrópole de Brasília e sua região metropolitana. Na investi-gação sobre Brasília e Luziânia busca-se compreender se o papel do ordenamento proposto por este município é atendido pela demanda de crescimento real da cidade. Investiga-se a relação entre o ordenamento territorial de Luziânia e a dinâmica do desenvolvimento real. Procura-se compreender até que ponto a lei e a dinâmica imobiliária aliam-se e verificar como se comporta a ordem imobiliária sobre o planejamento da cidade. Foram analisadas as bases urba-nísticas e institucionais da cidade, subdi-vididas entre o ordenamento previsto em lei (Plano Diretor de Luziânia) e a demanda do crescimento real aprovado pela Prefeitura do município. Para tanto, vale-se do banco de dados dos alvarás de construção emitidos entre os anos de 2010 e 2013.
Luziânia apresentou, nos referidos
quatro anos de pesquisa, baixo padrão de crescimento, o que não permite maior independência do município. Há o absoluto predomínio do uso residencial unifamiliar, expressando menor dinâmica urbana com crescimento de moradias de baixa qualidade arquitetônica e ruim implantação urbanística, além de pouca presença de projetos de uso comercial, mistos e institucionais, intensificando o caráter de cidade dormitório de Brasília. No entanto, na parte histórica da cidade, é observado um processo de consolidação do centro tradicional que pode ser perce-bido como um gradual incremento de atividades de comércio e serviços que, caso ampliado, será catalisador de opor-tunidades de geração de emprego e renda, reduzindo a dependência do município e de parte de sua população.
Na dinâmica metropolitana encontrada, o predomínio de projetos aprovados de atividades econômicas e institucionais tende a expressar maior dinâmica e autonomia urbana, ao passo
que o predomínio de projetos aprovados de residências unifamiliares parte para o contrário, reforçando o caráter de cidade dormitório. Os modelos de planejamento, planos diretores, projetos, normas urba-nísticas têm pouco domínio nas formas do crescimento urbano sobre a dinâmica metropolitana encontrada.
Tendo em vista esta relação de interdependência e intercambialidade entre área metropolitana e cidade-nú-cleo, faz-se necessário que os planos diretores, as normas, as diretrizes urbanísticas e outros elementos sejam coordenados como instrumentos-ma-triz do manejo social do uso dos solos, potenciais construtivos, e instrumentos de política urbana em um planejamento e gestão metropolitana do território de forma integrada.
Felipe Cláudio Ribeiro da Silva
a metropolização no brasilluziânia e a área metropolitana de brasíliaThe relationship between land use planning and actual development in Luziânia was investigated. The study shows the absolute prevalence of the single-family detached dwelling in Luziânia; on the one hand, confirming its dependence on Brasilia, and on the other, revealing a commercial consolidation process of the traditional town center. Such a scenario raises the question of how to plan and manage a metropolitan city.
Orientador: Benny SchvarsbergBanca: Giselle Chalub Martins e Leandro de Sousa Cruz
1/201520
arqui #4

as casas usonianas de frank lloyd wrightestudo de caso: penfied house
Fernanda Mazzilli Toscano De Oliveira
O trabalho propôs a análise das casas usonianas de Frank Lloyd Wright e a realização de um estudo de caso. Para tal, foram realizados levantamentos bibliográficos da obra residencial do arquiteto com enfoque em suas resi-dências usonianas. Desenvolveu-se, ainda, um estudo de caso da residência Penfield, projetada por Frank Lloyd Wright em 1955, localizada em Willou-ghby Hills, subúrbio de Cleveland, na qual a autora morou com sua família. Por fim, foi desenvolvida uma análise gráfica conforme o método de Tagliari (2009) através de desenhos técnicos originais cedidos pela Carnegie Mellon University e redesenhados pela autora.
Frank Lloyd Wright (1867-1959) foi um importante arquiteto americano da primeira metade do século XX. Sua vasta obra residencial pode ser dividida em três momentos: Praire Houses, Textile Blocks e Usonian Houses. As casas usonianas foram a solução encontrada por Frank Lloyd Wright ao problema das casas modestas, destinadas ao público de classe média, no período pós-depressão de 1930. Elas tendem a eliminar tudo aquilo consi-derado desnecessário e buscam sempre a simplificação, tanto das técnicas como da lógica espacial. Destacam-se como
elementos norteadores o seu baixo custo, modulação, amplas janelas, empenas cegas, entradas principais protegidas e discretas, com carport, e uma relação de negação da rua. Em seu interior, a busca pela eliminação do supérfluo e uso informal dos espaços resulta em casas com pequenas dimensões, pequenos cômodos, especialmente os quartos, a presença de um workspace e a eliminação da sala de jantar, incorporando gravity heat, um novo sistema de aquecimento.
A casa Penfield é um exemplo de residência usoniana que segue os prin-cipais preceitos das casas desta fase. É formada por uma grelha quadricular de quatro pés e quatro polegadas, presentes nas fachadas, pisos, tetos e paredes. Há grandes planos de vidros nas fachadas internas e janelas tipo clerestórios voltadas para a rua. O carport e o novo sistema de aquecimento também estão presentes. A concepção da casa é de espaço aberto e fluido. Os ambientes não são fechados, mas se conformam como continuidade do ambiente ante-rior, o que é evidenciado pela presença do workplace.
Quanto à estrutura, esta se baseia no uso de blocos de concreto e painéis de fibrocimento. A casa, diferente das
demais de Wright, que buscam enfatizar a horizontalidade, reflete um impor-tante aspecto de seu cliente: a altura de Penfield. Wright, que por vezes espreme verticalmente para ampliar a horizontal, faz neste caso o oposto: estreita hori-zontalmente e amplia a altura.
O estudo de caso da Casa Penfield permitiu extrair informações gráficas e compará-las às evidências textuais exis-tentes, revelando que diversos de seus princípios orgânicos podem ser vislum-brados pelo desenho.
As casas usonianas, conforme o próprio nome declara (United States of North América – USONA), seriam, de fato, as casas americanas as quais Wright buscara ao longo de sua carreira, definindo-as como Democráticas. Por Democrática (aqui em maiúscula, como o próprio arquiteto colocava) entende-se uma arquitetura de edifícios que fossem adequados às suas instituições nacio-nais, seus valores, suas tradições; que exaltassem a liberdade e o individua-lismo. Casas americanas e acessíveis à sua população – Casas Usonianas.
Usonian houses were in fact the American houses Frank Lloyd Wright sought throughout his career, for they were accessible to the population and they exalted freedom and individualism, defined by him as “democratic.” The study proposes an analysis of this housing typology and a case study of the Louis Penfield House (1955) in Cleveland based on a bibliographic study complemented by a graphic analysis of the original blueprints.
Orientadora: Sylvia FicherBanca: Eduardo Pierrotti Rossetti eElane Ribeiro Peixoto
21

Orientadora: Gabriela de Souza TenórioBanca: Giselle Chalub Martins e Monica Fiuza Gondim
As ruas comerciais podem se tornar verdadeiros lugares da cidade, mas para isso a rua tem de favorecer a vida social, e isso só é alcançado quando atende aos interesses do pedestre.
O objetivo do ensaio foi inves-tigar o que compõe uma rua comercial bem-sucedida, a fim de trazer repertório que dê insumos para projeto. Para isso, o tema foi dividido em três partes: a natu-reza (conceitos, problemas e soluções) da rua comercial, a anatomia (componentes e dimensionamentos) e estudos de caso de ruas comerciais marcantes ao redor do mundo.
Os estudos de caso ilustram a aplicação dos conceitos e trazem os dimensionamentos reais aplicados. Eles revelam quão diversas essas ruas podem ser, mas mesmo assim garantir o conforto do pedestre.
Além de serem importantes economicamente, as ruas estudadas
tornaram-se destino de atração por sua identidade e história. Todas elas já nasceram com o propósito comercial, com integração favorável na malha urbana, mas só se tornaram um lugar à medida que foram adequadas ao uso do pedestre. E isso é um processo gradual e que requer gestão.
Essas ruas precisaram se adaptar aos anseios do pedestre por um simples motivo: o ambiente urbano da rua comercial tem impacto direto na prospe-ridade econômica das lojas. As pessoas gostam de permanecer em lugares inte-ressantes e seguros, e permanecendo ali consequentemente irão consumir algo. Adequá-las ao pedestre é um inves-timento que traz retorno financeiro à comunidade circundante.
Elas apresentam características comuns, como: cinco das oito ruas têm caixa viária com largura entre vinte e trinta metros, conforme o alcance natural
da visão humana. Também cinco das oito ruas têm edifícios com altura igual ou maior que a largura da via. Ou seja, essas ruas também são vias de passagem para outras funções nos pavimentos supe-riores, o que garante o constante fluxo de pessoas. Agregar funções e adensar beneficia a atividade comercial.
Outro ponto em comum é que todas as ruas reservam pelo menos 50% da via para uso dos pedestres. Com isso, a configuração espacial mostra que o pedestre tem autonomia no espaço.
Quando atende às necessidades do pedestre, a rua comercial gera impactos positivos econômicos e sociais, propor-cionando o ambiente propício para a formação de uma verdadeira comuni-dade urbana.
Gloria Lustosa Pires
ruas comércios lugaresCommercial streets are truly potential ‘places’ in a town, bolstering social life and the economic prosperity of businesses. However, this only happens when the streets are attractive to pedestrians. Investigating the factors which determine the success of a commercial street, the study addresses concepts, issues, and solutions pertaining to the business street, besides dealing with its components and dimensions, and encompasses a number of case studies as input for the project.
1/201522
arqui #4

A representação é fundamental na arquitetura e o desenho é capaz de fazer entender o que o arquiteto quer transmitir. O que nós, arquitetos, “conce-bemos” no nosso processo de formação é um desenho. Assim, ao julgarem-nos capazes de sermos arquitetos por meio do que conseguimos como representação, justifica-se a importância de reconhe-cermos a arquitetura também como representação.
A liberdade de criação foi defen-dida há muito por Étienne-Louis Boullée, arquiteto e teórico francês do século XVIII, e está presente nos dias atuais em nosso processo de formação como arquitetos. Aprendemos a fazer arqui-tetura pela representação.
O estudo do conceito de arquitetura em Boullée explorado no ensaio, com base nos pressupostos da filosofia da repre-sentação no contexto do Iluminismo, apoiou-se na leitura do livro Architecture: Essai sur L’Art de Étienne-Louis Boullée, como também em críticos e arquitetos tais quais: Aldo Rossi em suas obras L’Architecture de la ville, Introducción a Boullée e Architectura: Saggio sull’arte,
Claude Perrault em Ordonnance des Cinq Espèces de Colonnes Selon la Méthode des Anciens, Emilia Stenzel em O conceiro de sublime e sua recepção na arquitetura do século XVIII, Ernst Cassirer em A Filosofia do Iluminismo, e Vitruvius em Les Dix Livres D’Architecture de Vitruve. Preten-deu-se, assim, dar continuidade ao estudo da obra de Boullée, a fim de compreender a maneira como o teórico conceituava e ensinava arquitetura, fazer análises dos estudos desses autores a respeito do questionamento da arquitetura como representação e das abrangências que esse tema sugere e, por fim, ao apoiar-se nos pensamentos dos críticos e arquitetos citados, ver a importância de Boullée nos dias atuais.
No século XVIII, onde a razão é tida como guia do homem, há uma busca constante em tentar analisar, conceituar e compreender as “coisas”. A razão torna-se o meio de atribuir o que se deseja às “coisas”, sendo associada a todo o momento à observação. Entre-tanto não basta considerá-la apenas, devendo atentar-se para o uso da imagi-nação, pois é a partir da imaginação e
da possibilidade de seu uso sem limites que se chega à complexidade concreta da ciência. E assim, Boullée, teórico e arquiteto, começa a definir arquitetura de maneira a provocar uma reflexão sobre sua essência, ao dizer que antes de executá-la (ciência) é preciso conce-bê-la (imaginação).
Étienne-Louis Boullée não vê, pois, a arquitetura como arte de construir. Pelo contrário, diz que essa conceituação trata de um erro grosseiro que toma o efeito pela causa, ponto de partida para sua crítica a Vitruvius, que considera o ato de construir mais importante que sua concepção quando se tem de definir a arquitetura. No entanto, segundo a visão de Boullée, como construir sem antes conceber? É a partir desse contexto que Boullée em sua obra Architecture: Essai sur L’Art de 1790, publicada pela primeira vez em 1968 na edição de Montclos, define arquitetura.
Jacqueline Barbosa
sobre o conceito de arquitetura em étienne-louis boullée a partir da filosofia da representaçãoCounter to Vitruvius, who regarded architecture as the art of building, Étienne-Louis Boullée, an eighteenth century architect and theorist, familiar with the philosophical context of Enlightenment, questions, “How to build before conceiving?” He thus instigated reflections on the essence of architecture in representation. Based on Boullée’s work and that of other authors who address the architecture theme as a representation, we are led to ponder over the philosophical underpinnings of current architectural education.
Orientador: Miguel GallyBanca: Jaime Golçalves de Almeida e Maria Emília Stenzel
23

Orientadora: Flaviana Barreto Lira Banca: Elane Ribeiro Peixoto e Liza Andrade
m.o.b. - manual de ocupação de brasília
Júlia Solléro de Paula
O MOB – Manual de Ocupação de Brasília – é um suporte simples, prático e objetivo criado para atingir qualquer tipo de cidadão brasiliense a tomar a frente das mudanças que ele deseja para a cidade.
A ideia surgiu a partir da percepção de que existe uma cultura do carro extre-mamente enraizada em nossa socie-dade, apesar de podermos contar com espaços públicos de qualidade, arbori-zados e amplos, que poucas cidades no mundo se dão ao luxo de ter. Tal cultura atrelada a um estilo de vida cada vez mais privatizado proporcionado por smart-phones, internet, condomínios fechados e shoppings centers e, claro, um sistema de transporte público ineficiente prejudica o desenvolvimento da função social da urbanidade.
Esse “esvaziamento” urbano gera uma relação muito impessoal e superfi-cial da maioria dos seus habitantes com sua cidade, o que consequentemente leva a um completo descaso de gover-nantes, que limitam suas intervenções à duplicação de vias asfálticas, viadutos, elevados e ampliação de estaciona-mentos, ao passo que o investimento na manutenção e na qualificação dos espaços públicos, seja através de mobiliá-rios urbanos, da sinalização, de atrativos de lazer, variedade de serviços, espaços
de estar e tantos outros exemplos, é sempre adiado e adiável.
Os prazeres e as possibilidades que o espaço urbano pode trazer são incalculá-veis, mas tudo só pode começar a mudar a partir de uma nova consciência em relação aos vazios urbanos da cidade, principal-mente compreendendo suas origens e analisando tanto suas melhores quali-dades quanto suas piores carências. E é aí que entra o MOB. Além de um convite, ele é um instrutor e facilitador para tentar atingir aqueles que amam e usam essa cidade, são proativos e querem ver uma Brasília mais humana, ocupada por gente de todas as classes, cores e credos.
Atualmente existe uma forma de “fazer cidade” muito alinhada com este tipo de pensamento intitulado Urbanismo Tático. Baseando-se na premissa de que aqueles que são os mais indicados para identificar as deficiências da escala local são os próprios habitantes e usuários, quebrando a lógica de intervenção na cidade por meio de ações rápidas, baratas e pontuais e criando uma base de expe-rimentação para mudanças mais subs-tanciais, o urbanismo tático ganha força hoje em dia no mundo todo e já conta com seguidores em Brasília.
A partir do momento em que se sentem capazes de intervir e contri-buir para a construção de um espaço de
qualidade não somente para si, mas para sua comunidade, os cidadãos passam a desenvolver uma relação mais próxima com a cidade, tornando-se menos alheios, mais atentos e cuidadosos com o espaço público.
O MOB conta com quatro ferra-mentas básicas para atingir tal objetivo:1. Uma breve compilação ilustrada de legislações acerca da ocupação do espaço público no DF; 2. Um Passo-a-Passo de dez itens simpli-ficados para o planejamento e execução de ideias; 3. Uma Matriz Gráfica de ícones-guias que facilitam a compreensão visual das soluções táticas apresentadas; 4. Por fim, manuais Faça Você Mesmo, que visam inspirar e espalhar ideias simples, rápidas e práticas.
Interessou-se? Acesse www.face-book.com/manualdeocupacaodebrasilia, ou envie e-mail para [email protected]. Contribua, inspire-se e, principal-mente, execute a mudança que você quer ver em Brasília. Se não sabe por onde começar, o MOB já é uma das direções possíveis. Basta seguir em frente!
As an answer to the emptying of the ample public spaces of the modernist city, the Occupation Manual of Brasilia (OMB) aims to reawaken in the city dwellers the interest in taking over and caring for such places. Like a tool kit of urban intervention, OMB guides the reader from the legislation on public space occupation in the Federal District to do-it-yourself manuals and provides ideas to inspire the inhabitants to rally for the changes they desire for their city.
1/201524
arqui #4

A prisão é uma entidade parti-cular dentro do campo da arquitetura, por constituir o ápice das instituições totais. O usuário deste espaço não tem o poder de adaptá-lo, e por isso a responsabilidade do arquiteto é absoluta, razão por que é crucial o amplo enten-dimento do papel e da realidade desse espaço. Tendo em vista essa problemá-tica, objetivou-se explorar a formação do espaço prisional a partir do Sistema e Modelo penal, buscando uma relação entre resultados de reabilitação social, pela comparação dos cenários do Brasil e Reino Unido.
O método de trabalho foi buscar a história da prisão moderna em ambos os países, averiguando a sua evolução tipológica em contrapartida com as políticas adotadas concomitantemente. Foram levantadas as características mais marcantes de cada sistema penitenciário
em quatro esferas: de natureza global, arquitetônica, político-administrativa e social. Comparou-se, então, o quadro arquitetônico com o quadro social, pondo as duas realidades lado a lado.
Como escreve Suzann Cordeiro, em De perto e de dentro, de fato a arqui-tetura penal tem evoluído de maneira cíclica. Falta embasamento em estudos e conceitos que determinem a evolução tipológica no sentido da melhoria, de forma que erros se repetem ao longo da história. Um exemplo é o retorno do Reino Unido ao modelo de prisão vito-riana, julgado insalubre e ineficiente pelos relatores de 1950.
Os dados colhidos também denun-ciam a precariedade do sistema penal brasileiro, agravada pelo seu gigantismo: a superlotação já alcança 200% da capa-cidade do sistema, segundo o Conselho Nacional de Justiça. No Brasil, dentre os
principais problemas estão a alta morta-lidade por doenças infecciosas, causadas pela insalubridade, e o índice de reinci-dência, por volta de 70%.
No Reino Unido, os principais problemas de ordem social são os altos índices de suicídio; a maior reincidência da Europa, em 46%; e segundo a ONG Prison Trust, a perda de qualidade com a atual tendência das superprisões, com mais de 2.000 vagas.
Conclui-se que a crise prisional é delicada e complexa, e uma solução vai além da arquitetura, sendo importante mudar o paradigma do encarceramento como regra e valorizar penas alternativas ao cárcere.
Lara Caldas Silveira
de fora para dentroo sistema e modelo penal, o espaço arquitetônico penitenciário e a reabilitação socialIn exploring the formation of prison spaces, a comparison was made between the scenarios of Brazil and the United Kingdom grounded in the typological evolution of the prisons concomitant with the adopted policies. The study points to two facets of prison space: one related to the lack of quality of prison space as a problem of architectural design; the other to overcrowding, in which case, the importance of alternative sentences is emphasized rather than the carceral paradigm.
Orientadora: Raquel Naves BlumenscheinBanca: Cláudia Garcia e Maria Cecília Gabriele
25

arquitetura e urbanismo na era digital
A partir da Segunda Guerra Mundial tivemos grandes avanços – em sua grande maioria para fins militares – de tecnologias existentes até hoje. Anos depois com o advento do computador pessoal e com surgimento da internet, ampliou-se a maneira de produção e de troca de informações, ajudando a romper distâncias e, além disso, simplificando diversos trabalhos na sociedade como um todo. A arquitetura acompanhou esta revolução ao alterar seus métodos clás-sicos projetuais, mediante a introdução das novas ferramentas digitais.
O conceito de inteligência artificial ganha cada dia mais atenção e investi-mento. Nesse contexto contemporâneo as cidades têm exigido importantes transformações e projetos na área de arquitetura e urbanismo, que demandam cada vez mais performance, sustenta-bilidade e responsabilidade ambiental. Vive-se um dilúvio de novas informações e de mudança em suas variáveis a cada segundo.
Steven Johnson, em seu livro Como chegamos até aqui (2015), diz que o desenvolvimento tecnológico é um fator de mudança histórica tão relevante que pode ser considerado mais importante que acontecimentos políticos, haja vista a enorme influência das inovações tecno-lógicas nos diferentes setores da socie-dade. O questionamento que faço neste estudo é se não caberia a nós, arquitetos e urbanistas, nos preocuparmos com essa realidade futura e, para isso, avaliarmos as nossas expectativas das novas tecno-logias. Não devemos assimilar as tecno-logias disponíveis e aperfeiçoar processos que ajudem a construir espaços melhores que convirjam a um futuro melhor? E, principalmente, como tecnologias podem alterar e impactar na profissão do arqui-teto e urbanista?
Com um caráter reflexivo sobre a temática em questão, o trabalho se divide em duas partes, contemplando um panorama que relaciona a arquitetura e a revolução digital. Exploram-se, inicial-
mente, as tecnologias da informação e comunicação (TIC), as mídias sociais, a realidade aumentada e a impressão 3D. O propósito é tentar entender e verificar como tudo isso pode alterar o modo de projetar, construir e viver a arquitetura. Também são apresentados alguns exem-plos de arquitetura que usam a tecnologia não apenas como ferramenta, mas como um material de uso.
Em um cenário de mudanças, a arquitetura e o urbanismo devem pensar mais que nunca em inovação e interação e, além isso, incorporar as novas tecno-logias e explorá-las. Para tanto, devem proporcionar projetos interativos e dinâ-micos acompanhando o mundo globali-zado, midiático, conectado e interligado que vivemos atualmente.
Marcelo Braga
Based on the view of technological development as the main factor in historical changes, a future field of architecture and urbanism established on a digital revolution foundation is tentatively explored. Debates are held on information technology, social media, augmented reality, and 3D printing to determine how the architect should incorporate such changes and how these can modify the way we project, build, and live space.
Orientadora: Cláudia GarciaBanca: Maria Cecília Gabriele e Raquel Naves Blumenschein
1/201526
arqui #4

Ilustração de Boyoun Kim
27

modernidade e paisagemos casos da casa eames e da casa lota de macedo soares
Maria Fernanda Farias
A comparative analysis of two modern homes, the Eames House (1949, California) and the Lota Macedo Soares House (1951, Rio de Janeiro) was drawn, rendering the following similarities explicit: the characteristics of modernist architecture as a global movement, in terms of the construction material industry and new construction methods, in parallel with the specificities of local manifestations, which were rooted in their respective landscapes, contexts, and based on their architects’ sensibilities.
Casa EamesFonte: ideasgn.com/wp- content1/201528
arqui #4

A habitação, campo fértil de estudos, é um dos principais meios de divulgação de novos ideários. Com as transformações ocorridas nas cidades, indústrias, arte e cultura no século XX, ligadas ao Movimento Moderno, a casa passou a ser explorada, em suas possibi-lidades formais e conceituais, tornando o espaço, por ela configurado, o resultado de ações e discursos da sociedade.
O trabalho de Ensaio Teórico fez uma análise comparativa entre duas casas modernas, sendo uma norte-ame-ricana, a Casa Eames (1949, Califórnia), e uma brasileira, a Casa Lota de Macedo Soares (1951, Rio de Janeiro). A análise está baseada em três tópicos principais: o método construtivo e escolha de mate-riais compositivos; a espacialidade; e as visuais geradas na composição arquite-tura-paisagem.
Decorrente do crescimento da
indústria de construção nos Estados Unidos, o programa Case Study Houses desenvolveu protótipos habitacionais unifamiliares de baixo custo, promo-vendo o desenvolvimento de uma arqui-tetura residencial moderna mais aces-sível às famílias de classe média, de que participa a casa número 8, Eames House. No Brasil, as influências norte-ameri-canas e também europeias contribuíram para a formação da própria identidade modernista brasileira, patrocinada, em sua maioria, pela elite carioca e paulista, naquele momento de maturidade, como foi o caso da Casa Lota de Macedo Soares.
Nesta comparação, pode ser obser-vado o partido de ambos os arquitetos, por estruturar as casas em aço, concreto, e grandes aplicações de vidros. A Casa Eames, implantada semienterrada em uma encosta, se desdobrou em formas simples e compactas, verticalizadas,
acompanhando a fileira de eucaliptos de sua fachada principal. Sua relação com a natureza pode ser notada, também, de dentro para fora, com seu interior traba-lhado em madeira, pensado em mínimos detalhes artesanais.
Porém, na Casa Lota de Macedo Soares, a opção do partido volumé-trico dividido em alas horizontalizadas repousa a estrutura sobre o terreno. A incorporação de materiais naturais provenientes do local nas fachadas, como a madeira e as pedras, enfatizou a compatibilização dos conceitos de modernidade e tradição – artesanato e pré-fabricação –, afirmando a capacidade de formar um conjunto elegante, através do jogo de contrastes.
Orientadora: Luciana Saboia Banca: Camila Sant’Anna e Giuliana de Brito Sousa
Casa LotaFonte: bernardesarq.com.br
29

o pedestre em eixos monumentais
Milena Vincentini
Este ensaio teve como obje-tivo analisar características físicas de eixos monumentais para compreender como funciona a escala monumental e como esta interfere no pedestre. Foram estudados os eixos monumen-tais de Washington (Estados Unidos), de Camberra (Austrália) e de Brasília (Brasil), selecionados por terem em comum a função institucional. Por meio de análises de diversos fatores de cada um desses eixos, buscou-se compreender melhor esse tipo de espaço sob o ponto de vista da circulação, acessibilidade, mobilidade e permanência em cada uma dessas avenidas, e como ele pode se tornar bom ou ruim ao visitante. Fica claro que todos os aspectos analisados estão relacionados entre si e ajudam a melhorar um espaço que, caso não seja bem trabalhado, pode ser percebido como
um local completamente desconfortável aos usuários, principalmente ao usuário pedestre.
O estudo analisa a escala do homem em relação às proporções do espaço circundante e inclui aspectos perceptivos provocados no pedestre. Nesse contexto, analisam-se distâncias, acessibilidade, segurança, conforto ambiental e ameni-dade, fatores que influenciam o modo como o espaço é vivenciado.
Tendo como foco o deslocamento e a interação do pedestre nesses espaços, sob o impacto da escala monumental, é necessária a inserção de diversos elementos nesses eixos que possibilitam a superação de algumas características físicas desconfortáveis ao usuário, trans-formando-os em um local agradável, seguro e atrativo.
Resumidamente, são exemplos
desses elementos: atrativos no percurso, acessibilidade, mobilidade, calçadas adequadas, segurança nas travessias e cruzamentos, condições climáticas agra-dáveis, áreas de descanso, tratamento estético dos espaços, dentre outros aspectos imprescindíveis para que tal espaço seja funcional, planejado e apra-zível ao pedestre.
Embora a monumentalidade seja o grande destaque desses eixos, conferin-do-lhes beleza e grandiosidade, tanto o pedestre que deles se utiliza diariamente para deslocamento quanto o visitante devem percebê-los como um espaço vivo, funcional e integrado à cidade.
A spatial analysis of the monument axes of Washington, Canberra, and Brasilia was used as a starting point to better understand such a type of space from the standpoint of circulation, accessibility, mobility, and permanence. The purpose was to reconcile on a larger scale the beauty and grandeur of monumental scale with what is comfortable for and attractive to the pedestrian and visitor.
Orientadora: Monica Fiuza GondimBanca: Flaviana Barreto Lira e Giselle Chalub Martins
1/201530
arqui #4

20
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Edifi
caçã
o (p
redo
min
ânci
a de
ca
sas
com
um
pav
imen
to)
Edifi
caçã
o (p
redo
min
ânci
a de
ca
sas
com
um
pav
imen
to)
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Asfa
lto
Asfa
lto
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Calç
amen
to e
m c
imen
to
Calç
amen
to e
m c
imen
to
Gra
mad
o
Gra
mad
o
Asfa
lto
Calç
amen
to
Calç
amen
to
Asfa
lto
Cant
eiro
Cant
eiro
Calç
amen
to e
m a
greg
ado
de re
sina
e p
edra
nat
ural
8 31 3 10 9 5 6 15
199
6 5 9 10 3 31 8 20
*Medidas em metros
Memorial de GuerraAustraliano
4229
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Edifi
caçã
o (p
redo
min
ânci
a de
ca
sas
com
um
pav
imen
to)
Edifi
caçã
o (p
redo
min
ânci
a de
ca
sas
com
um
pav
imen
to)
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Gra
mad
o
Gra
mad
oCa
lçam
ento
de
conc
reto
Gra
mad
o
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Asfa
lto
Gra
mad
oCa
lçam
ento
de
conc
reto
Gra
mad
o
Pedr
isco
de
baix
a gr
amat
ura
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Asfa
lto
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Pedr
isco
de
baix
a gr
amat
ura
Pedr
isco
de
baix
a gr
amat
ura
Pedr
isco
de
baix
a gr
amat
ura
Gra
mad
o ar
boriz
ado
134910231 55
276
13 42 4 9 13 17 710 2
*Medidas em metros
163
300
5
Gra
mad
o
23 20 1 16 1,52
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Asfa
lto
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Calç
amen
to d
e ci
men
to
Gra
mad
o co
m p
ouca
s ár
vore
s es
paça
das
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Edifi
caçã
o (e
difíc
ios
em
altu
ra d
e 10
pav
imen
tos)
Edifi
caçã
o (e
difíc
ios
em
altu
ra d
e 10
pav
imen
tos)
Gra
mad
o ar
boriz
ado
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Asfa
lto
Calç
amen
to d
e co
ncre
to
Gra
mad
o co
m p
ouca
ár
vore
s es
paça
das
Calç
amen
to d
e ci
men
to
1,5 16 1 20 2 23 5
*Medidas em metros
CongressoNacional
Ministério dos Transportes Ministério da Saúde
Museu Nacionalde História Natural
Capitólio dos EstadosUnidos da América Museu Nacional do Ar e Espaço
Brasília
Camberra
Washington
Corte Transversal
Corte Transversal
Corte Transversal
Cortes comparativos por Milena Vicentini
31

o mundo bate do outro lado de minha portaarquitetura e isolamento: conceito, elementos e programasDerived from an analysis of the architectural elements essential to isolation in terms of their relations and poetic meanings, a panorama was drawn of the development of programs and architectural typologies of compulsory and mandatory isolation. Similarities were found among seemingly distinct programs and their fundamental differences were made explicit.
1/201532
arqui #4

Orientadora: Raquel Naves BlumenscheinBanca: Luciana Saboia e Maria Cecília Gabriele
Vanessa Costalonga
Arquitetura, segundo Lucio Costa, em Considerações sobre arte contempo-rânea (1940), é construção concebida com propósito primordial de ordenar espaço. Pega-se um ambiente aparentemente vazio e, com um simples elemento como um plano, podem-se criar inúmeras situ-ações espaciais. Todavia, essa organi-zação criadora tem em si um gesto de impor limites. Desde os primórdios da primeira construção, a Arquitetura sepa-rava o exterior do interior, o perigo do protegido, fosse esse das intempéries ou do desconhecido. Seja pela criação de elementos construtivos ou pelo uso oportunista de elementos preexistentes, como topografia e vegetação pode-se dizer que o isolamento é um fenômeno intrínseco à Arquitetura.
Este ensaio nasceu da curiosidade sobre esse caráter segregador, e seu objetivo principal é analisar o compor-tamento e o significado poético dos elementos arquitetônicos essenciais em programas de isolamento compulsório
e voluntário, de modo a criar um para-lelo comparativo entre os dois grupos. Analisando o significado da palavra isolamento, é possível derivá-lo em pala-vras-chaves: barreira, limite ou fronteira. Essas palavras podem, por sua vez, ser associadas a elementos arquitetônicos: muro, janela, porta, implantação, célula e controle.
Na arquitetura, ou isola-se a si mesmo, ou isola-se ao outro. Com isso percebe-se a existência de dois grupos de programas de isolamento, o volun-tário e o compulsório, cujos exemplares mais expressivos são, respectivamente, mosteiros e condomínios, hospitais e prisões. Analisando o histórico de cada programa, destacam- se as suas origens, seu processo evolutivo e as principais tipologias adotadas.
Assim, traçou-se um paralelo entre os elementos essenciais do isolamento e o panorama histórico de cada programa analisado. Percebeu-se como as diretrizes e os conceitos de projeto aplicados em
cada tipologia moldaram a forma com que esses elementos foram utilizados e como eles transformaram-se, na medida em que os contextos histórico, político e social mudavam e os movimentos esti-lísticos e as novas tecnologias surgiam.
Buscou-se entender qual a conse-quência que essas mudanças trouxeram tanto para o significado poético desses elementos quanto para a sua forma e utilização na organização espacial adotada. Foram encontradas semelhanças entre programas aparentemente distintos e explicitadas as diferenças funda-mentais. A análise evidenciou o quão complexa é a problemática do isolamento na Arquitetura. Mais que atingir conclu-sões absolutas procuraram-se possibilitar novos questionamentos sobre o tema.
Colagens por Vanessa Costalonga
33

NOVOS
TETOS

NOVOS
TETOSARQUI

a fase final do curso de Arquitetura e Urba-nismo o aluno deve desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Cabe a ele escolher um tema, um orientador e desenvolver, durante o último semestre, um trabalho de síntese, onde pode mostrar todo o conhecimento teórico-prático adquirido ao longo dos quase cinco anos de capacitação para sua vida profissional. Aos professores cabe avaliar o trabalho individualmente em uma banca composta por professores e um membro externo. Na verdade, precisam somente comprovar a eficácia do trabalho interdisciplinar, desenvolvido em cinco anos, por uma grande equipe, formada pelos próprios professores e alunos que trabalham unidos com o compromisso de pensar a cidade e solucionar problemas relacionados a sua história, infraestrutura, sociedade, meio ambiente etc. e de fazer uma arquitetura bela e bem- resolvida, a que produz povos felizes e desperta emoções, como disse Le Corbusier, um de nossos grandes mestres.
Neste último semestre as regras da Diplomação foram as mesmas: os alunos seguiram as orientações dispostas no Plano de Curso com relação aos obje-tivos, conteúdo mínimo, etapas, produtos a serem entregues e cronograma. Somente a avaliação foi alterada. Antes desta modificação, ao final da banca, seus membros precisavam avaliar, através de uma única nota, os produtos finais – prancha, caderno do projeto, maquete física, além da apresentação oral. A fim de criar maior rigor, o que incentiva a execução de produtos com maior qualidade, e analisar indi-vidualmente cada produto, foram criados critérios de avaliação divididos em três áreas: apresentação
N e representação; análise; diagnóstico e projeto. Os membros das bancas devem atribuir notas para cada uma dessas áreas.
Com esta proposta buscou-se validar os trabalhos com menção superior e verificar se realmente obteriam esta classificação. Esta tese se confirmou: quarenta formandos defenderam seus TCCs e dentre eles trinta e quatro obtiveram menção superior, o que repre-senta 85%. Assim como nos dois semestres anteriores, foram selecionados quatro TCCs como destaques para esta Revista. Esses trabalhos foram classificados por comissão composta por três professores.
Com relação aos temas verificamos que 45% dos trabalhos são relacionados a projetos de arqui-tetura, os outros 55% são projetos urbanos com vários enfoques: revitalização, intervenção urbana, mobili-dade, patrimônio histórico e cultural, assentamentos rurais, permacultura urbana, entre outros. Esses temas refletem sérios problemas atuais enfrentados por nossa sociedade em vários âmbitos. Mostram que nossos novos arquitetos entram no mercado de trabalho capa-citados e dispostos a enfrentar os desafios urbanos atuais das cidades brasileiras.
Assim, apresento, com muita honra, por mais este semestre, os Trabalhos de Conclusão de Curso do primeiro semestre de 2015.
Agradeço a dedicação de sempre dos profes-sores e técnicos.
diplô
Paola Caliari Ferrari MartinsCoordenadora de Diplomação

Towards the end of the bachelor’s program of Architecture and Urbanism, the students have to carry out an end-of-pro-gram project. It is up to them to choose a topic and an adviser and to develop a work of synthesis during the last semester to exhibit all of the theoretical and practical knowledge acquired throughout the nearly five years it takes to qualify them for their professional life. It is up to each professor, as a member of a committee comprising in-house professors and one from outside the school, to score every piece of work. In fact, professors need only confirm the effectiveness of the interdisciplinary work done over the course of five years by a large team made up of professors and students. Both are committed to working together to ponder the city, solve the issues related to its history, infrastructure, society, environment, etc., and produce a beautiful and well thought out architecture, one that can make the peoples of this world happy and arouse emotions, as Corbusier, one of our great masters, said.
Last semester the rules for the Graduation Project were the same as usual: the students followed the guidelines in the Program Plan with respect to objectives, minimal content, stages, products to be delivered, and timetable. Only evaluation underwent changes. Prior to the alterations, at the end of the committee meeting, its members had to assess the final products – presentation boards, drawings, physical models, as well as an oral presentation, with just one score. To become more rigorous, thus encouraging high-quality execution of the products, and to analyze each product indi-vidually, evaluation criteria were laid down to cover 3 areas: presentation and representation; analysis; and diagnosis and project. The committee members are now required to give scores within each of these areas.
This proposal was meant to validate the top-mention projects, to determine whether they would actually be clas-sified as such in the new scoring system. The assumption proved right: of the 40 graduating students who defended their Graduation Projects, 34 received the top mention, that is, 85% of them. As in the previous two semesters, four of these were selected as outstanding. This distinction was awarded by a committee of three professors.
A total of 45% of the projects were architectural projects, and 55% were urban projects focusing on varied themes: revitalization, urban intervention, mobility, historic and cultural heritage, rural settlements, and urban permac-ulture, among others. These reflect serious problems our society is currently facing in several spheres. They show that, when our new architects enter the labor market, they are capable and willing to take on the current urban challenges posed by Brazilian cities.
I am thereby greatly honored to present once more the Graduation Projects of the first semester of 2015.
I am grateful to the professors and technicians for their time-honored dedication.
Paola Caliari Ferrari Martins - Graduation Project Coordinator

teleport city
vem pro parque
revitalização w3
centro de retiro josefinos
intervenções no conic: o avesso de brasília ao avesso
recuperação e intervenção do cine drive-in
intervenções em espaço público
intervenção em patrimônio cultural: o caso da estação bernardo sayão
casa de brincar
e.t.c. espaço de trabalho compartilhado eqs 204/404
regeneração urbana da região do estreitamento do córrego jataí
juntarq – pesquisa sobre os assentamentos rurais
escola classe e jardim de infância – sqn 109
1/201538
arqui #4

mob.in.campus - projeto de mobilidade e informação no campus dr.
centro de excelência esportiva
intervenção no museu de arte de brasília
permacultura urbana
novo centro em montes claros
centro de tênis gustavo kuerten
autódromo de brasília
projeto participativo infantil - urbanismo para criança
espaço leitura
mosteiro de são bento
clube do servidor
midiateca pública de brasília
requalificação urbana da praça da bandeira, em teresina- pi
39

destaques

teleport city
casa de brincar
novo centro em montes claros
centro de tênis gustavo kuerten
Aluna: Gabriela BíláOrientação: Elane Ribeiro Peixoto
Aluna: Julia LunaOrientação: Liza Andrade
Aluna: Nágila Ramos Orientação: Benny Schvarsberg
Aluno: Rodrigo RezendeOrientação: Bruno Capanema
O trabalho possui características inovadoras de inter-venção urbana com projeto urbanístico transformador de uma região depreciada de Montes Claros, MG, cidade de porte médio e polo regional. Com nova configuração edilícia e ambiental no espaço público e privado, cria um novo centro dinâmico da cidade com intervenções no sistema viário, no sistema de espaços livres, no parcelamento do solo e na volume-tria. Tira partido da topografia e das perspectivas cênicas,
Situado no Centro Poliesportivo Ayrton Senna, entre o Estádio Nacional e o Centro Aquático, o projeto implanta-se como conector do seu entorno imediato. O partido se define aproveitando as características existentes do terreno para configurar a arquitetura, tornando os desníveis e a intenção de reestabelecer o local dedicado ao Tênis no complexo deter-minantes no processo. A criação de um grande plano em L, no
em projeto urbanístico para Operação Urbana Consorciada, numa parceria público-privada envolvendo shopping center, prefeitura, moradores e empreendedores. Articula os modais VLT, ônibus urbanos e interurbanos, automóveis, e enfatiza pedestres e ciclistas, renovando a Rodoviária intermunicipal e criando um novo parque e centro de convenções. Assim, a proposta revela sensibilidade e ousadias relevantes para a cidade e a região.
mesmo nível do talude do Centro Aquático, define a edificação e a organização do programa. Dois outros elementos se distin-guem sobre esse plano: uma grande cobertura plana e um domo; configuradores, respectivamente, de uma área social/cultural e da quadra central. A distribuição e setorização do programa dividem e organizam os diferentes fluxos seguindo uma das principais intenções de projeto: a permeabilidade.
Gabriela Bílá concebe um mundo a partir da hipótese da invenção do teletransporte. A mais radical revolução no tempo e no espaço possibilita à humanidade diversas expe-riências culturais: da visita aos monumentos aos exotismos gastronômicos. Mas não se vive essa condição impunemente,
O projeto Casa de Brincar (creche e pré-escola) teve como objetivo criar um espaço centrado na criança que funcione como ferramenta de educação e dialogue com princípios e valores de novas metodologias pedagógicas e ecológicas. Foi desen-volvida uma metodologia que contempla a aplicação de Uma Linguagem de Padrões (patterns) de Christopher Alexander, dos parâmetros projetuais de Doris Kowaltowski para Arquitetura
uma vez que novas síndromes atormentam os contemporâneos da era do teletransporte... O mundo de Bílá é um convite à fantasia e à reflexão sobre um futuro provável, ao qual somos conduzidos pelos caminhos venturosos da arte.
Escolar e de Jason McLenam para o Planejamento Centrado na Criança, os princípios da Permacultura de Bill Molisson, além de tentativas de processo participativo com professoras e pais de uma creche existente na Cidade Estrutural no Distrito Federal. Este projeto alcançou o primeiro lugar na V edição da Bienal de Sustentabilidade José Lutzenberger, realizado no EURO- ELECS em Portugal na cidade de Guimarães.
41

teleport city
Gabriela Bílá
Incursion into a postteleportation world through speculation about its new cartographies, urban characteristics, cultural practices, equipment, objects, and syndromes. The metaphor of instantaneous and unlimited mass transportation is an invitation to fantasy and reflection on the role of the new technologies in reconfiguring new worlds.
1/201542
arqui #4

O homem cria a ferramenta. A ferramenta recria o homem.Teleport City é uma série de hipóteses baseada na seguinte questão: e se o
transporte fosse perfeito? Assim, o teletransporte é uma metáfora de um trans-porte de massa ilimitado e instantâneo.
Para responder a essa pergunta, foi criada uma série de imagens, produtos e textos que, em forma de uma narrativa (conto arquitetônico), demonstram os possíveis desfechos e formatos desse novo mundo surgido a partir de uma tecno-logia inédita.
CIDADESColmeias ◊ A profusão do teletransporte significou a perda da utilidade
prática de toda a infraestrutura rodoviária existente. As ruas foram tomadas por edificações, o que originou uma curiosa tipologia urbana chamada de “colmeias”. É uma extrusão da malha das cidades.
Estantes ‡ Edifícios inteiros podem ser acoplados ou retirados dessas estru-turas, estando lado a lado as mais diversas atividades, como comércio, moradias, escolas etc. Os edifícios possuem a circulação interna tradicional, mas a externa se dá pelo teletransporte. Assim, não existem ligações culturais, setorização de funções ou ruas entre eles, o que distancia as estantes do conceito de “cidade”, como até então conhecido.
Arquipélagos ≈A facilidade de ter um telepod particular possibilita que parcelas da população se mudem para áreas remotas do mundo, longe da ocupação humana, de onde podem sair quando necessário para a realização de suas atividades diárias. Fortemente vinculados à natureza, a ocupação dos arquipélagos é sazonal, sendo abandonados e repovoados ciclicamente.
Colagem de Gabriela Bílá, fotografia original de Joana França
43

se teleportam pelos fusos horários para viverem exclusivamente no dia ou na noite. Em geral, são aqueles que temem o fim ou o começo.
Sala de espera ∫ A humanidade sempre lidou com a espera, a situação de estar “entre” a partida e a chegada. Com o teletransporte, grande parte da espera pode ser abolida, mas não toda. Essa síndrome caracteriza-se pela sensação de extremo incômodo provocado pela espera.
Mundo plano ∆ Enorme sentimento de vazio ao se exaurirem as possibili-dades de explorar os quatro cantos do planeta. É a percepção de que o mundo é finito e a sensação de ser, dentro dele, um prisioneiro.
Ensaio fotográfico de produtos por Gabriela Bílá e Marilia Alves
Fotografia das publicações do projeto e colagem sobre foto de maquete por Gabriela Bílá
Orientadora: Elane Ribeiro PeixotoBanca: Carolina Pescatori, Eduardo Pierrotti Rossetti e Leandro de Sousa Cruz Convidado: Ricardo Theodoro
NOVA GEOGRAFIARepresentar o mundo por divisões
baseadas exclusivamente nas distâncias geográficas não faz mais sentido. O planeta vive sua segunda pangeia. Nos novos mapas, os interesses culturais são sobrepostos à proximidade física. Por exemplo, a Esplanada dos Ministérios pode conectar-se diretamente à Champs Elysées, muito mais próxima agora do que qualquer cidade-satélite de Brasília. Agências começaram a fazer roteiros baseados na posição dos telepods espa-lhados no mundo inteiro. Colecionar o que de mais exótico tem cada lugar é o esporte favorito de muitos.
EQUIPAMENTOSTelePods | São as cabines públicas
de teleportação. Dentro da cabine, é possível escolher o destino por coor-denada, fuso, clima, atividade e muitas outras opções.
Sleeping Corners ‡ Teletranspor-
tar-se por dias a fio sem dormir não faz bem à saúde. Com as Sleeping Corners, pontos de descanso para cochilos rápidos, ninguém precisa voltar para casa tão cedo. Onde quer que se esteja, é só ver o símbolo dos olhinhos fechados, entrar, e bons sonhos. *Keep healthy, stick to the 24*.
OBJETOSTecido Térmico ◊ É o tecido desen-
volvido para driblar diferenças de tempe-ratura para viajantes que pulam entre zonas climáticas diversas vezes em um só dia.
Óculos de Fuso ∆ Criado para amenizar a perda de noção temporal gerada pelo pular entre fusos horários. O usuário pode programar os óculos de acordo com seu horário local, ajustando, a partir dessa configuração, o mundo externo, para ser percebido de forma natural.
SÍNDROMESNoturnos/diurnos ≈ Pessoas que
1/201544
arqui #4

45

casa de brincar
O projeto consiste em duas edificações: uma menor, onde ocorrem as funções administrativas e serviços gerais, e a edificação maior, que é o prédio das crianças e onde ficam as salas de atividades da pré-escola e os ambientes da creche. Entre os edifícios há um teatro de arena, coberto por uma lona de circo, constituindo, assim, um elemento lúdico, servindo para apresentações, reuniões e assembleias.
Para a segurança das crianças, é importante evitar o uso de quinas. Assim, foi incorporado ao projeto, de uma forma particular, que todos os cantos e quinas dos prédios sejam arredondados, o que resultou também na leveza dos espaços. As salas de atividades da pré-escola não são alinhadas entre si, ou seja, elas se deslocam um pouco para frente ou para trás em relação à próxima, de modo que foi possível fazer uma brincadeira entre espaços positivos e negativos, que confere ao pátio interno um certo ritmo. Espaços assim são de grande ajuda para o desen-volvimento dos sentidos das crianças. As salas também não são separadas. Elas
Julia Luna
Daycare center and preschool. Punctuated by ludic elements developing around a central arena theater, the school opens up to a shared street, also developed in the project. Space as an education tool dialogues with permaculture principles as reflected in the use of compressed earth blocks for closing spaces and for structural solutions and in the use of bamboo slats on facades.
1/201546
arqui #4

Projeto selecionado como vencedor em 1º lugar - Categoria Estu-dante - do Concurso de Ideias e Projetos - V Edição da Bienal de Sustentabilidade José Lutzenberger, realizado no EUROELECS.
são interligadas e constituem, todas, um só espaço. Se preciso for, elas podem ser separadas por divisórias móveis. Mas é importante que a criança possa circular livremente e com segurança por todo o espaço da escola. Por essa razão evitou-se o uso de elementos que pudessem apresentar qualquer barreira.
As paredes da escola são de bloco de terra compactada (BTC ou tijolo ecoló-gico). Esse tijolo é resultado da mistura de barro e cimento e confere ao ambiente maior conforto térmico. Ele pode ser usado em paredes estruturais, como é no caso da Casa de Brincar, em que a armação passa por dentro dos tijolos. O tijolo não aparece nas fachadas, pois estas são revestidas de ripas de bambu. Usadas como elementos decorativos, essas ripas ora estão coladas nas paredes, ora estão soltas. Assim fez-se um jogo com espaços cheios e vazios, luz e sombra. Os tetos são feitos de painéis abobadados de ferrocimento, chamados de cascaje. Eles são baratos, economizam material básico e podem ser feitos pelas pessoas da própria
PREMIADO
47

mesma altura da calçada e, para priorizar o pedestre, a divisão entre onde o carro pode ou não passar será feita por baliza-dores. Foram projetados para a rua alguns jardins de chuva, para ajudar a evitar alagamentos. Perto da entrada da escola agora há uma minipraça com bancos e brinquedos para as crianças. A intenção é que se estimulem o uso e a ocupação da rua pelos moradores do entorno. Para fazer uma conexão maior entre a rua e a escola, pensou-se numa paginação de piso que vem da rua e entra na escola.
O terreno da escola tem 3.285 m² e o projeto foi feito para acolher 162 usuários diários, durante todo o dia, e tem 1.687 m² construídos ou 51% da área total do terreno.
comunidade. Por cima desses painéis vem a laje de concreto armado.
O pavimento superior é um terra-ço-jardim, que toda a comunidade escolar poderá usufruir. Ele constitui um grande espaço para brincadeiras e ócio. Elementos de sustentabilidade estão espalhados por toda a escola, pois além das suas funções básicas eles também têm uma função pedagógica: com sua presença se aprende a importância do cuidado com o meio ambiente. Há também brinquedos e elementos lúdicos por todo o espaço escolar, para que a criança possa perceber que toda a escola é dela e cada espaço foi pensado para atender suas necessidades e desejos.
Realizou-se também uma inter-venção na rua que passa na frente da escola. Fez-se dela uma rua comparti-lhada, onde poderão circular, sem qual-quer impedimento, pedestres, bicicletas e carros. A área de asfalto agora está da
Perspectivas internas e geral, renderizadas por Julia Luna, Camila Abrahão e Mariana Hummel
Orientadora: Liza AndradeBanca: Bruno Capanema, Igor Campos e Márcio BusonConvidado: Sérgio Pamplona
1/201548
arqui #4

49

novo centro em montes claros
Nágila Ramos
Urban project for an Urban Operation Consortium in downtown Montes Claros, in the state of Minas Gerais. An integrated proposal of new zoning aiming at increased population density and diversified utilization, street redesign and an intermodal terminal, along with a plan for recovering the landscape with trees and street furniture and the creation of a multiple-use park in the downtown.
1/201550
arqui #4

Montes Claros, com 390 mil habitantes, é o centro da mesorregião Norte de Minas Gerais e comanda as áreas e municípios do seu entorno que possuem menor diversidade de funções.
A cidade, inaugurada em 1857, expandiu-se muito desde a década de 1970, quando a SUDENE passou a atuar na região. Mais recentemente, vem tornado-se polinucleada. O fortalecimento de subcentros é uma das diretrizes do Plano Diretor Municipal ainda vigente e é importante para o descongestionamento do Centro e desenvolvimento da cidade como um todo. Outra grande questão é a carência de áreas verdes públicas. Estes foram motivos cruciais para a escolha da região de intervenção.
A área de estudo é vital no panorama urbano e econômico de Montes Claros, pela localização da Rodoviária e do maior shopping center da cidade, além do fácil acesso desde outros bairros, inclusive por transporte público e pela proximidade à linha de trem, futuro eixo de VLT. Em relação ao Centro e a demais subcentros, encontra-se numa posição central e é uma área contígua ao núcleo de integração sintático da cidade. Possui baixas densidades demográficas e é de ocupação recente. Está subutilizada, pois há muitos lotes vagos e falta infraestrutura básica. Ou seja, o redesenho da área não implicará grandes demolições ou reinvestimento finan-ceiro por parte da administração municipal. Ademais, o Córrego Vargem Grande, canalizado e poluído, corta o perímetro de estudo, numa área sujeita a alagamentos.
51

Dadas as oportunidades, propõe-se uma Operação Urbana Consorciada (OUC) que se caracteriza como uma parceria entre poder público, iniciativa privada e moradores, com os seguintes objetivos básicos:1.consolidação do caráter central da área; 2.requalificação do ambiente natural e construído.O principal produto é um projeto urba-nístico, base para a OUC, que engloba três temas:1. Circulação/Mobilidade Urbana;2. Uso e Ocupação do Solo; 3. Recuperação da Paisagem.
O redesenho viário visa à melhoria da legibilidade e a multimodalidade. São propostas nova hierarquia viária, novas geometrias e um terminal urbano de inte-
gração intermodal conectado à Rodovi-ária. Para promover o adensamento e a diversificação de usos, propõem-se um novo zoneamento, com redistribuição de áreas particulares, verdes e institu-cionais, bem como novas volumetrias com novos parâmetros urbanísticos. A recuperação da paisagem conta com um plano paisagístico de arborização e mobi-liário urbano, além de um parque urbano, com variedade de opções de descanso e lazer e um Centro de Eventos, urbanis-ticamente articulado com o Shopping Center e a Rodoviária.
N
0 700m 2100m
3,3km
1,9km
1,4km
2,7km
4,5km
1,8km
7,4km
5,6km
4,5km
Centro
Subcentros
Área de influência - pedestres 300 e 800m
Área de influência - ciclistas 1500 e 3000m
Distâncias desde a RodoviáriaX km
Orientador: Benny Schvarsberg Banca: Carolina Pescatori, Giuliana de Brito Sousa e Monica Fiuza GondimConvidado: Luiz Alberto Gouvêa
Vista geral, planta de localização e relação com outras centralidades e
renderizações por Nágila Ramos.
1/201552
arqui #4

53

centro de tênis gustavo kuerten
Rodrigo Rezende
Tennis Center, Brasilia Monumental Axis. The physical and visual permeability of the architecture of Brasilia is used as a basis for building a sports center where public courts take on the shape of a square – the sport for all. Taking advantage of the existing slopes, the complex proposes, besides the outdoor courts, a training center with indoor courts and a central court as well as athlete support programs.
1/201554
arqui #4

INTENÇÃOInspirado nos valores possíveis de serem aprendidos com o esporte, o projeto
busca integrar seu entorno de forma acessível e visando garantir permeabilidade tanto física como visual, característica dominante na arquitetura e no urbanismo brasilienses. Dessa maneira o projeto tem como principal intenção possibilitar o acesso ao tênis de forma igualitária, social e aberta para todo tipo de público, seja para jogar, assistir ou apenas conhecer um pouco mais sobre o esporte.
Assim sendo, o Centro de Tênis Gustavo Kuerten é um equipamento público com o objetivo de suprir a demanda da cidade por quadras públicas de tênis, fomentar a prática do esporte, sediar grandes eventos do circuito internacional e formar tenistas profissionais. Seu funcionamento se daria de forma semipública com quadras abertas, centro de treinamento com quadras cobertas, a quadra central Maria Esther Bueno, com capacidade de aproximadamente 4.000 pessoas, usos complementares visando ao apoio de público e integração com os equipamentos vizinhos e estacionamento subterrâneo com capacidade de quatrocentas vagas.
LUGARSitua-se no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, em um terreno com acesso
direto ao Eixo Monumental, configurando assim uma nobre e simbólica posição urbana. Antes da construção do Estádio Nacional havia, no mesmo terreno onde foi
implantado o projeto, uma área com doze quadras públicas de tênis. O local era bastante utilizado para ministrar aulas, organizar pequenos torneios da Barragem (pequena associação de tenistas) e para jogos recreativos do público em geral. Dado o início das obras, quatro quadras foram demolidas para a construção do canteiro. Em seus estágios finais o restante das oito quadras também foi demolido, deixando o complexo sem uma área para a prática do tênis e contribuindo para o déficit de quadras públicas dessa modalidade na cidade.
O projeto de desenvolvimento do entorno do Estádio visa transformar toda a área entre ele e o Autódromo Nelson Piquet em um grande estacionamento, sem levar em consideração a possibilidade de desenvolverem-se ali outros equipamentos esportivos. Tendo isso em vista, buscou-se de forma intencional e crítica o reestabelecimento, no mesmo local, da presença de um equipamento voltado à prática do tênis. A forma como vem a ser implantado demonstra respeito e sensibilidade à memória do lugar bem como integração ao seu entorno. A intenção do projeto é de contribuir, da melhor maneira possível, para a criação de um complexo poliesportivo mais conectado, coeso e de qualidade, fazendo jus ao seu nome e à sua localização urbana.
55

CONCEPÇÃOO ponto de partida do processo
foi a intenção de reestabelecer, de forma particular e adequada ao projeto, o local das quadras de tênis no Complexo Polies-portivo Ayrton Senna. O intuito foi criar um espaço de quadras públicas que se aproximasse a um pátio/praça, tornan-do-as um elemento central e regulador da disposição do programa. Tirar partido do talude (com diferença de sete metros de altura entre o Centro Aquático e o terreno de projeto) e do caimento natural do terreno, que o divide ao meio em dois platôs (com diferença de 3.50 metros de altura), foi a premissa para o desenvolvi-mento do projeto.
Observando-se essa situação e tendo o local das quadras públicas previamente se definido pela memória do lugar, a implantação da quadra central (elemento importante no programa e de grandes dimensões) foi definida à direita das quadras abertas, pelo cruzamento dos eixos do Estádio Nacional (vertical) e do Centro Aquático (horizontal). Essa estratégia de ocupação configura uma intervenção sensível, horizontalizada e fluida ao aproveitar o caimento natural
do terreno para garantir a altura neces-sária à configuração das quadras cobertas, não sendo necessário criar volumes altos e dissociados do conjunto.
O intento de integrar os equipa-mentos adjacentes teve como solução a criação de dois níveis de acesso: o térreo (N 0.00), em continuidade com o Estádio Nacional, e o térreo superior (N +7.00), em continuidade com o Centro Aquá-tico. Peça-chave na composição, o térreo superior se torna um platô conector, permeável e público, com diversas funções. Configura um espaço “urbano” em escala ao oferecer usos mistos. São eles: restaurantes, lojas, Galeria do Tênis, além de acesso público e vistas superiores da quadra central Maria Esther Bueno.
O projeto, em suma, tem por fina-lidade traduzir, por meio da arquitetura, seu desígnio maior de união entre perme-abilidade e universalidade. Assim como o esporte, é para todos.
Orientador: Bruno CapanemaBanca: Joe Rodrigues, Mário Eduardo P. Araújo e Oscar Luís FerreiraConvidado: Eder Alencar
Renderização interna, axonométrica do programa e vista geral por Rodrido Rezende
1/201556
arqui #4

57

Orientador: Oscar Luís FerreiraBanca: Cláudio Queiroz, Eduardo Pierrotti Rossetti e Leandro de Sousa Cruz
Brasília tem sofrido um recente processo de alteração da ocupação urbana que procura retomar os espaços públicos através de atividades livres e abertas. Já fazem parte do cotidiano da cidade as feiras, apresentações artísticas, festas e atividades esportivas que reúnem um grande público, disposto a dividir o mesmo espaço, ainda que com objetivos diversos.
Esta redescoberta da rua, ainda que bem-vinda, coloca em questão os modos com os quais pode ser feita a reapropriação de áreas que passaram longo tempo em uso escasso, indevido ou até mesmo em abandono. O Cine Drive-In de Brasília é um desses locais que vêm reconquistando o público, ainda que, assim como outros equipamentos
públicos da cidade, não tenha sofrido ao longo dos anos qualquer intervenção de conservação significativa.
Situado no centro de Brasília no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), dentro do Autódromo de Brasília, o Cine Drive-In encontra-se isolado, seja pela falta de transporte público, seja pela falta de visibilidade e conhecimento. Além dele, toda a zona ao redor é desvalo-rizada, pouco acessível e detentora de poucos equipamentos que a tornem atrativa. Com exceção do Estádio Mané Garrincha e do Autódromo, vizinhos diretos do Cine, que já possuem certa estabilidade, todas as demais áreas são hoje de uso limitado, porém possuem potencial para tornar a região um refe-rencial de entretenimento para a cidade,
recuperação e intervenção do cine drive-in
Beatriz Gomes
Recovery of and interventions in the Drive-In Movie Theater in Brasilia and transformation of the surrounding area into a cultural center integrated with the building.
como as piscinas do Centro Poliespor-tivo Ayrton Senna (antigo DEFER), o ginásio Nilson Nelson e o ginásio Cláudio Coutinho.
O projeto tem como objetivo a desapropriação da área vizinha ao cinema, onde hoje se encontra um cartódromo, e a idealização de um centro cultural integrado ao Cine Drive-in de Brasília que estabeleça nova dinâmica e traga movimento contínuo ao local através da promoção da cultura e valo-rização do patrimônio moderno.
1/201558
arqui #4

Perspectivas por Beatriz Gomes
59

espaço de trabalho compartilhadoentrequadra sul 204/404
Bernardo Vianna Duque
Shared work space at the interblock 204/404 south in Brasilia: a new type of public equipment that can be used for the superblocks.
1/201560
arqui #4

Com o intuito de despertar o olhar sobre o abandono das unidades de vizi-nhança, conceito fundamental ao plano piloto de Brasília e que muito influencia nas dinâmicas sociais da cidade, o projeto procura trazer novas perspectivas sobre essas unidades. É proposto um novo tipo de equipamento público para aten-dimento das unidades de vizinhança denominado ETC – Espaço de Trabalho Compartilhado –, um espaço de etecé-teras capaz de suportar atividades de trabalho e propiciar o desenvolvimento de atividades culturais e lazer, com flexi-bilidade para comportar as mais diversas iniciativas de apropriação promovidas pela população.
A área sobre a qual este estudo se debruça se localiza entre as superquadras 300/100 e 200/400, onde a via é interrom-pida em alguns pontos deixando grandes áreas livres que comportam um conjunto de lotes, destinados a equipamentos públicos comunitários, de atendimento às unidades de vizinhança.
Praticamente todas essas entrequa-dras, tanto da Asa Sul como da Asa Norte, já possuem seus lotes edificados e com atividades como de agência de correios, biblioteca comunitária, escolas parti-culares e academia de ginástica. Entre-tanto, boa parte dessas edificações está subutilizada ou até mesmo abandonada. Com uma legislação datada da década de 1960, esses lotes contidos nas EQ
Orientadora: Gabriela de Souza TenórioBanca: Ana Paula Gurgel, Marcos Thadeu Magalhães e Oscar Luís Ferreira Convidado: Breno Rodrigues
300/100 e 200/400 têm seus usos restritos e uniformes, não atingindo o objetivo de comportar equipamentos públicos comunitários de apoio às unidades de vizinhança.
Dentre as várias entrequadras estudadas, o sítio escolhido para a inter-venção foi a EQS 204/404. A quadra foi escolhida por sua localização próxima ao centro da cidade, mas principalmente por já ter havido iniciativa da população para a ocupação desse espaço com uma bicicletaria.
Ao se apropriar de um sítio que possui relação direta com as superqua-dras, embora pouco integrado às dinâ-micas socioespaciais, principalmente por conta dos usos limitados hoje instalados nessas áreas, o projeto proposto visa criar um equipamento público cujos usos e morfotipologia arquitetônica promovam identidade e a integração desses espaços ao contexto das superquadras, preser-vando o caráter flexível da proposta de Lucio Costa e apontando novas perspec-tivas sobre o uso das unidades de vizi-nhança, bem como dos outros espaços e equipamentos públicos contidos nas superquadras.
O equipamento projetado, o ETC, constitui-se fundamentalmente como uma praça onde, a partir do nível do solo, nascem diferentes planos e marquises em concreto armado, apoiadas sobre colunas que se misturam aos troncos das
árvores, interligando espaços diversos que dão suporte a variados tipos de ativi-dades. Com acessos ao nível do solo, as marquises se projetam como extensões do terreno logo abaixo, convidando o usuário a passear entre a copa das árvores e contemplar novas perspectivas sobre estes espaços da cidade.
Abaixo desses planos e marquises, é configurado um espaço fluido onde se instalam mobiliários urbanos de apoio como bancos e mesas, que funcionam como estações de trabalho onde o usuário possui livre acesso à internet e à rede elétrica do edifício. O vazio que permeia o conjunto edificado possibilita sua apropriação para os mais diversos fins, desde pequenas feiras e mercados alternativos, a exposições e festejos em datas comemorativas.
A forma orgânica e curvilínea da edificação é resultante de uma série de análises realizadas no sítio. Estas análises levam em conta desde aspectos urbanos e configuracionais, bem como vegetação e fluxo de pedestres, estabelecendo, assim, as condicionantes que nortearam a elabo-ração da forma do edifício.
Renderizações por Bernardo Duque
61

Localizado no coração do Plano Piloto, próximo à rodoviária, o Setor de Diversões Sul, mais conhecido como Conic, é um espaço singular na cidade. O descaso e abandono pelas autoridades locais não impedem que o setor ainda pulse: o Conic é um espaço de eferves-cência cultural e ponto de encontro de tribos diversas e de pessoas que procuram produtos e serviços especializados. É curioso, entretanto, compreender por que, embora o Conic tenha uma centra-lidade global, a sua acessibilidade local seja restrita; o que faz com que alguém que passa pela plataforma rodoviária percorra o seu espaço interno? É a “invisibilidade do concreto”, marcada pela sua arquitetura, que não convida um desconhecido a percorrer o desco-nhecido? Ou é a imagem que se tem do lugar, que o impede de explorar os seus labirintos? Labirintos estes que mantêm justamente o convívio dos diferentes e que formam a identidade do Conic, um espaço onde tudo se mistura.
Por meio deste trabalho, proponho a reflexão da necessidade da regeneração urbana e da valorização das pessoas que
usam o espaço do Conic, considerado “marginalizado” por muitos. A partir do estudo da área, da sua relação com o entorno, das suas características atuais e dos seus usuários, proponho um projeto que reúna não só as características do plano original de Lucio Costa, mas prin-cipalmente as características atuais, de apropriação e heterogeneidade.
O projeto, portanto, não tem a intenção de “arrumar” o Conic, mas de torná-lo mais atrativo a partir das qualidades que já possui. O Conic é hoje um espaço de encontro, de criação artís-tica, de engajamento social e político e de diversão e lazer. A ideia é transferir essas qualidades para fora, ou seja, virar o Conic ao avesso, para que quem esteja de fora queira desvendar o seu interior. As primeiras iniciativas seriam, então, a conscientização dos lojistas, a elevação da autoestima do local e a divulgação do que acontece ali dentro, por meio do Guia de Bolso do Conic. Um guia que revele o que o Conic tem a oferecer, as lojas e serviços, as manifestações culturais existentes e a memória do que já foi.
Em seguida, por meio da requali-
o avesso de brasília ao avesso: intervenções no conic
Eduarda Aun
ficação das praças de acesso ao Conic, propor novos usos aos espaços que hoje apenas conectam o Conic aos demais setores, refletindo aquilo que acontece no interior do Conic: parque para skatistas, cinema ao ar livre, espaço para shows e performances, mercado, hortas, bares, arte urbana etc.
Um entorno convidativo chamará as pessoas a desvendarem o interior do Conic, que será uma enorme galeria a céu aberto, com as empenas coloridas com arte urbana e com diversas atividades culturais. O interior do Conic recebe, portanto, intervenções de caráter mais flexível, de forma a possibilitar a apro-priação, pelos mais diversos atores que fazem uso do seu espaço. Estruturas móveis e multifuncionais poderão configurar diferentes espaços, incluindo palcos, biblioteca, cinema, área para descanso e socialização etc.
Vamos ocupar o Conic!
Intervention in the South entertainment Sector: from a pocket guide to CONIC to the spatial rehabilitation of the building and its surroundings.
Orientadora: Liza AndradeBanca: Gabriela de Souza Tenório, Miguel Gally e Reinaldo Guedes MachadoConvidado: Vânia Loureiro
1/201562
arqui #4

Perpectivas por Eduarda Aun
63

JuntARQ é uma iniciativa de quatro estudantes italianos de arquitetura do Politécnico de Turim que estão conclu-indo a carreira acadêmica.
Este trabalho faz parte de resultados de pesquisa do in tercâmbio Brasil/Itália, entre as Universidades de Brasília e o Politécnico de Turim. No ano de 2014, a partir do Programa de Extensão CASAS/FAU-UnB, os estudantes tiveram acesso à disciplina PEMAU (Prática de Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo), que tornou possível o conhecimento sobre a situação dos assentamentos ru rais do DF e sobre o Plano Nacional de Habitação Rural, o Programa Minha Casa Minha Vida Rural. As visitas orga nizadas pelo curso despertaram um forte envolvi-mento e interesse no tema ao ponto de influenciar os estudantes na escolha do próprio percurso de tese. Após um período de formulação da metodologia de desen-volvimento do trabalho com o apoio dos orientadores italianos, foram definidas as fases do projeto.
O trabalho consiste numa primeira fase de estudo e le vantamento in loco dos assentamentos informais rurais próximos a Brasília.
Na segunda fase, através de uma abordagem bottom-up, que se desenvolve a
partir da participação e colaboração entre as comunidades e os técnicos profissio-nais, tenta-se identificar mais uma alter-nativa a ser utilizada em progra mas habi-tacionais como o programa do governo Minha Casa Minha Vida Rural. Uma vez constatados os limites do programa, o objetivo é criar um modelo habitacional neutro que surge a partir das variáveis independentes en contradas durante as numerosas visitas.
Este modelo vai se adaptar aos casos específicos de cada lugar a partir de variáveis dependentes, inte grando pré-fabricação e autoconstrução, a fim de combinar as necessidades do governo com as exi gências dos moradores.
Em geral o objetivo principal do trabalho é o de obter um produto final que seja um método aplicável e adaptável a muitos casos e, por isso, que poderia tornar-se num serviço oferecido pelo governo brasi leiro. Foram apresentadas duas tipologias de projeto: uma de madeira e uma de argamassa.
COMO AGIMOS 1° Fase: elaboração do plano de
trabalho. Duran te o período inicial, elabo-ramos o percurso lógico para o desen-volvimento do trabalho. A abordagem
juntarq: pesquisa sobre os assentamentos rurais
Federica Filippone, Giulia Filippone, Rachele Sipione e Salvatore Cicero
escolhida é de bottom-up, oposta à de top-down, usada pelo governo na elabo-ração do programa MCMV. A nossa abor-dagem é baseada na técnica de arquitetura participativa, que nos permite conhe cer as ideias e as exigências dos moradores.
2° Fase: assentamentos e insti-tuições. Dedicamos dois dias para a visita a cada assentamento: no 1° dia houve entrevistas e levantamentos das casas atuais; no 2° dia desenvolvemos atividades coletivas, a fim de conhecer as perspectivas e os sonhos dos mora-dores. Tivemos também a possibilidade de conversar com os representantes de varias institu ições.
3° Fase: projeto arquitetônico. Através das infor mações obtidas queremos desenvolver um projeto habitacional que seja mais próximo das necessi dades dos moradores e que respeite ao mesmo tempo as exigências do governo, desfru-tando os princípios de pré-fabricação e autoconstrução.
Development of prefabricated and self-build house models for rural settlements in the Federal District based on a participatory process.
Orientador: Márcio Buson Banca: Caio Frederico e Silva, Ivan Rezende do Valle e Liza Andrade Convidados: Andiara Campanhoni e Macos Thadeu Magalhães
1/201564
arqui #4

65

regeneração urbana da região do estreitamento do córrego jataí
Adauto Melo
Este trabalho se propõe a contri-buir com estudos urbanísticos e ambien-tais para promover a regeneração urbana da área do Ribeirão Jataí, no município de Jataí/GO, que passou por processo de estreitamento em 2007 por um projeto da Prefeitura Municipal.
Trabalhou-se na direção do urba-nismo ecológico para o desenho de vias que circundam o curso d’água, com uma nova proposta de ocupação e infraestru-tura verde. Propôs-se também um parque linear ao longo de toda a extensão que atualmente se encontra canalizada, como uma maneira de retomar as funções ambientais do rio, bem como reesta-belecer o convívio social por meio da configuração espacial que favoreça os aspectos sociológicos, bioclimáticos, funcionais, econômicos, de identidade e orientabilidade, bem como expressivos e simbólicos.
Foi feito um estudo da problemá-tica causada pelo estreitamento e suas consequências. Além da segregação espacial promovida pela intervenção, a função ambiental do Ribeirão Jataí foi interrompida pela concretagem de seu leito e encostas, bem como pela retirada completa de sua mata ciliar circundante. Assim, elaborou-se um diagnóstico que subsidiasse uma intervenção na área. Além de materiais desenvolvidos por pesquisadores, serão levadas em consideração as legislações das instân-cias federal, estadual e municipal, para melhor adequação à realidade, bem como a participação da população por meio de entrevistas.
Através da avaliação das dimensões urbanas, foi possível se aplicar os padrões dos Princípios de Sustentabilidade de Andrade (2005) e Parâmetros Emergentes do Urbanismo de Farr (apud Andrade,
2014); e os do Desenho Sensível à Água (WSUD), compilados por Andrade (2014).
O projeto promove uma reforma na infraestrutura urbana, propondo um novo desenho de vias que favorece a axia-lidade, o desenvolvimento sociológico e a opção de adensamento em pontos estratégicos. O parque tem por obje-tivo retomar as funções bioclimáticas, ambientais e expressivo-simbólicas do curso d’água no meio urbano. O projeto valoriza a área através da criação de um ambiente que favoreça o convívio social e incentive a apropriação da área pela população, respeitando as preexistên-cias e os anseios populares colhidos em entrevistas.
Urban regeneration of the area where Jataí Creek narrows, in the town of Jataí, in the state of Goiás, based on principles of ecological urbanism.
Orientadora: Liza AndradeBanca: Carolina Pescatori, Giselle Chalub Martins e Giuliana de Brito SousaConvidada: Vânia Loureiro
Implantação por Adauto Melo
1/201566
arqui #4

revitalização da w3
Ana Paula Seraphim
A avenida W3 sul é uma das mais importantes avenidas de Brasília. Foi lá que começou a ocupação habitacional e comercial da pequena Brasília de 1960 e, por isso, foi seu centro por muito tempo. Entretanto, a partir da década de 1980, com o surgimento de novos centros urbanos e estabelecimentos de novas áreas comerciais, a avenida começou a decair. Hoje, encontra-se depredada, com alto número de lojas fechadas e lotes ainda não construídos, não cumprindo sua função social, nem de via comercial nem de via residencial. Mas por que a avenida não conseguiu sobreviver à expansão da cidade, se é o principal eixo de transporte público da cidade e se encontra em um bairro bem consoli-dado? Com base no referencial teórico e na análise dimensional (Holanda, 2013), notou-se que a avenida não possui uma única unidade. Como se pode concluir precipitadamente, ela é formada por quatro trechos com características comuns entre si e que se diferenciam dos outros pela tipologia, organização das
edificações lindeiras, densidade, presença de comércio na SHIGS, periodicidade de uso dos comércios e número de lojas fechadas. Comparando esses trechos, que estão em diferentes estágios de dete-rioração, foi possível chegar às causas do abandono. Adaptando o método de Vargas & Castilho (2008), separaram-se as causas externas (concorrência com novas estruturas) das causas internas condicionantes (separação do uso comer-cial e residencial em cada lado da via, fachadas comerciais pouco atrativas e inconformidade entre as estruturas lindeiras e o papel arterial da via) e das causas internas não condicionantes (excesso de estímulos visuais repetitivos, falta e inadequação de espaços que propi-ciem a permanência e a comunidade e a dificuldade apresentada aos pedestres por conta da prioridade dada aos carros). A partir daí foi possível traçar as seguintes diretrizes para a reabilitação: (1) aden-samento, (2) ocupação habitacional, (3) priorização do transporte coletivo e de pedestres, (4) promoção de espaços
de permanência, (5) valorização das unidades temáticas, (5) adequação da morfologia e função dos lotes ao perfil de uso misto e arterial da avenida e (6) preservação do patrimônio ambiental e cultural. As diretrizes buscam atrair de volta o fluxo de investimentos e pessoas e aproveitar a infraestrutura subutili-zada para implantação de habitação de baixo e médio custo no centro, provendo moradia para uma parte da população que de outra forma não teria acesso a essa área. Em ordem para que isso ocorra através de operação consorciada e para que a avenida assumisse seu caráter de uso misto, ocorreram mudanças morfoló-gicas. Tudo isso preservando ao máximo a legibilidade global da via e da cidade tombada.
Revitalization of South W3 Avenue in Brasilia: from changes in patterns of land utilization to restructuring of public spaces.
Orientadora: Ana Paula GurgelCoorientadora: Giselle Chalub MartinsBanca: Gabriela de Souza Tenório, Igor Campos e Maria do Carmo Bezerra
Perspectiva por Ana Paula Seraphim
67

intervenções em espaço público
Gabriel Ernesto
O Setor Comercial Sul possui uma grande axialidade marcada pelo eixo que o corta no sentido Leste-Oeste. Ao redor desse eixo ocorrem a maioria das ativi-dades e o maior fluxo de pedestres. O objetivo do projeto é valorizar as áreas ao redor desse eixo, permitindo que o setor seja ocupado de forma mais homogênea e proporcionando, assim, novos usos de áreas ociosas, valorização do pedestre e principalmente melhorando a qualidade dos espaços das pessoas que frequentam o local diariamente. Apesar de propor uma descentralização das atividades, o eixo principal não perderá sua força, por isso será, também, uma marca dentro do
projeto, assim como incentivo a ativi-dades de uso noturno. A ideia é propor-cionar infraestrutura e equipamentos que permitam que o lugar seja ocupado de uma forma mais interessante não apenas no horário comercial, mas também no período da noite, proporcionando utili-zação do espaço em tempo integral.
As intervenções são feitas a partir de uma estratégia chamada Bottom Up, ou seja, de baixo para cima, em que o ponto de vista do pedestre é o mais relevante. Por isso as principais decisões foram as de diminuir a área de circu-lação de veículos e aumentar espaços de permanência, além de diminuir os
possíveis empecilhos relativos à circu-lação de pedestres.
As intervenções ocorrem de forma pontual, em espaços como praças e eixos de circulação. Para dar unidade ao projeto há um desenho de piso que define as funções e conecta os espaços. A partir desse desenho são definidos os pisos em pedra portuguesa e as áreas verdes.
Urban intervention in the South Commercial Sector in Brasilia: circulation restructuring with priority for pedestrians and punctual interventions in public space.
Orientador: Bruno CapanemaBanca: Carolina Pescatori, Eduardo Pierrotti Rossetti e Luiz Alberto GouvêaConvidado: Eder Alencar
1/201568
arqui #4

Perspectivas por Gabriel Ernesto69

centro de retiro josefinos
Hernany dos Reis
Em algum momento das nossas vidas nós nos retiramos de sons, de problemas, da rotina, a fim de nos afastar, de evitar, de melhorar, e na procura de nos encontrar com o próprio eu, ou então com algo maior, podendo, posteriormente renovado, voltar à rotina. A construção do espaço físico para retiro se materia-liza desde a nossa própria residência, ou nosso quarto, a hospitais, condomínios fechados, pousadas e centros de espiri-tualização.
Retiro vem do latim retirare, “puxar, tirar”, formado por re-, “para trás” e tirare, “puxar”. O projeto do Retiro Jose-fino visa ao desenvolvimento em arqui-
tetura de um retiro regido por princípios católicos, um lugar de tranquilidade e paz onde a pessoa, o retirante, possa se hospedar e, retirado, refletir sobre o que quer deixar para trás, o que de si tirar. O projeto foi desenvolvido para um terreno afastado do centro da cidade de Mindelo, na Ilha de São Vicente, no Arquipélago de Cabo Verde.
O projeto de arquitetura reli-giosa é um programa interessante de se trabalhar, por toda complexidade de um espaço que deve atender adequada-mente às questões funcionais de um lugar de estadia prolongada como a questão da dimensão simbólica e estética a que
os espaços de espiritualidade devem se lançar. A busca por um ethos (caráter) arquitetônico específico em meio a esta questão fundamentou-se no tripé Vitru-viano e sua mediação do caráter estético, funcional e tecnológico da arquitetura.
O programa, de sete grandes áreas: alojamentos, coordenação, capela, refei-tório, auditório, pátio (área reflexão e lazer) e estacionamento, se desenvolveu a partir das seguintes premissas:
Venusta/Estético, em que o produto arquitetônico, um símbolo de Fé, exige um cuidado e uma expressão simbó-lica peculiar, além de uma harmonia funcional. Utilitas/Funcional, em que
Catholic retreat center on the island of São Vicente in the Cape Verde archipelago. Distant from the town, the building results from a dialogue between religious principles and the natural landscape.
Renderização por Marcelo Pimenta
1/201570
arqui #4

o projeto deve resolver espaços bem diversos para usos variados: de oração individual ou em grupo à contemplação da natureza, de espaços para recreação como a capela, igreja, auditório, refei-tório, às áreas de serviço, da casa dos padres e religiosos da comunidade Josefina aos dormitórios para os reti-rantes. Estes espaços devem ter acessos bem-controlados, sendo essencial a orga-nização dos fluxos. Firmitas/Tecnológico, em que a proposta é trabalhar com pedra, um elemento naturalmente abundante, junto à madeira, pois é própria dos Jose-finos, religando ao Padroeiro do centro de retiro, São José, que era carpinteiro. Os materiais, vários oriundos da própria
Orientador: Cláudio QueirozCoorientador: Júlio Eustáquio de MeloBanca: Liza Andrade, Maribel Aliaga Fuentes e Sergio RizoConvidado: Antônio Carlos Alvetti
região, visam à produção de uma arqui-tetura de menor impacto ambiental e adequação climática. Aliada a esses fatores, a estrutura em si, como expressão tectônica de uma relação fenomenoló-gica com o lugar e a paisagem, determina uma vivência espacial que se conjuga à transcendência religiosa propiciada pelo programa.
71

intervenção em patrimônio histórico: o caso da estação bernardo sayão
Ingrid Beatriz Siqueira
Com a Carta de Veneza lançada em 1964, que aborda as principais teorias acerca da intervenção no patrimônio, estabelece-se a ideia de que não apenas obras que são consideradas “grandes cria-ções” devem ser avaliadas como patri-mônio cultural. Nesse sentindo, bens que muitos consideram detentores de menor valor artístico, como resíduos físicos de indústrias (galpões, oficinas) e obras relacionadas ao sistema de transporte, principalmente ao ferroviário, passam então a ser reconhecidos como deten-tores de valor artístico, histórico, memo-rial e simbólico, tornando-se passíveis de preservação.
O patrimônio industrial, no entanto, não foi e até hoje não é facilmente perce-bido como objeto a ser preservado. Por esse motivo, ao longo da história existem casos notórios de grandes obras que foram demolidas, deixadas ao descaso ou readaptadas.
No entorno de Brasília, encontra-se a estação de trem Bernardo Sayão, cons-truída na década de 1960. O prédio é
fruto da então necessidade do governo de se levar progresso ao interior do país, onde também se encontra a recém-inau-gurada capital. Além de ser considerada uma obra de infraestrutura de transporte e, portanto, patrimônio industrial, ela ainda foi construída aos moldes do modernismo. Assim, a edificação detém características que a qualificam como um edifício de valor histórico e artís-tico, podendo, portanto, ser considerada objeto de intervenção cuidadosa. No entanto, o descaso público é evidente e, apesar de ainda existir uma linha esporádica de trem que carrega mate-riais pesados, o prédio da estação está desativado e encontra-se ocupado por quatro famílias, que a transformaram em residência.
Assim, este trabalho pretende responder ao seguinte questionamento: Quais usos seriam adequados para requa-lificar a Estação, considerando-se que é uma obra da arquitetura moderna indus-trial brasileira, possui importante valor histórico para o DF e encontra-se num
cenário onde são notórias as dificuldades de mobilidade urbana e a carência de locais para atividades culturais e de lazer?
Além de toda uma abordagem teórica feita sobre o tema, com análise de estudos de caso e análise aprofun-dada da obra, fazem-se proposições de projeto nos edifícios do complexo e de todo o seu entorno, incluindo sistema viário, realocação de famílias, paisagismo e requalificação da área. A intenção é revitalizar a área de modo que esta se torne atrativa aos moradores locais e a toda população do Distrito Federal, criando, assim, a noção de respeito ao patrimônio, que não só resgata o passado, mas também o insere novamente na identidade da população.
Intervention in the Bernardo Sayão Station in the Núcleo Bandeirante, Federal District: transformation of the railroad station for cultural purposes and rehabilitation of its surroundings.
Orientadora: Maria Cecília GabrieleCoorientadora: Flaviana Barreto LiraBanca: Ana Elisabete de Almeida Medeiros e Monica Fiuza GondimConvidado: Euripedes Neto
1/201572
arqui #4

Renderização por Ingrid Beatriz73

vem pro parque
Camila Abrão
Ao traçar o perfil evolutivo da história dos parques urbanos no mundo, percebe-se que sua evolução está atrelada ao desenvolvimento da sociedade com suas transformações e renovações.
Assim, ponderar qualidade de vida requer pensar em estratégias de proteção e preservação de espaços potenciais para conservação de suas características em busca de um aperfeiçoamento.
Neste contexto, surgem os parques, dotados de grande responsabilidade, por assim dizer, diante da fragilidade do espaço e da necessidade dele voltada à recreação e ao lazer, essencial à vida moderna dos habitantes e inserindo no planejamento um olhar direto aos espaços públicos como estratégia para as cidades.
Na atualidade, os parques têm a função social, estética e ecológica de proporcionar um espaço onde os cida-dãos possam gozar dos seus tempos livres, o que é uma necessidade cada vez mais evidente para a população urbana.
Historicamente, a área que hoje é o Parque da Cidade estava designada a ser
destinados aos veículos. Um acesso voltado para o Eixo Monumental; um para o bairro Sudoeste e quatro voltados para a Asa Sul. Como a área do Parque hoje é cercada, o acesso dos pedestres é feito por aberturas na cerca. E a maioria destes acessos não possui a pavimentação, sinalização e arborização adequadas.
Considerando tais pressupostos, o intuito deste trabalho é criar um Parque mais integrado à cidade, potencializando o seu uso por meio da criação de novas ciclovias e caminhos que atravessem a área do parque de norte a sul, facilitando o deslocamento dos usuários e garantindo as condições adequadas.
A área de intervenção do projeto consiste desde a W3 sul, passando pelo Parque da Cidade e indo até a Primeira Avenida do bairro Sudoeste.
Integration of the Dona Sarah Kubitschek City Park in Brasilia with adjacent neighborhoods via circulation improvements and street rehabilitation.
Orientador: Bruno CapanemaBanca: Gabriela de Souza Tenório, Luana Miranda Esper Kallas e Luciana SaboiaConvidado: Stepan Krawctschuk
o Jardim Botânico de Brasília. Em 1970, algumas atividades de lazer já estavam se desenvolvendo nessa área. Por isso, o governador da época decidiu criar o Parque Municipal de Recreação neste local. O projeto do Parque teve a parti-cipação de grandes nomes como Lucio Costa, Oscar Niemeyer e o paisagista Burle Marx, sendo inaugurado em 1978.
O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek de Brasília desempenha um papel de grande importância na estrutura urbana do Distrito Federal, em virtude do fluxo diário e também por fazer impor-tantes conexões com o Eixo Monumental, o Setor de Indústrias Gráficas e os bairros da Asa Sul e do Sudoeste.
Após analisar as condições atuais da área do Parque da Cidade focando, prin-cipalmente, nas suas conexões com os bairros vizinhos, percebe-se que o maior fluxo é no sentido longitudinal ao Parque, priorizando os acessos voltados para os veículos, em detrimento ao fluxo trans-versal voltado para os pedestres e ciclistas.
Atualmente são seis os acessos
Perpectivas por Camila Abrão
1/201574
arqui #4

permacultura urbana
Lucas Parahyba
O crescente processo de industria-lização e urbanização vem progressiva-mente alterando a natureza em beneficio dos interesses imediatos da sociedade. A extração irresponsável dos recursos naturais, acompanhada do total desprezo por comunidades locais, é medida comum para o mantimento dos níveis de produção e lucro. Hoje, caminhamos para um cenário de total desequilíbrio do meio ambiente, enormes abismos sociais e economias vulneráveis.
Os chamados condomínios fechados são o reflexo e, ao mesmo tempo, estruturas que consolidam esse desperdício de recursos naturais e humanos e desequilíbrio. São quase sempre constituídos de casas unifa-miliares, com dimensões exageradas e muros altos cercando o loteamento.
Segregam espaços, pessoas e classes sociais. Matam o convívio dentro do bairro e geram locais com uma quali-dade urbana baixa e insustentável. É possível repensar a forma de se fazer um condomínio fechado? Uma nova
Cohousing for the elderly in the town of Eusébio, in the state of Ceará: project based on permaculture principles for housing and social integration.
organização que possa ser benéfica para aqueles que moram no loteamento, assim como para a comunidade que o cerca?
Como os condomínios podem funcionar, segundo uma ideologia holís-tica e sustentável, como modificadores sociais contribuindo para o bairro e ainda assim mantendo suas características positivas? A fortificação de laços sociais intra e extra “muros” tem diversos estí-mulos diferentes, assim como produtos e agentes influenciadores. Integrar o maior número de pessoas e garantir acessibili-dade a todos, sem discriminação. Cientes de que o estímulo mental é vital para a manutenção de uma qualidade de vida e desconfortável com o gigante abismo social existente na região, surge a ideia de montar um pequeno centro de inte-gração social. Assim sendo, podem repassar seus conhecimentos para a comunidade carente com aulas de infor-mática, línguas e reforço escolar. Esta-belecer uma boa relação com o bairro é uma de suas prioridades.
Este trabalho final de graduação
tem como objetivo desenvolver um projeto de um centro de integração social e de habitação com um novo modo de morar no estilo cohousing para a terceira idade na cidade de Eusébio no Ceará. Busca uma estrutura mais sustentável economicamente e ambientalmente, além de propor uma contribuição para a sociedade. Forma-se, assim, um tripé para uma sociedade mais justa, com cresci-mento econômico e pessoal e que possua uma menor pegada ecológica. A intenção é elaborar um anteprojeto para co-habi-tação pensada para a terceira idade no município de Eusébio no estado do Ceará, Brasil, baseado nos princípios da perma-cultura e no método Uma Linguagem de Padrões, de Alexander et al. (1977).
Orientadora: Liza AndradeBanca: Frederico Flósculo Barreto, Maria Assunção Rodrigues e Oscar Luís FerreiraConvidado: Daniel Mangabeira
Perpectiva por Alyssa Volpini
75

escola classe e jardim de infância – sqn 109
João Francisco Walter
O projeto da Escola Classe da Superquadra Norte – 109 segue os funda-mentos do início de Brasília pensados pelo educador Anísio Teixeira, que buscando romper com as deficiências do ensino brasileiro queria idealizar um sistema educacional novo, de período integral. Para cada quadra residencial, em Brasília, foi prevista uma Escola Classe, para atender 480 alunos em dezesseis turmas de trinta alunos. A faixa etária dos alunos seria entre 5 e 12 anos. Para as crianças mais novas, houve a previsão de oito turmas de vinte crianças, para, em dois turnos, atender a 320 estudantes. Essa previsão da Escola Classe ainda está nas normas NGB 11/89 e no Memorial Descritivo (84/85) – “Superquadra Norte 109 e 110 – Distribuição das Projeções – Escola Classe e Jardim de Infância – Arruamento” do Código de Edificações de Brasília.
O terreno destinado pela escola a ser construída é de 50 x 75,8 m, com uma área de 3.790 m². Além disso, um aspecto
muito aprofundado foi o das condicio-nantes ambientais (ruído, insolação e ventos) e estudos de impactos ambien-tais. Por meio dos desenhos, buscaram-se alternativas para melhorar o conforto do usuário e minimizar o consumo de água e energia por meio de estudos de insolação, ventilação, reaproveitamento de água pluvial e aquecimento solar da água. Assim, a escola projetada teria uma proposta de aliar a estética do edifício com estratégias sustentáveis, adap-tando-a para as necessidades atuais de minimizar os danos ao meio ambiente. Analisando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96, obser-va-se que a tendência das escolas atuais é de oferecer atividades aos alunos ao longo do período integral.
A escola pode ser acessada por bicicleta, por carro e a pé. Para isso, foi pensado um sistema de ciclovias e calçadas próximo à entrada da escola, de forma a melhorar a acessibilidade ao local. Dentro das soluções arquitetônicas
apresentadas do projeto, as principais foram a proposta de ambientes perme-áveis, com bastante vegetação e que oferecessem aos alunos conforto não só na sala de aula como nos ambientes externos. Para complementar o programa de necessidades, houve a adição de uma sala multiuso, uma de estudos e uma biblioteca e mediateca. Outro aspecto muito estudado foi a busca de uma linguagem arquitetônica que fosse próxima à de Brasília. Por isso, foram utilizados elementos como brises, beirais, ritmo e formas simples como o retân-gulo e, em alguns locais, a janela em fita. Assim, a intenção do projeto da Escola Classe da SQN 109 seria a de oferecer ambientes agradáveis e confortáveis, que estimulassem a permanência dos usuários desse centro de ensino.
School and Kindergarten for a Superblock in Brasilia: proposal based on environmental impact mitigation strategies for a space of full-time learning.
Orientadora: Marta RomeroBanca: Andrea Prado, Ivan do Valle e Maria Cecília GabrieleConvidado: Eurípedes Neto
1/201576
arqui #4

Perspectiva geral e interna por João Walter
77

mob. in. campus projeto de mobilidade e informação do campus darcy ribeiro
Juliana Vasconcelos
Mobility project for the Darcy Ribeiro Campus of the University of Brasilia: from street restructuring to the conception of information and modal integration stations.
1/201578
arqui #4

O campus universitário é um espaço importante no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades acadê-micas de uma região e das suas interações sociais. Sendo assim, a configuração do seu espaço é determinante para que esse espaço possa permitir a livre e espon-tânea circulação do usuário nas mais diversas áreas da universidade. A busca pela valorização e otimização da mobi-lidade do estudante ou do trabalhador é um interessante objeto de estudo para que se possa atingir a integração dos diversos espaços acadêmicos e manter a unidade do campus.
Trazendo o conceito da mobilidade para dentro da universidade e o discurso da necessidade de uma mudança de para-digmas, é possível fazer do campus um lugar em que se coloquem em prática soluções e estratégias para incentivar a mobilidade sustentável. O campus, por ser um lugar essencialmente acadê-mico, é uma importante ferramenta para conscientizar jovens estudantes
de que é possível aprimorar a forma de locomoção no espaço, a partir do incen-tivo do transporte sustentável de passa-geiros, ciclistas e motoristas visando à redução dos impactos ambientais e do carregamento viário.
Adotando-se a estrutura viária e os percursos existentes, foram reali-zadas análises da atual configuração do campus universitário, para que se diagnosticassem os principais pontos de conflitos entre os modos de trans-portes e das zonas frágeis não estrutu-radas. Com isso, o projeto visa delinear soluções de desenho tanto para áreas que ainda não foram consolidadas quanto para áreas que necessitam de reestrutu-ração, que seria a região central conso-lidada. Essas soluções visam, além da promoção do transporte não motorizado, o “descortinamento” de fachadas a partir da transposição de estacionamentos para a fachada posterior e a liberação das fachadas de maior acesso e movi-mentação para que seja um espaço de
encontro e atratividade para pedestres e ciclistas.
A ideia de se organizar o sistema viário e o espaço público é justamente para garantir a orientabilidade e infor-mação do usuário dentro do campus, para que ele se sinta motivado a caminhar e/ou pedalar por esse espaço. Para comple-mentar o desenho urbano proposto, são criadas estações de mobilidade integrada, às quais são incorporados o ponto de ônibus, o ponto de bicicleta compar-tilhada e o ponto de informação em um único espaço, para que o projeto incorpore aspectos da microescala e da macroescala com uma unidade e mesma identidade dentro de todo o campus.
Orientadora: Monica Fiuza GondimBanca: Gabriela de Souza Tenório, Giselle Chalub Martins e Marcos Thadeu Magalhães Convidado: Breno Rodrigues
Implantação e perspectiva por Juliana Vasconcelos
79

[re]viva o centro projeto de requalificação urbanística da praça da bandeira, em teresina
Júlio Paiva
Urban rehabilitation of Bandeira Square and its surroundings in the capital city of Teresina, in the state of Piauí: reconnection with memory, reconstitution of leisure space, and reintegration of the Parnaíba River with the town.
1/201580
arqui #4

Durante toda a sua história, a Praça da Bandeira e a população de Teresina construíram uma relação antitética de valorização e desvalorização, memória e esquecimento. Como local de surgi-mento da cidade, a praça tem importância fundamental tanto na estrutura urbana como na preservação da identidade local. No entanto, nas últimas décadas, a área vem caindo em processo de deterioração, perdendo seu papel de importante figura de praça com atividades de lazer e cultura para outro papel de plano de fundo, um simples local de passagem tomado por atividades informais. No meio desse ciclo de vai e vem em sua dinâmica, o espaço perdeu, sobretudo, a importante conexão da cidade com o Rio Parnaíba, motivo principal para sua implantação naquele sítio. Grandes barreiras foram impostas entre esses dois importantes elementos simbólicos de Teresina: um camelódromo, mais conhecido como Shopping da Cidade, e um viaduto que
serve ao metrô. Desse modo, a desvalo-rização econômica e paisagística da orla do Rio Parnaíba e da Praça da Bandeira é crescente, nos dias de hoje, trazendo prejuízos sociais.
Logo à primeira vista, a Praça da Bandeira se mostra como um local carente de uma imagem positiva, e de uma identidade que se adeque ao seu valor simbólico, relembrando suas memórias e se abrindo ao futuro, como um espaço público de referência na cidade de Teresina. Acima de tudo, o que se pretende com a intervenção não é uma nova imagem para o local, total-mente diferente da existente, mas que ele seja valorizado, de forma que a beleza, a cultura e a produção do espaço sejam ressaltadas e abraçadas pela população de Teresina como um todo. Aliada a isso, a inserção de novos elementos paisagís-ticos e de novo mobiliário, com vistas a melhorar a imagem do lugar; a implan-tação de novas atividades, incentivando
a permanência das pessoas durante o dia e a noite, além da valorização dos percursos a pé e bicicleta, levam a um contato maior com a cidade e os espaços públicos, despertando, assim, um senti-mento coletivo de proteção e pertenci-mento àquele lugar. Enfim, pretende-se, por meio do projeto, a reconexão entre as pessoas e a memória da cidade, através da valorização do patrimônio arquitetônico e do incentivo às manifestações cultu-rais regionais no espaço; a reconexão da população com o Rio Parnaíba, motivo do surgimento da cidade e recurso natural que até hoje contribui para a vida do teresinense e, sobretudo, a reconexão entre as pessoas, de diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes histórias de vida.
Orientadora: Gabriela de Souza TenórioBanca: Flaviana Barreto Lira, Giuliana de Brito Sousa e Mônica Fiuza Gondim Convidada: Vânia Loureiro
Perspectiva geral por Júlio Paiva
81

espaço leitura biblioteca comunitária do guará
Marcelo Aquino
O Espaço Leitura: Biblioteca Comunitária do Guará localiza-se no Distrito Federal na região administra-tiva do Guará II, Quadra QI 23, Lote 1, às margens da Avenida Contorno. O sítio no atual momento se encontra sem uso em uma zona central da região. Possui extensões norte e sul, com uma área de aproximadamente 7.600 m², além de apresentar uma declividade bastante suave. Nas suas proximidades há um comércio bastante ativo e consolidado, mesclado com edificações de uso misto. Na face leste do lote há a presença de residências unifamiliares e a oeste e sul, edifícios em altura de uso residenciais. Na face ao norte encontra-se a Estação Guará, junto à praça que se conecta com o Guará I.
A proximidade com o metrô e o grande fluxo de ônibus na região foram pontos fundamentais na escolha do terreno, podendo tornar a escala do Espaço Leitura: Biblioteca Comunitária do Guará muito maior, por abranger regiões administrativas mais próximas como: a Candangolândia, Águas Claras e Núcleo Bandeirante, e até mesmo as mais
distantes como: Samambaia, Taguatinga e Ceilândia por meio do metrô. Outro fator importante na escolha do lote foi a grande quantidade de escolas que vão da educação infantil até o ensino médio, além de contar com algumas instituições de ensino superior, mostrando uma potencialidade para futuros usuários do espaço.
O Guará inicialmente foi imaginado como uma vila de trabalhadores, o mais próximo possível do Plano Piloto, com uma escala mais bucólica para edifícios de uso unifamiliar, com no máximo dois pavimentos. Atualmente vem passando por uma verticalização, muitas vezes justificado pela ascensão econômica dos seus moradores. A área de projeto está em uma faixa de quadras com uma grande quantidade de edifícios verticais, de cerca de sete pavimentos. Esse fator influenciou na abordagem do projeto do Espaço Leitura: Biblioteca Comunitária do Guará, buscando o desenvolvimento de um edifício com uma escala horizontal e que valoriza o percurso do pedestre.
O intuito do projeto é de promover a questão da leitura, fazendo com que
ocorra a participação ativa dos moradores da região e atendendo às necessidades das escolas, com acervo destinado a livros didáticos, acolhendo as atividades extra-curriculares. Como o foco do uso não é apenas para a questão da leitura, o espaço visa ser um gerador de atividades cultu-rais e que abrace as atividades existentes. Portanto, o projeto justifica-se pelas suas dimensões sociais, estética e simbólica.
CONCEPÇÃO, FORMA E ACESSOS Um dos conceitos geradores do
Espaço Leitura: Biblioteca Comunitária do Guará foi a conexão dos eixos com os acessos influenciando na implantação do edifício no sítio. Como na face norte do lote, há a presença da estação do metrô, que é um grande gerador de fluxo de pessoas junto à parada de ônibus, com uma circulação intensa nas margens da Avenida Contorno, na Via Central e na Via 1 próxima à quadra QE 24. Com isso criaram-se três acessos. O principal fica na face norte do lote, a cerca de 1,70 m abaixo do nível da calçada, sendo direcionado por três rampas, criando uma praça que leva às portas de vidro. Nas laterais do
Guará II Community Library, Federal District: library articulated with public transportation and pedestrian paths. Its square-shaped entrance creates a stage for the neighborhood’s cultural activities.
1/201582
arqui #4

edifício há um acesso secundário na face leste, que é realizado por uma passarela de concreto, e um acesso secundário, de serviços, localizado na face oeste, feito por meio de uma passarela que leva a um nível de 1,70 m acima da calçada.
O acesso ao edifício ocorre por meio de transporte público, ônibus ou metrô, de bicicleta ou a pé, em uma ciclovia e em percursos bem definidos para pedestres, e veículo individual. Na face sul do lote há um espaço destinado para estacionamento. Nas margens da Via 1 já existe um. Para recepcionar os usuários, na frente do edifício foi locada a praça. Esta possui uma declividade suave, que busca abraçar os transeuntes que circulam próximos às três vias que contornam o lote, podendo se tornar em um espaço multiuso para atividades distintas como: teatro, feiras, rodas musi-cais, artesanato, entre outros.
A implantação do edifício foi feita em função da criação da praça e da conexão dos eixos do projeto com os acessos. Portanto, o edifício se desen-volve horizontalmente no mesmo eixo do lote, sendo que o nível do acesso principal
se dá em uma parte semienterrada. Nas laterais criaram-se taludes com incli-nação semelhantes às das rampas, sendo que a locação do estacionamento na parte posterior do edifício é uma tentativa de valorização do pedestre. O acesso ao edifício é pela via coletora.
A forma do edifício se deu por meio da modulação estrutural de 10 x 10 metros, mas nas laterais há a quebra da simetria, inclinando os planos de vedação do edifício. Na fachada oeste, o plano inclinado vai até o solo, criando um grande vazio na lateral do prédio. Já na fachada leste há uma insistência com a assimetria, onde o plano de vedação quebra na altura do 2° pavi-mento, inclinando-se para o sentido contrário, criando um grande balanço que passa uma sensação de flutuação, que é reforçada com a escolha dos materiais. A grande vantagem dessa solução foi a criação de grandes massas de sombra, importantes para as áreas de acervo. Mas, em contrapartida, se cria uma grande quantidade de espaços escuros e de aberturas mais expostas ao sol. Por isso, no eixo central do edifício foi
criado um grande átrio, que permite a iluminação de todos os pavimentos. E para as fachadas, com plano de vedação inclinado, se criou uma tela de proteção metálica, que minimiza os problemas de insolação. Na fachada norte, as estruturas das laterais e da cobertura avançam um módulo além do edifício, criando uma grande casca protetora. Além disso, a tela de vidro dessa fachada conta com a proteção de brises metálicos horizontais. Na fachada sul o desenho se repete, mas não há a necessidade de proteção na tela de vidro. Então criam-se varandas em diferentes níveis destinadas a espaços de leitura livre.
A criação do átrio foi bastante importante para o projeto, pois houve o surgimento do partido, definindo as características gerais, as atividades, os fluxos internos, a circulação vertical e a iluminação natural do edifício, ambas se dando em função deste.
Orientador: Frederico Flósculo Barreto Banca: Ivan do Valle, Luciana Saboia e Mário Eduardo de AraújoConvidado: Eurípedes Neto
Perspectiva geral e frontal por Marcelo Aquino e Helena Daher
83

midiateca pública de brasília
Marcelo Oliveira
A Midiateca é um espaço desti-nado a reunir e abrigar coleções de informações tanto nos suportes tradi-cionais quanto em outros suportes, como imagem, som e vídeo. Resultado de uma lógica aditiva de funções ao programa tradicional de uma biblioteca, ela deve, além das atividades básicas de conservar, catalogar e emprestar suas coleções, acolher os cidadãos para difundir seus acervos culturais e midiáticos.
A localização da atual Biblioteca Pública de Brasília, na entrequadra 512/513 Sul, foi a base para a escolha do terreno. Apesar de sua importância, a Biblioteca funciona em condições precá-rias, o que motivou a intervenção na área. As ideias de abertura, fluidez e inter-disciplinaridade guiaram a concepção do projeto. Os espaços internos livres de barreiras proporcionam o contato entre as diversas atividades da Midiateca
Brasilia Media Library in South W3: project featuring spatial fluidity as represented in its inner patio and adaptability of its layout. A public space for information dissemination.
e seus utilizadores. As trocas culturais são estimuladas e o acesso universal aos múltiplos meios de difusão da informação é garantido.
As diferentes partes do programa são definidas pelo mobiliário, adap-tado às especificidades das atividades, e por elementos móveis, como cortinas e painéis. Uma guia vermelha no piso conduz o visitante desde a rua aos ambientes e pavimentos, compondo a identidade visual da Midiateca. Uma passagem divide o edifício em duas partes, criando um pátio interno. Uma cobertura elevada, composta por elementos de proteção solar, coroa o espaço. Este ambiente permanece reser-vado e protegido e, ao mesmo tempo, público, sendo um local de encontro e descanso para onde o edifício se abre.
No nível da rua, o jardim de leitura ocupa o lado voltado para o comércio
local. Dessa maneira, foi preservado o caminho que conecta as superquadras e foi mantida a continuidade entre as áreas verdes vizinhas. O segundo nível da Midiateca avança sobre essa passagem, tornando-se sua cobertura. Este balanço é sustentado por uma treliça metálica que estrutura todo o pavimento. Na W3 a fachada cega compõe o fechamento característico criado pelos edifícios da avenida e protege os espaços internos. Nos lados sudeste e noroeste painéis metálicos perfurados compõem as fachadas. O lado sudoeste possui fecha-mento em vidro, privilegiando a vista da cidade.
Orientadora: Elane Ribeiro Peixoto Banca: Bruno Capanema, Igor Campos e Maria Fernanda DerntlConvidado: Matheus Seco
1/201584
arqui #4

Perspectiva geral, corte e perspectivas internas por Marcelo Oliveira
85

Vista aérea. Croqui: Mariana Leite
intervenção no mab
Mariana Leite
O projeto de intervenção acontece no MAB – Museu de Arte de Brasília –, localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 2, nas proximidades da Concha Acústica e do Brasília Palace Hotel.
O MAB, fundado em 1985, tem um acervo formado por mais de 2 mil obras brasileiras de arte moderna e contem-porânea caracterizadas por pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, escul-turas, objetos e instalações. Todo o acervo, entretanto, foi transferido para o Museu Nacional, em Brasília, em razão da interdição do MAB em 2007.
A intervenção no Museu foi pensada dentro do contexto urbano em que ele está inserido e ela “equi-vale a uma interferência consciente no processo dinâmico da cidade” (Gracia, 1992, tradução da autora), respeitando os valores pertencentes ao prédio pree-xistente. Os critérios de intervenção apli-
cados no projeto seguem as teorias de Camilo Boito, ao diferenciar o original e o novo com a utilização de materiais que evidenciam a contemporaneidade da intervenção. Em se tratando de uma intervenção de âmbito espacial, o novo elemento formal tem perímetro de sua base igual à forma preexistente e o conjunto dos dois prédios caracteri-za-se pela exclusão com a introdução de um “elemento nexo”, que pretende constituir um conjunto arquitetônico integrado (Gracia, 1992).
Assim, a proposta de intervenção no MAB pretende fazer a requalificação do espaço urbano, ressaltando-se que o Museu é tido como patrimônio moderno não tombado, mas inserido no conjunto urbanístico protegido por lei, o que reflete a necessidade de se retomar o caráter bucólico e recreativo do local.
O conceito do projeto objetiva,
então, a valorização da paisagem com a determinação de praças e cami-nhos intuitivos entre os dois prédios do conjunto cultural, e também um percurso até as margens do Lago Paranoá, propondo a relação direta entre o MAB e ele. O programa arquitetônico do prédio anexo foi pensado com o obje-tivo de complementar as atividades já existentes no plano original do MAB, sugerindo novas atividades e formas de apropriação do espaço preexistente. Nesse sentido, adequou-se o MAB – de caráter moderno – às exigências do museu contemporâneo, tornando-o um ponto de atração cultural e educativa.
Intervention in the Brasilia Art Museum – a modern legacy not yet legally listed as a heritage asset – for meeting the requirements of a contemporary museum and for rehabilitating its surroundings and integrating them with Lake Paranoá.
Orientadora: Ana ElisabeteBanca: Flaviana Barreto Lira, Leandro de Sousa Cruz e Maria Cecília GabrieleConvidada: Ana Clara Giannecchini
1/201586
arqui #4

Vista aérea. Croqui: Mariana Leite
Perspectivas da vista oeste. Croqui: Mariana Leite
Vista interna do novo prédio. Croqui: Mariana Leite
Perspectivas geral e internas por Mariana Leite
87

projeto participativo infantilrequalificação urbana entre as qes 44 e 46 do guará iiUrban rehabilitation of a street in Guará II, Federal District, through a children’s participatory process oriented towards the autonomy of the new generations in the debates about the city.
1/201588
arqui #4

Marilia Tuler
Tendo a rua entre a QE 44 e QE 46 do Guará II como objeto de trabalho, compartilhamos o processo de projetação com oito crianças entre 5 e 8 anos, discu-tindo diversos aspectos do espaço urbano.
A proposta surgiu da percepção de algumas dificuldades enfrentadas em processos participativos acompanhados ao longo do curso. A participação popular é indispensável em todas as decisões tomadas a respeito das cidades, mas a falta de acesso à informação e o olhar pouco crítico sobre a temática do espaço dificultam a autonomia da população diante das discussões sobre os espaços urbanos. Por fim, entendeu-se que a melhor forma de se quebrar essa lógica
seria trabalhar com o processo de auto-nomia das novas gerações.
O projeto participativo com as crianças possui, além de um objetivo projetual, também um foco de formação pedagógica e política, não só das crianças de forma imediata, mas na estruturação de comunidades capazes de construir cidades melhores e mais adequadas em um futuro próximo. As cidades, o espaço público principalmente, são de responsa-bilidade de todos que nela vivem. Conhe-cê-la e debatê-la são parte importante no exercício da cidadania.
Nas atividades desenvolvidas foram discutidas as problemáticas e potencialidades do local. Esse material
foi utilizado como base para a execução da proposta de projeto de intervenção. O olhar etnográfico e a cartografia da ação nos permitiram contar histórias e estórias do lugar, descrever e mapear como as pessoas se relacionam entre si e com o espaço. A partir disso foi desenvolvida a proposta de desenho urbano que levou em consideração tanto as decisões diretas das crianças quanto as análises feitas sobre a percepção delas sobre o espaço da cidade.
Orientadora: Carolina PescatoriBanca: Giuliana de Brito Sousa, Liza Andrade e Maria Cecília Gabriele Convidado: Mateus Secco
Foto dos participantes, perspectiva geral e nível do observador por Marilia Tuler
89

mosteiro de são bento
Matheus Macedo
Fundada no século VI d.C., a Ordem Beneditina é tida como a fundadora do movimento monacal ocidental. A Regra escrita por São Bento de Núrsia (480 – 543 d.C.), com seu lema ora et labora (reza e trabalha), visa estabelecer uma vivência comunitária inteiramente voltada ao serviço de Deus e ao acolhimento das pessoas que se dirigem aos monges.
Os monges beneditinos chegaram a Brasília em 1987. Em virtude das circuns-tâncias desta chegada, eles estão desde então estabelecidos em local provisório próximo à Ermida Dom Bosco, no Lago Sul. A construção de um novo mosteiro no local tem como objetivo disponibi-lizar um espaço maior, mais acolhedor e suficientemente representativo da ordem beneditina, tomando como partido a sabedoria tipológica dos mosteiros consolidada ao longo de séculos.
O mosteiro está posicionado
próximo ao Lago Paranoá e está cercado por exuberante vegetação nativa. A praça, na sua condição de espaço público, estabelece uma relação aberta com a paisagem e é intermediária entre a recepção do mosteiro e o acesso à igreja. O espelho d’água, onde estão a cúpula da igreja, o campanário e uma escultura de São Bento, assume um significado simbólico especial.
As funções privadas estão dispostas ao longo de uma mesma cota de nível (+1009 m), a fim de minimizar a movi-mentação de terras e de evitar percursos com escadas e elevadores. A única mudança de nível significativa se dá entre as áreas privadas do mosteiro e a igreja, mas ela ocorre de forma suave por meio de uma rampa de inclinação moderada. Cercada por muros de alvenaria, a área privada é introspectiva, voltada ao reco-lhimento, à oração e ao trabalho, ainda
que aberta à ventilação e à luz solar em seus pátios internos.
Os revestimentos consistem em pedras, alvenaria e concreto aparentes e esquadrias e pisos de madeira, promo-vendo sutis variações entre um ambiente e outro, mas mantendo a sobriedade característica da instituição.
Os monges beneditinos, assim, encontrarão ali um lugar representativo, inserindo-se na paisagem brasiliense e fazendo-se, portanto, presentes, sem perder a simplicidade e a possibilidade de exercer suas práticas diárias de reza e trabalho com recolhimento e afinco.
Benedictine monastery in Brasilia: a dialogue between Lake Paranoá and an architecture of symbolic relations developing from the consolidated typology of the monasteries.
Orientadora: Cláudia GarciaBanca: Bruno Capanema, Igor Campos e Maria Cecília GabrieleConvidado: Matheus Seco
1/201590
arqui #4

Perspectivas e corte por Mateus Macedo
91

centro de excelência esportiva
Muhammad Bazila
A community sports center of excellence in entrequadra SQN 202/203 in Brasilia: permeability for the pedestrian characteristic of a Residential Scale and a means of neighborhood integration.
56
Perspectiva aérea mostrando a fachada virada para a L1 norte.
1/201592
arqui #4

MUHAMMAD JUNIOR BRAGA BAZILAcentro de excelência esportiva
um exercício do indissociável raciocínio entre a imprescindível tecnologia que os equipamentos esportivos exigem, a flexibilização do centro esportivo de alto rendimento e do espaço de lazer público/privado das entrequadras, as caracterís-ticas espaciais de Brasília e, mais que tudo, o desafio da expressão simbólica essencial a essa harmonia, pensado desde os momentos de concepção do projeto.
O trabalho é uma forma de reforçar alguns conhecimentos prévios sobre instalações esportivas e tem como objetivo desenvolver as possibilidades do esporte como forma de lazer e como prática de alto rendimento espacialmente no projeto. A proposta de conjugar um centro de treinamento de alto rendi-mento com um espaço comunitário nos leva a soluções que aproximam o alto rendimento do grande público. As insta-lações atendem em alto nível os esportes olímpicos e paraolímpicos coletivos de quadra sem perder a escala comunitária no qual está inserido. O projeto, por suas próprias características programáticas, é
Orientador: Cláudio Queiroz Coorientador: Alexandre Chan ViannaBanca: Carolina Pescatori e Maribel Aliaga Fuentes
65
56
Perspectiva aérea mostrando a fachada virada para a L1 norte.
57
Perspectiva da Academia.
Perspectivas por Muhammad Bazila
93

eixo de acesso, que compreende partes de convivência, esportivas, de lazer, de serviços etc. A configuração de toda essa área externa se dá através de elementos paisagísticos, incluindo um pomar, um labirinto lúdico/sensorial, uma praça molhada, dentre outros.
clube do servidor
Paulo Cavalcante
Tipologicamente, o conceito do projeto é de um centro de lazer poliva-lente, com áreas multiuso, para atendi-mento tanto durante a semana quanto durante o fim de semana. Estrutural-mente, o conceito é de um equipamento de lazer integrado, no qual as instalações componentes se harmonizam espacial, estética e funcionalmente, completan-do-se no atendimento aos frequenta-dores. As instalações de apoio devem ser projetadas para atender ao conjunto.
Levando as premissas de projeto, o partido arquitetônico foi criado a partir
de dois pontos fundamentais: as visuais, tanto do lago quanto do clube; e os eixos, observados pelo terreno, edifício exis-tente e vizinhos.
Assim, o clube é composto basica-mente de três núcleos: o Edifício Antigo, mantendo sua configuração original, com um pequeno acréscimo para valorizar seu acesso; o Edifício Novo, situado na lateral direita respeitando a linguagem e a visibilidade do Edifício Antigo, criando novas opções de uso, e se utilizando da bela vista do próprio clube e do Lago Paranoá; e a Área Externa, dividida pelo
Revitalization of the Clube do Servidor (Civil Servant’s Club) in Brasilia: an intervention in the original building and a project for an extension and a new building organized around the shore sights and axes outlined by the preexisting elements.
Orientadora: Maribel Aliaga FuentesBanca: Carolina Pescatori, Cláudio Queiroz e Maria Assunção Convidado: Daniel Mangabeira
1/201594
arqui #4

Renderizações por Paulo Silgueiro e Larissa Sudbrack
95

novo autódromo de brasília
Tasso Mendonça
O Autódromo de Brasília, inaugu-rado em 1974, em uma cidade ainda em processo de implantação, não se cons-titui em um marco arquitetônico, como tradicionalmente outros equipamentos públicos são referências no senso comum do brasiliense. É hoje um equipamento subutilizado, no entanto, já consolidado em uma área que se tornou central. Na sua configuração atual, o autódromo carece de integração com a cidade, não conseguindo justificar a vasta área que ocupa. Urge, assim, que sejam prospec-tadas novas possibilidades de utilização por um volume maior de público.
O propósito deste trabalho é apre-sentar um projeto de reforma e reestru-turação do Autódromo de Brasília, de modo a aperfeiçoar as funções de corrida, permitindo competições de nível inter-nacional, atividade-fim do equipamento.
No período em que não há corridas, o autódromo deve ter espaço e flexibilidade para receber outras possibilidades de eventos. Nessa filosofia foram desenvol-vidos os equipamentos fixos inseridos no projeto, visando não apenas às corridas, mas simultaneamente, a outras ativi-dades de interesse público.
Como elemento fundamental da função de corrida, a pista foi alte-rada de forma a se adequar aos níveis de segurança exigidos pela Federação Internacional de Automobilismo – FIA. Essa alteração foi determinante para a arquitetura, na medida em que cria uma nova realidade de implantação dos edifícios, e ainda implicou uma redução da pista de 5.476 m para 4.560 m. Tal redução mantém ainda a extensão da pista dentro da média dos circuitos do calendário da Fórmula 1.
Restructuring of the Brasilia racetrack to bring it up to international standards, to ensure flexible uses, and to house the Automobile Museum, integrating it with the urban tissue through the rehabilitation of its surroundings.
Com a redução da pista de compe-tição e, consequentemente, do perímetro ocupado no terreno, foi possível inserir uma praça entre a via de acesso ao SRPN Trecho 1 e as entradas das arquibancadas fixas. Nesta mesma área, foi implantado o Museu do Automóvel de Brasília, que atualmente carece de instalações próprias. Além disso, todo o perímetro foi tratado de forma a ter uma calçada de 10 m de largura com faixa arborizada para os percursos adjacentes. Tal mudança tem como objetivo integrar o autódromo ao tecido urbano. Buscou-se, ainda, reservar um espaço que acomodasse a aglomeração de pessoas compatível com os eventos.
O edifício dos boxes, com um pavimento atirantado livre de pilares e divisões, que possibilita diversos usos, e o vasto paddock compõem áreas técnicas
1/201596
arqui #4

do circuito. Estes foram locados em posição semelhante aos equivalentes anteriores, que foram demolidos. Dentro do anel do circuito, dispõe-se de estacio-namento privativo para 350 veículos. Para o público pagante, propõe-se a utilização dos grandes estacionamentos contíguos ao Estádio Nacional e ao Ginásio Nilson Nelson, ambos localizados em média de dez minutos de caminhada, em ritmo leve, das entradas das arquibancadas.
Para o controle de prova, propõe-se uma torre em posição estratégica com dois pavimentos e plena visibilidade de todo o circuito. Aproveita-se esse espaço, mandatório por necessidade técnica, para se instalar um mirante no pavimento inferior.
Ainda nas funções de corrida, se faz necessária a existência de um centro médico com plena capacidade de utili-
Orientador: Cláudio QueirozBanca: Ivan do Valle, Leandro de Sousa Cruz e Oscar Luís Ferreira Convidado: Antônio Alvetti
zação em caso de acidentes automobilís-ticos. O espaço também possui subdivisão para atendimento ao público pagante durante eventos.
As novas arquibancadas fixas comportam no total 20.000 pessoas, dividindo-se entre assentos cobertos localizados na reta de largada com vista para os boxes e pódio de premiação, e outros 10.100 assentos estão localizados em posição com vista privilegiada para um maior trecho de retas e curvas. Como opção de acesso de menor custo propõem-se as áreas de piquenique. De tais espaços será possível acompanhar uma corrida a partir de um gramado inclinado, que aproveita os taludes de contenção no perímetro do autódromo. Esse modelo também ocorre em outros circuitos de Fórmula 1. Neste espaço, a entrada é mais barata e estima-se sua
capacidade em cerca de 50.000 pessoas. Do lado externo, haverá a possibilidade de se organizar eventos sob as arquiban-cadas fixas, que possuem o pavimento térreo livre. Na praça, outros eventos diversos poderão ser realizados.
Estima-se que, com essa proposta, o Autódromo de Brasília possa ser também um espaço multiuso, inserido no circuito de lazer da cidade, atuando como alternativa para eventos de menor porte, quando comparado com o Estádio Nacional, eliminando-se o caráter de espaço privado que possui atualmente.
Renderizações por Tasso Mendonça
97

PREMI

FAU
ADAPREMI

31ª quadrienal de pragacaraíba
Premiados: Bianca Álvarez, Gabriela Rocha, Raissa Moruzzi, Rhayssa Ramalho, Valdinei de Sousa e Rafael Assis
1/2015100
arqui #4

A UnB esteve presente na 31ª Quadrienal de Praga de Design Cênico com trabalhos expostos na mostra estu-dantil. Dentre os trabalhos estava o “Caraíba”, um projeto de cenografia para teatro de bonecos que conta a história do ipê e da cigarra. Orientado pela professora Sônia Paiva, do departamento de Artes Cênicas, o grupo, de caráter interdis-ciplinar, reuniu os alunos Bianca Álvarez, Gabriela Rocha, Raissa Moruzzi, Rhayssa Ramalho, Valdinei de Sousa, e Rafael Assis, aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB.
UnB was present at the 31st Prague Quadrennial of Perfor-mance Design and Space with works displayed at the student event. One of these was Caraíba, a scenography project for a puppet theater that tells the story of an ipe tree and a cicada. Advised by Prof. Sônia Paiva of the Department of Performance Design and Space, the interdisciplinary group comprised the following students: Bianca Álvarez, Gabriela Rocha, Raissa Moruzzi, Rhayssa Ramalho, Vald-inei de Sousa, and Rafael Assis from the School of Architecture and Urbanisnm.
101

SINOPSEAtravés de bonecos, projeções,
cenário e formas animadas, “Caraíba” conta a estória da relação entre um ipê e uma cigarra enquanto elas passam pela metamorfose de seus ciclos, em um formato versátil para apresentações em locais abertos ou fechados tipo arena. O espetáculo desperta um novo olhar para a maneira como nós percebemos e tratamos o meio ambiente.
CENÁRIOA ideia de cenário para a história
foi um ipê, que seria tanto personagem como local da história, uma árvore que o público pudesse enxergar tanto sua parte que está na superficie quanto sua parte que está embaixo da terra. Para representar as mudanças de fases do ipê decidimoss aplicar projeções sobre uma tela semitransparente que estaria entre a árvore e o púbico.
O ipê foi pensado não só como um personagem, mas também como o local das ações. Como cenário físico, ele é composto por seções de blocos de
poliuretano esculpido montados em um tubo estrutural de aço suportado por pés treliçados que se escondem sobre o palco circular. Das raízes do ipê nascem 3 outros tubos estruturais que suportam a passarela semi-circular por onde andam manipuladores e personagens.
Para as projeções e no scrim semi--circular 2 projetores com capacidade de 12000 lumens seriam usados, cada um deles girados 90 graus para se adaptar ao formato da área a ser projetada.
PROCESSO CRIATIVOAo longo de aproximadamente
2 meses e meio, a equipe reuniu-se sempre que possível - contornando a agenda pessoal de cada integrante do grupo - para desenvolver o trabalho. A primeira etapa, que envolvia pesquisa, brainstorming e rascunho das ideias iniciais foi a mais demorada. A etapa de desenvolvimento projetual da cenografia foi bastante trabalhosa, porém fluiu com mais facilidade, uma vez que as ideias já haviam sido organizadas.
Perspectiva geral pelos autores
Esquema estrutural e caderno de croquis pelos autores
1/2015102
arqui #4

103

a nova arquitetura de brasília 2015
A exposição teve como objetivo incentivar os arqui-tetos que atuam no Distrito Federal e também os estudantes formandos. A escolha dos trabalhos que compõem a mostra foi feita através de concurso organizado pelo IAB-DF. O edital provocava os participantes a responderem à seguintes questão: quem são aqueles que vêm escrevendo a recente história da arquitetura de Brasília?
The New Brasilia Architecture 2015, an event organized by IAB-DF, selected through a contest 40 pieces of work done by archi-tects and graduating students from the Federal District and gave prizes to projects and publications. The aim was to map the new outstanding professionals and those who have been writing the recent architectural history of Brasilia.
org. Luciana Saboia e Mª Fernanda Derntl
Brasília 50+50: cidade, história e projeto
É da tradição da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília estudar a sua cidade. Assim foi desde a sua criação, há meio século, quando Brasília era algo quase inexistente.
Assim é, como neste Workshop Brasília 50+50, realizado conjuntamente com o Instituto Politécnico de Milão em setembro de 2011. O contexto, a crescente metropolização do Distrito Federal; o objetivo, o debate amplo sobre projeto urbano e arquitetônico, sobre preservação e modernidade. Problematizando a sua contemporaneidade, Brasília foi apresentada em palestras e visitas guiadas, o que frutificou em estudos específicos sobre diferentes áreas da cidade.
Seus registros são agora divulgados para um público mais amplo, sempre curioso por novas abordagens e interpretações desta que não é uma utopia, um não-lugar, uma fabricação da imaginação, porém uma cidade. Como tal, cidade nada ideal, cidade com história e mazelas. Cidade que agrega o planejado e o informal, o permanente e o transitório.
E, também, cidade com qualidades próprias e dinamismo ímpar. Com seus 50, disposta a enfrentar + 50.
Sylvia Ficher
DPPUnBDe
cana
to de
Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade de Brasília
9 7 8 8 5 2 3 0 1 1 0 2 4
ISBN 978-85-230-1102-4
1
3
2
4
1/2015104
arqui #4

categoria publicações1° Prêmio / Cláudia Estrela Porto (org.) – Título: Olhares: visões sobre a obra de João Filgueiras Lima (1)2º Prêmio / Anamaria de Aragão Costa Martins – Transformação Urbana: projetando novos bairros em antigas periferias3º Prêmio empatados / Danilo Matoso Macedo – Título: Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955 / Elcio Gomes da Silva – Título: Os palácios originais de Brasília (2)Menções Honrosas / IPHAN e equipe da Ábaco – Arquitetura & Design Ambiental – Título: Inventário do Setor Tradicional de Planaltina / Gabriela Bílá – Título: O novo guia de Brasília (3)Selecionados para a exposição / Luciana Saboia e Maria Fernanda Derntl (orgs.) – Título: 50 + 50 cidade, história e projeto (4) / Danilo Matoso Macedo; Fabiano José Arcádio Sobreira – Título: Forma estática – Forma estética / Autor: Suely Franco N.Gonzales, Jorge Guilherme Francisconi, Aldo Paviani – Título: Planejamento e Urbanismo na atualidade brasileira / Sérgio Roberto Parada – Título: 11+11 sonhos e realidade / Fabiano Sobreira – Título: Qualidade e sustentabilidade do ambiente construído
categoria estudantes - mostra competitiva1° Prêmio / Giselle Marie Cormier Chaim – Escola: FAU/UnB - Universidade de Brasília (UnB) – Título: Além da Concha: O Espaço Cultural da Concha Acústica no Parque Urbano do Jaburu (5)2° Prêmio / Daniel Simaan França – Escola: FAU/UnB - Universidade de Brasília – Título: Museu de Arquitetura de Brasília (6)3° Prêmio / Louise Boeger Viana dos Santos – Escola: FAU/UnB - Universidade de Brasília – Título: Lago Para Todos - Lazer e Mobilidade Urbana na Orla do Lago Paranoá (7)Menção Honrosa / Bruno de Jesus Oliveira – Escola: Centro Universitário de Brasília - UNICEUB – Título: Complexo Cultural de Ceilândia
categoria estudantes - mostra expositivaDestaque / Laura Ribeiro de Toledo Camargo – Escola: FAU/UnB - Universidade de Brasília – Título: Estação da Dança (8)
categoria projetos - mostra competitiva1° Prêmio / Eder Rodrigues de Alencar e André Velloso Ramos – Título: Casa Borges2° Prêmio / ATRIA + Estúdio MRGB - Gabriela Muller, Gustavo Costa, Igor Campos – Título: Embaixada do Kuwait em Brasília3° Prêmio / Eder Rodrigues de Alencar, André Velloso Ramos, Luciana Saboia – Título: Paróquia Sagrada Família Park WayMenções Honrosas / Conceito Arquitetura – Título: Casa de Campo Experimental / Estúdio MRGB – Título: Residência JM
categoria projetos - mostra expositivaDestaques / Eder Rodrigues de Alencar, Matheus Gorovitz, Cláudia Garcia, Ana Carolina Vaz – Título: Praça Magna da Universidade De Brasília (9)Selecionados para a Exposição / Camilo de Lannoy, Filipe Monte Serrat e Manuela Dantas – Título: Casa Treliça / Camilo de Lannoy, Filipe Monte Serrat e Manuela Dantas – Título: Casa MJL
categoria obra concluída - mostra competitiva1° Prêmio / ATRIA - Gustavo Costa – Título: Residência BLM2° Prêmio / Pedro Grilo, Gabriel Nogueira e Guilherme Araujo – Título: Sede Fabrika Filmes3° Prêmio / Estúdio MRGB – Título: Residência LKMenções Honrosas / Fabiano José Arcádio Sobreira – Título: Casa da Copaíba / Diogo Gomes Ferreira Santos e Rodrigo Fortes – Título: Casa Solar da Serra
categoria obra concluída - mostra expositivaDestaques / BLOCO Arquitetos – Título: Edifício POSEAD IMP / Danilo Matoso Macedo, Elcio Gomes da Silva, Fabiano José Arcádio Sobreira, Newton Silveira Godoy, Filipe Berutti Monte Serrat, Daniel de Castro Lacerda – Título: Fundação Habitacional do ExércitoSelecionados para a Exposição / BLOCO Arquitetos – Título: CASA MIGLIARI / Alberto Alves de Faria – Título: Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz Brasília - Ceplan-UnB
105

5
6
7
81/2015106
arqui #4
Praça do Cruzeiro Torre de TV
Rodoviária
Eixo Monumental
Esplanada dos Ministérios
Articulação da área do projeto com a Escala Monumental
Praça dos Três Poderes
Segue para Península do Palácio da Alvorada
ALÉM DA CONCHAO Espaço Cultural da Concha Acústica no Parque Urbano do Jaburu
A Península do Palácio da Alvorada, em Brasilia, é uma área sensível, sob o ponto de vista espacial e ambiental, e apresenta destinações e usos bastante diversificados: ponto final da Escala Monumental e no coração da Escala Bucólica, nela se localizam a Concha Acústica de Oscar Niemeyer e o Museu de Arte de Brasília, palcos das primeiras manifestações culturais da nova capital; o testemunho do histórico da construção de Brasília e um dos pri-meiros acampamentos dos pioneiros - a Vila Planalto; e o grande parque dos palácios da Alvorada e do Jaburu, a Reserva Nacional do Jaburu, além de outros prédios históricos.
A lógica de ocupação do espaço foi, no entanto, desvirtuada. O que era destinado ao uso comum e à fruição da paisagem às mar-gens do Lago Paranoá transformou-se em uma região que sofre com a especulação imobiliária e com o abandono: a interdição da Concha Acústica, o fechamento do Museu de Arte, a descaracter-ização da Vila Planalto, a proliferação de condomínios fechados e a privatização da orla pública, além da fixação de uma ocupação irregular em franca expansão no Parque de Usos Múltiplos da Vila Planalto, jamais projetado.
A orla do Lago Paranoá é caracterizada no contexto do Plano Piloto como forte elemento constituidor da Escala Bucólica e dialoga diretamente com a paisagem natural e construída da cidade. Assim, se por um lado é necessário conter a exploração dos potenciais do Lago, por outro é importante garan-tir acesso universal da população às áreas de lazer, cultura e apreciação do Paranoá. Neste contexto, o terreno da Concha Acústica parece ser o último ponto de conexão pública com o Lago Paranoá. E o Parque da Vila Planalto desempenha importante papel para conter o avanço das ocupações irregu-lares em direção ao Palácio da Alvorada e para preservar e regenerar toda uma área de cerrado antropizada.
No cenário de desafios, este projeto tem como objetivo regenerar o espaço urbano da Península do Alvorada e resgatar seu caráter original por meio da proposta do Parque Urbano do Jaburu e do Espaço Cultural da Concha Acústica, em que coexistam zonas de lazer, educação, cultura e arte. O acesso público à orla do lago, livre e democrático, e a recuperação da paisagem são as principais diretrizes que nortearam o projeto. E a combinação entre arte e natureza como elementos atuantes no processo de regeneração urbana, os princípios que determinaram o desenho.
Palácio da AlvoradaLagoa do Jaburu
Reserva Ambiental
Vila Planalto
Concha Acústica
Península do AlvoradaÁrea do Projeto
Plano PilotoEscala Monumental
Lago ParanoáEscala Bucólica
Eixo Monumental
5
15
18
17
9
Lagoa do Jaburu
7
Palácio daAlvorada
20
42
21
22
22
23
24
Eixo Monumental - Estra
da Palácio Presidencial
13
11
Via L4 Sul
Via L4 Norte
Via Palácio Presidencial
Via Setor de Hotéis e Turismo
Eixo Monumental
14
12
10
27
16
Via S1
19
26
15
9
9
9
9
999
11
1112
13
14
1414
14
14
4
8
7
1617
Espaço Cultural da Concha
Acústica
Via Planalto
Lago Paranoá
1
Concha Acústica
1
2
3
Museu de Arte de Brasília
56
10
35
6
8
25
1 : 15.000
O Parque Urbano do JaburuPENÍNSULA DO ALVORADA - SITUAÇÃO ORIGINAL
1 Concha Acústica2 Museu de Arte de Brasília3 Palácio da Alvorada4 Brasília Palace Hotel5 Área destinada ao Parque de
Usos Múltiplos da Vila Planalto6 Vila Planalto7 Palácio do Jaburu8 Lagoa do Jaburu9 Reserva Ecológica10 Congresso Nacional11 Supremo Tribunal Federal12 Praça dos Três Poderes13 Palácio do Planalto
14 Bosque dos Inconfidentes15 Procuradoria Geral da República16 Setor de Clubes Sul17 Centro Cultural Banco do Brasil18 Clube de Golfe de Brasília19 Clube de Caça e Pesca20 Brasília Tulip Alvorada Hotel21 Residencial Lake Side 22 Residencial Ilhas do Lago23 Clube da Aeronáutica24 Residencial Life Resort25 Residencial The Sun26 Clube de Fuzileiros Navais 27 Ponte JK
1 ECCA - Pavilhão Cultural
ESPAÇO CULTURAL DA CONCHA ACÚSTICA (ECCA) / PARQUE URBANO DO JABURU
2 ECCA - Pav. Arte em Exposição3 ECCA - Pav. Arte & Educação
5 ECCA - Praça do Museu6 ECCA - Praça da Concha7 ECCA - Orla Arborizada
9 Acessos / Estacionamentos
10 Módulos de Apoio (junto aos estacionamentos)11 Quadras poliesportivas12 Área de hortas e pomares
coletivos na antiga ocupação13 Lagoa do Parque14 Áreas de clareiras para piqueniques15 Novo Setor Habitacional da Vila16 Passarelas elevadas / mirantes17 Orla do Jaburu acessível
4 ECCA - Praça das Artes
8 ECCA - Estacionamento
600m100m 200m
Projeto - Oscar NiemeyerInauguração - 1969O anfiteatro aberto e integrado à paisagem do Lago Paranoá foi um dos principais espaços destinados à arte em Brasília. Localizado em um terreno de 23 hectares, o monumento foi interditado em 2007 pela Secretaria de Obras. Atualmente, o espaço encontra-se abandona-do e não dispõe de infra-estrutura de apoio às atividades culturais que antes nele ocorriam. Mesmo assim, a orla da Concha permanece como única área de livre acesso à população na Península do Alvorada.
A CONCHA ACÚSTICA
Em 1956, com a instalação dos primeiros acampamentos dos pioneiros da construção de Brasília, surgiu a VIla Plan-alto., hoje bairro tombado como Patrimônio do Distrito Federal. Eram casas provisórias, todas em madeira, e o bairro mantido pelas empresas construtoras tinha mer-cados locais, farmácias, escolas, clubes, cinema e bancos. Apesar do tombamento e das conquistas sociais de seus ha-bitantes, devido à especulação imobiliária, grande parte da Vila original foi perdida. Com cerca de 14mil habitantes, a Vila tem grupos culturais, artistas e artesãos locais, além de diversos restaurantes com culinária variada. Hoje é um po-tencial polo gastronômico e foco de interesse em Brasília.
VILA PLANALTO
A escala bucólica garante a Brasília a sua característica de cidade parque. Assim como as áreas verdes, a orla do Lago Paranoá é elemento expressivo da Escala Bucólica e dialoga diretamente com a paisagem natural e construí-da da cidade
“As extensas áreas livres, a serem densamente arborizadas ou guardando a cobertura vegetal nativa, diretamente contígua a áreas edificadas, marcam a presença da escala bucólica” Lucio Costa
ESCALA BUCÓLICA
BRASILIA PALACE HOTEL
PALACIO DA ALVORADA
MUSEU DE ARTE DE BRASILIA (MAB)Criado em 1985 pelo GDF, o museu abrigava uma série de pinturas, desenhos, escultur-as, gravuras e instalações da produção artística brasileira moderna e contemporânea.
PALACIO DO JABURU
Avenida das Nações
Setor de Hotéis e Turismo Norte
Av. Contorno Vila Planalto
Avenida L4 Sul
ÁREA DE CERRADO ANTROPIZADO
ÁREA DE CERRADO PRESERVADO
LAGOA DO JABURU
Orla Privada
Orla Privada
Orla Privada
Orla Privada
Orla Privada
Orla
Priva
da
Orla Pública
Via Palácio Presidencial
Proposta de clareiras onde a vegetação original era espar-sa para áreas de piquenique ou churrasco, ou para inclusão de quadras poliesportivas
O desenho da vegetação no Parque seguiu a situação origi-nal das áreas verdes. Propôs-se a criação de bosques e alamedas sombreadas com árvores nativas, onde a vegetação original era mais densa
Reforma da orla, agora arborizada e sombreada
Proposta do boulevard arborizado que conduz ao Palácio da Alvorada
Marcação dos acessos principais ao parque a partir dos pontos de ônibus exis-tentes e dos propostos.
Inclusão de módulos de apoio (5mx5mx3m) a cada 300m WC + Bebedouros Vestiários+lanchonetes
Valorização da conexão entre as orlas por meio do desenho dos percursos no parque e de passarelas elevadas gerando mirantes na Zona Restrita de Preservação Ambiental
A Península do AlvoradaRelação com a cidade
Zona de Uso EspecialNovo Setor Habitacional para re-locação da população removida das ocupações irregulares em área contigua à Vila Planalto e em zona de cerrado antropizado
Zona Primitiva - Área de Proteção AmbientalReserva Ecológica do Jaburu & Lagoa do JaburuAcesso restrito via passarelas elevadas
Zona de Segurança NacionalPalácios do Jaburu e do AlvoradaAcesso restrito
Zona de Uso IntensivoParque de Usos Múltiplos
Zona de Regeneração do Cerrado AntropizadoRemoção e relocação da ocupação irregularAgricultura Urbana Zona de Uso Intensivo
Espaço Cultural da ConchaLazer, cultura & educação patrimonial e artística
Alteração do perfil viárioVias cicláveis em todo o perímetro
Avenida das Nações
Setor de Hotéis e Turismo Norte
Av. Contorno Vila Planalto
Pontos de ônibus existentesPontos de ônibus propostos
Área Parque Urbano do Jaburu - 294haÁrea Parque Olhos d’Água 21hectaresÁrea Parque da Cidade 480hectares
Calçadas e ciclovias para realização de exercicios físicos
No projeto de Lúcio Costa para Brasília, a Escala Monumental é aquela que contribui para a for-mação do sentido de capital, onde a monumental-idade confere aos edifícios mais emblemáticos da cidade seu valor simbólico. Na Escala Monumental, os monumentos e os espaços vazios que se criam conferem a nobreza do conjunto, que se inicia na Esplanada dos Ministérios e finaliza no Palácio da Alvorada
Residência oficial do Presidente da República, o Palácio da Alvorada é uma das mais emblemáti-cas obras de Oscar Niemeyer. O Palácio conec-ta-se simbolicamente com o Eixo Monumental como premissa projetual, sendo o ponto extremo da articulação entre a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, a plataforma da ro-doviária e a Torre de Televisão
Nos documentos Brasília 1967-1985 e Brasília Revisitada, Lúcio Costa demonstrou preocupação com a situação do crescimento desordenado da Vila Planalto. Sugeriu então o projeto do Parque do Cerrado, com o qual a grande área livre no acesso ao Palácio da Alvorada se manteria preservada. Em 2003, o GDF instituiu o Parque de Usos Múltiplos da Vila Planalto, cujo projeto nunca foi executado. A região sensível espacial e geograficamente tem atualmente cerca de 120 chácaras, todas em situação de irregularidade, que ocupam uma área aproximada de 23 hectares.
ÁREA DESTINADA AO PARQUE DE USOS MÚLTIPLOS DA VILA PLANALTO
Orla Pública
Ref
erên
cias
& C
once
itos
Per
curs
os &
pas
seio
s
O Parque Urbano do Jaburu
Serpentine Gallery Pavillion 2009SANAA
Parc de la Cour du Maroc, ParisMichel Corajoud
Convento das Clarissas, RonchampRenzo Piano Building Workshop
Oscar Niemeyer Parque do Ibirapuera / Marquise, São PauloOscar Niemeyer
Teshima Art Museum, JapãoRyue Nishizawa
Serpentine Gallery Pavillion 2012, LondresHerzog & De Meuron
Bra
sília
cid
ade
parq
ueC
heio
s &
Vaz
ios
Projeto - Oscar Niemeyer Primeiro edifício de Brasília Inauguração - 1958
Residência do vice-presidenteÁrea inacessível aopúblico
Reserva ambientalÁrea inacessível ao
público
Os percursos internos do parque foram definidos a partir da topografia do local e das man-chas de vegetação original. O eixo principal de conexão das duas orlas públicas foi bem marcado com um percurso que se inicia na Con-cha Acústica e finaliza na Lagoa do Jaburu
Zone
amen
to
Eixo principal o projeto
Conexão orla - orla
ARTICULAÇÃO COM A ESCALA MONUMENTAL
Desarticulado de outras atividades culturais, o MAB per-manece fechado há algum tempo e seu acervo foi trans-ferido para o Museu Nacional, mas o espaço passa por uma reforma .
Eixo Monumental
No Espaço Cultural da Concha, proposta de vegetação que en-tremeie os pavilhões e marque os percursos desde o parque até a orla
Percurso Térreo
Percurso Aéreo
Permanências - Praças1. Praça da Concha2. Praça das Artes3. Praça do Museu
2
13
O Espaço Cultural da Concha Acústica
O Espaço Cultural da Concha pode ser vivenciado por meio de percursos a pé ou de bicicleta desde todo o complexo do parque. Com a ideia de mel-hor integrar o parque, a conha e o museu foram criadas três praças - as praças da Concha, do Mu-seu e das Artes.Os percursos, ora sombreados, ora expostos, acontecem no térreo, sob os edifícios, ou sobre as coberturas, acessíveis pelas rampas que tocam o solo, transformando os prédios em grandes mirantes para apreciação das paisagens do Lago Paranoá.
PERCURSOS & PASSEIOS
ARTE & CULTURA NO PARQUE
Destas idéias resultou a proposta de três volumes que surgem do terreno e que se moldam à topografia e aos percursos que levam à orla, de modo que as edificações não limitem a percepção da paisagem. Nos três prédios, grandes lajes em concreto armado protendido sobre pilotis, ocorrem atividades culturais, artísticas e educativas no nível térreo. As coberturas são acessíveis a partir das praças e ao possibilitar os percursos aéreos se transformam em mirantes e passarelas para a apreciação da paisagem. Trata-se de uma arquitetura envolvida com a dinâmica urbana do local, imponente mas delicada e interessante.
AS COBERTURAS-MIRANTES
Além dos percursos paisagísticos e pedagógicos pelos caminhos marcados por árvores do cerrado, que fazem parte do conjunto do Parque Urbano do Jaburu, fez-se a proposta dos percursos artísticos. Com a exposição de esculturas de artistas brasileiros em cada uma das praças, os percursos são um convite à reflexão e à vivência do espaço integrado à natureza e fazem parte do conjunto lúdico que se cria entre a Concha, o Museu, o parque e o lago.
CIRCUITO ARTÍSTICO & PAISAGÍSTICO
No contexto do Parque Urbano do Jaburu, a área escolhida para o desenvolvimento das atividades de lazer, cultura e educação teve como objetivo principal valorizar as potencialidades atualmente despreza-das da Concha Acústica e do Museu de Arte de Brasília e da área ampla e vazia existente entre os dois, de modo que a área seja bem utilizada ao longo da semana mas também aos fins de semana. O partido arquitetônico teve como premissas manter a conexão direta entre o Parque e a Orla do lago por meio da continuidade dos percursos; valorizar os eixos visuais e a percepção da paisagem natural e construída; incentivar e restabelecer a relação dos usuários com a Concha, o Museu e a orla degradada do local.
PAVILHÃO CULTURAL PRAÇA DAS ARTESPAVILHÃO DE ARTE & EDUCAÇÃOCORTE AA
60m30m0
IMPLANTAÇÃO E COBERTURA1 : 5000
60m30m0
Brasília - DF
CONCHA ACÚSTICA
ESTUDANTES2013ALÉM DA CONCHA: O ESPAÇO CULTURAL DA CONCHA ACÚSTICA NO PARQUE URBANO DO JABURU
GISELLE MARIE CORMIER CHAIMAutor:Orientador: LUCIANA SABÓIA FONSECA DA CRUZ
Categoria:Ano:Título:
O que é? Em primeiro lugar, é importante ressaltar a ideia de que “museu” de arquite-tura não existe – pelo menos não no sentido tradicional da palavra museu; ele deve funcionar como um centro de informação e conhecimento em ar-quitetura, ainda que nunca deixe de ser também um local de memória e resgate da história.A compreensão do que é um museu de arquitetura passa, obrigatoriamente, pela compreensão do que é a arquitetura. Ao enxergá-la como um objeto vivo, irredutível à situação de objeto desvinculado de algum contexto práti-co, cotidiano (tais como quadros e esculturas expostos em museus e galeri-as de arte), fica clara a impossibilidade de simplesmente contê-la em um en-voltório, seja ele um museu ou um espaço de exposições qualquer. Trata-se de um caso semelhante ao dos planetários, onde o edifício, muito mais que como um museu, deve funcionar como um centro de informação privilegiada e de documentação de objetos que não se deixam isolar de seus contextos vivos e em permanente mudança.O museu de arquitetura, ao entender que o objeto com o qual lida não pode ser totalmente contido no invólucro de um museu, direciona seus visitantes para a compreensão, em um primeiro momento, da cidade em que habitam. Portanto, se o lugar a implantar um destes centros de informação é Brasília, então o primeiríssimo “corpo celeste” a ser observado neste “planetário” é a própria cidade.
Projeto O projeto apresenta quatro níveis, com alturas e espaços variados, que per-mitem que o museu seja utilizado e compreendido de diferentes maneiras. Apesar de interligadas, é possível utilizar algumas das áreas de maneira in-dependente, o que garante maior liberdade para o usuário. No nível Lúcio Costa (-3.90m) estão concentradas funções de caráter público, além de algumas funções de serviço e acesso ao museu. Uma grande rampa faz a ligação entre este nível e a Praça do Cruzeiro, e o passeio por esta área leva o visitante ao cerrado. Sob o grande vão livre, está o nível JK (-1.30m), cujo piso dá continuidade ao Memorial JK e à Praça do Cruzeiro, evitando o bloqueio visual, prolongando o espaço de contemplação do pôr-do-sol de Brasília, e marcando seu horizonte. Logo acima está o nível Oscar Nie-meyer (+2.80m), onde se encontra a principal galeria do museu. A planta livre garante a flexibilidade para a montagem das exposições, baseado em duas plataformas de apresentação: painéis de 4m de altura e totens. A fa-chada sul, envidraçada, faz a ligação com o jardim de esculturas, enquanto a fachada norte, com fechamento de cobogó, abriga as áreas molhadas. A fachada leste apresenta um rasgo na altura do observador, que permite a contemplação da cidade, enquanto a fachada oeste é cega. O último piso é o nível Burle Marx (+9.00m), um terraço contemplativo que conta com espe-lhos d’água e um restaurante panorâmico.
Exposições de arquitetura No final dos anos 1970, foram dados os primeiros passos rumo à compre-ensão da arquitetura como catalisador de cultura e convivência. É possí-vel afirmar que as exposições de arquitetura possuem, desde então, duas contribuições óbvias: ajudar a contar uma história, e ao mesmo tempo ma-nifestar novas tendências e levantar questionamentos. Estes aspectos se complementam, viabilizando a observação de como a passagem do tempo exerceu seu impacto sobre as cidades. As exibições de arquitetura podem funcionar também como instrumento democrático de participação popular, abrindo espaço para a discussão de políticas urbanas e outras decisões de planejamento. As principais atividades da instituição buscam explicar a ar-quitetura da cidade: seu desenvolvimento, estado presente, perspectivas fu-turas, bem como apresentar aos cidadãos os profissionais que atuam neste processo evolutivo. É talvez por isso que a arquitetura precise ser “focada”, em uma metáfora com a fotografia proposta porJean-Louis Cohen, que diz:
“[...] Se a melhor compreensão das estratégias e procedimentos de projeto não são suficientes para transformar cidadãos em arquitetos, ela pode ao menos contribuir para a construção de um maior diálogo destes com a arqui-tetura e, portanto, permitir que eles exerçam seus direitos como habitantes da cidade.”
Aspectos legais
O lote escolhido para o projeto não possui delimitação estabelecida por lei, e nem mesmo normas que definam afastamentos, taxas de ocupação e gabaritos máximos. Assim, foi definido um terreno de 170 x 190m, cujas di-mensões têm como principal referência o terreno que abriga o Memorial JK.
Referências
A compreensão da arquitetura e urbanismo de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, bem como de outras características marcantes de Brasília, foi ponto inicial para definição do projeto. De Lúcio Costa, foram destacados a incorporação de elementos históricos, tais quais as perspectivas barrocas e os terraplenos monumentais, além da força dos macroelementos estrutura-dores (eixos). De Oscar Niemeyer, o grande exemplo esteve no projeto do Congresso Nacional, que pertence simultanemante a dois lugares (Esplana-da dos Ministérios e Praça dos Três Poderes), conta com uma grande rampa que estimula a percepção visual e surpresa, e dedica atenção especial à acessibilidade e visibilidade, minimizando o bloqueio visual e esculpindo o terreno. Outros elementos de referência, presentes e importantes no contex-to da cidade, foram a grande dimensão dos espaços abertos, a forte axia-lidade e a fácil legibilidade dos edifícios, além da presença predominante de três cores: o verde da vegetação onipresente, o branco da arquitetura moderna clássica brasileira, e o azul dos azulejos e espelhos d’água.
Justificativa
A proposta de criação de um Museu de Arquitetura para Brasília - MAB - é motivada não só pela ausência na cidade de um edifício com estas caracte-rísticas, como também pelo relativo ineditismo do tema no país (visto que, nas principais capitais europeias e norte-americanas, os museus de arquite-tura já são recorrentes).Seguindo a tendência geral dos museus de arquitetura espalhados pelo mundo, a preocupação inicial foi de buscar certo reflexo (implícito ou explíci-to) da morfologia tradicional da cidade, além de agregar funções de caráter público que ajudem a criar uma atmosfera mais informal (e menos sacraliza-da tal qual acontece nos museus tradicionais) que permita que os visitantes se relacionem de maneira mais direta com os trabalhos expostos e com o edifício em si, fortalecendo o diálogo entre cidadão e cidade.
Lugar
A primeira questão considerada foi a intenção de inserir o museu em um local que o aproximasse daquilo que consagrou a cidade de Brasília: o Plano Piloto de Lúcio Costa e os monumentos de Oscar Niemeyer.O terreno, localizado atrás da Praça Cruzeiro, está na cota mais alta do Eixo Monumental. Ao mesmo tempo, sua proximidade com o Memorial JK inten-sifica o caráter simbólico da área, que passa a ser marcada por três elemen-tos relevantes e interligados: o marco do criador, o marco inicial/religioso, e o novo objeto (MAB).
Diretrizes
A intenção inicial foi estimular a percepção tanto da criação arquitetônica isolada como do sítio urbano como um todo, onde a integração, a partici-pação popular e o equilíbrio entre edifício e entorno são responsáveis pela autenticidade e identidade do conjunto. Partindo desta compreensão, é pos-sível estabelecer algumas ideias relacionadas ao espaço em questão, cuja aplicação influenciou diretamente o partido. São elas: o estabelecimento de um relação consolidada entre os principais modais de transporte público, principalmente a partir da criação de uma linha de ônibus exclusiva do MAB, bem como de novas paradas de ônibus; a consolidação de uma praça urba-na; o respeito às escalas da cidade e à massa vegetal nativa.Com relação aos aspectos bioclimáticos, o objetivo geral consistiu na busca de conforto para os usuários. Deste objetivo geral, conforto passivo, deri-varam as principais diretrizes bioclimáticas do projeto: garantir a predomi-nância de cores claras para favorecer o desempenho térmico; absorção do calor através da inércia térmica; evitar grandes superfícies envidraçadas; evitar que a iluminação natural, ainda que presente, seja excessiva; introdu-zir umidade no espaço através da presença de lâminas d’água.
Com relação ao edifício do museu, foram adotadas as seguintes diretrizes de projeto: respeitar a cidade, adotando um partido que não destoasse do conjunto do Eixo Monumental; utilizar soluções arquitetônicas consagradas na cidade (concreto armado, cobogó, painel de azulejo), que fossem reflexo da morfologia predominante do Plano Piloto e contribuíssem para a identi-ficação entre museu, temática de suas exposições e público; dinamizar o espaço, estimulando seu uso em horários diversificados, com base no pro-grama de necessidades e atividades oferecidas; tirar partido da cota mais alta do Eixo Monumental, concentrando a maior parte da área edificada na porção leste do terreno; garantir a acessibilidade para todos, através de ram-pas, elevadores e banheiros qualificados; definição de um gabarito máximo para o museu que viabilizasse a melhor visualização da cidade (de fato uma das peças do acervo) e do fim de tarde (à oeste), apoiando-se na ideia de mirante; privilegiar a linearidade e horizontalidade do edifício em detrimen-to da verticalidade excessiva, evitando assim um impacto visual negativo; tratar também o edifício como obra de arte/peça do acervo, tornando-o um atrativo turístico e também importante elemento dentro do roteiro cultural da cidade.
Programa
Assim como acontece em grande parte dos museus contemporâneos, os museus de arquitetura passaram a configurar espaços culturais e de lazer, com projetos que visam à promenade architecturale (criação de circulações que destaquem a arquitetura do museu), à experiência de caráter comercial e à presença obrigatória de iluminação controlada. As atividades, baseadas em um tripé, estão relacionadas às temáticas de conservação, educação e pesquisa, e isto está refletido diretamente nas funções que estes edifícios abrigam atualmente. Nas últimas três décadas, uma quarta seção passou a ser agregada às demais atividades – a de funções públicas. Na proposta para o MAB, cuja intenção primordial é a criação de um centro de informa-ção e cultura focado na disseminação do conhecimento em arquitetura e urbanismo, o programa foi dividido em quatro seções: museu/exposição, ensino/pesquisa, funções públicas, e serviços. A primeira está concentrada no volume superior, apesar de uma galeria temporária estar localizada no nível Lúcio Costa. A seção de ensino/pesquisa, assim como a de serviços, está concentrada atrás do grande painel, também no nível inferior. Por fim, a parte de funções públicas está localizada sob a marquise curva, e conta com café, livraria, restaurante, além de um auditório capaz de receber grandes eventos.
MAB Memorial JK Centro de Convenções Torre de TV Rodoviária Esplanada dos Ministérios Congresso Nacional
Relação geométrica - Praça x Museu
MAB | MUSEU DE ARQUITETURA DE BRASÍLIA
Construção do partido
01. O primeiro elemento estruturador do partido é uma grande parede que, alinhada ao eixo da estátua de JK, concentra a porção de terra que representa a cota mais alta do Eixo Monumental.
02. Um segundo eixo, curvo, tangencia a Praça do Cruzeiro e se abre para o cerrado nativo, criando uma marquise que abriga as funções públicas e configurando no nível inferior uma grande praça.
03. Um edifício se apoia no eixo reto e fica suspenso sobre o eixo curvo, abrigando a principal galeria do museu. O grande vão livre criado permite a visualização do horizonte e traz leveza ao conjunto.
04. A cobertura funciona como terraço, permitindo tanto a visualizacão da cidade, à leste, como do cerrado, à oeste. A ocupação, centralizada no lote, cria eixos nos dois senti-dos, e integra o edifício à paisagem.
Estudantes2012Museu de Arquitetura de BrasíliaDaniel Simaan França
lazer e mobilidade urbana na orla do lago Paranoá
Estudantes2013Lago Para Todos: Lazer e Mobilidade Urbana na Orla do Lago Paranoá
Louise Boeger
projeto GDFproposta
circu
ito c
iclo
viár
ious
o do
sol
opo
ntos
de
inte
ress
eár
eas d
e pr
eser
vaçã
o
NNem sempre as funções desempenhadas pelos espaços de margens de corpos d’água e os tipos de configuração desses espaços favorecem a interação entre os cidadãos, promovendo encontro e convívio social e garantindo a sua proteção ambiental. Em todo o Brasil, faixas de preservação as margens de cursos d’água previstas em lei (APPs) tem sido desrespeitadas.
Em Brasília, embora Lucio Costa descreva sua visão para a ocupação futura da orla do Lago Paranoá por todos os ci-dadãos desde o projeto original da cidade, não foi prevista destinação legal para as áreas de suas margens, resultando em espaços residuais dos projetos de parcelamento de se-tores adjacentes, favorecendo, assim, a extensão das divisas posteriores de clubes e terrenos residenciais de alto padrão até a beira d’água.
“A breve discussão sobre conflitos de uso no Lago Paranoá ilustra um possível papel de corpos d’água urbanos na reprodução de situações de desigualda-de. Ao definir usos das margens do Lago Paranoá que privilegiam populações com faixa de renda elevadas, o planejamento cristalizou ainda mais uma segregação socioespacial característica da estrutura urbana da capital. Ao abster-se de cumprir seu papel fiscalizador, o Estado reforçou a ocupação privada de espaços públicos, privilegiou a consecução de objetivos e interesses de determinados grupos e, assim, parece ter contribuído para reproduzir a do-minação social.” (CIDADE in PAVIANI, 2010)
Muitas das áreas potenciais para destinação de espaços pú-blicos na orla hoje se limitam a terrenos cercados e inaces-síveis à população, desvinculados do tecido urbano e, em alguns casos, em estágio de completo abandono. A infra-es-trutura de alguns espaços públicos existentes é precária.
ABCDEFGHIJKL
MN
Parque das Garças - Decreto nº 23.316, 25/10/12
Parque da Enseada - Decreto nº 27.472, 06/12/06
Parque Morro do Careca - Lei Complementar nº 641, 14/08/02
Res. Ecológica Lago Paranóa - Lei Distrital nº 1.612, 08/08/97
ARIE Paranoá Sul - Decreto nº 11.209, 17/08/88
ARIE do Setor Hab. Dom Bosco - Decreto nº 21.224, 26/05/00
P. Ecológico da Ermida D. Bosco - Decreto nº 19.292, 04/06/98
P. de Uso Múltiplo da Ermida D. BoscoParque das Copaíbas - Lei nº 1.600, 25/07/97
P. Ecológico e Vivencial Canjerana - Lei nº 1.262, 12/12/96
Parque Ecológio Garça Branca - Lei nº 1.594, 25/07/97
P. Viv. do Anf. Nat. do Lago Sul - Lei Comp. nº 57, 14/01/98
Parque Ecológico Península Sul - Decreto nº 24.214, 12/11/03
ARIE do Bosque - Lei Complementar n° 407, 23/11/01
área
s de
pr
eser
vaçã
o am
bien
tal
Unidades de Conservação - SNUCÁreas especialmente protegidas
* as áreas às margens dos cursos d’água (30 metros) são definidas como Área de Preservação Permanente (APP)
123456789
1011121314151617181920212223242526
Parque das GarçasComplexo da EnseadaComplexo Brasília PalaceParque do CerradoMarina do ParanoáCentro de Lazer Beira LagoParque de Ciência e TecnologiaCentro InternacionalParque AquáticoParque das NaçõesCentro Cultural Banco do BrasilPalácio do JaburuPalácio da AlvoradaRuínas da Escola Superior de GuerraCentro Olímpico da UnBCalçadão da Asa NorteParque Vivencial II do Lago NorteQuadras Públicas do VarjãoPiscinão do Lago NorteMosteiro de São BentoParque Ecológico da Ermida Dom BoscoParque Vivencial do Anfiteatro Nat. do Lago SulParque Ecológico Península SulPontão do Lago SulParque da QL 10Praça dos Orixás (Prainha)po
ntos
de
inte
ress
e na
orla
ComercialEducacionalInstitucionalMistoReligiosoSaúdeResidências unifamiliaresClubes particularesPoligonal do projeto Orla 1995us
o do
sol
o
A - Ciclovia entre lotesB - Ciclovia + calçadão ao longo da orlaC - Trilha ciclávelse
ções
tipo
(n
ovas
via
s)m
etas
po
r seç
ão ti
po
13,8 km49,6 km1,7 km9,7 km64,3 km2,6 km30,3 km4,5 km
TOTAL= 176,5 km
seçõ
es ti
po(e
m v
ias
exis
tent
es)
D - Ciclovia no canteiro centralE - Ciclovia no canteiro lateralF - Ciclofaixa bilateralG - Acostamento ciclávelH - Ciclovia/ciclofaixa em ponte ou barragem
Trecho 1 - Projeto OrlaTrecho 2 - Setor de Clubes NorteTrecho 3 - Lago NorteTrecho 4 - Mansões do Lago NorteTrecho 5 - Lago Sul 18-32Trecho 6 - Lago Sul 8-16 e Setor de Clubes Sul
rede
cic
lovi
ária
prop
osta
met
as
por t
rech
o - p
ropo
sta
21,9 km10,3 km24,4 km13,8 km16 km12,3 km
met
as
por t
rech
o - G
DF
8,7 km8,6 km13,7 km10,6 km17,7 km18,5 km
met
as
por t
rech
o - t
otal
30,6 km18,9 km38,1 km24,4 km33,7 km30,8 km
TOTAL= 98,7 km
TOTAL= 77,8 km
TOTAL= 176,5 km
trechos de intervençãoESC. 1:75.000 seções cicloviárias
ESC. 1:75.000
LAGOPARATODOSÉ evidente a necessidade de uma requalificação urbanística, com a implantação de um sistema coeso de espaços públicos na orla do Lago Paranóa. Não somente atuações pontuais, mas uma efetiva integração entre os espaços de lazer na orla e a malha urbana. O projeto LAGOpArATODOS estabelece diretri-zes que podem guiar as ações do poder público para garantir o acesso a orla como espaço fundamentalmente público que é.
Considerando a atual estrutura viária adjacente ao lago, foi estabalecido um circuito cicloviário integrado, buscando pro-mover o uso da bicicleta não só como lazer mas também como meio de transporte. Para tal, foram propostas ciclovias e Esta-ções Intermodais. A mobilidade na área do lago também é be-neficiada com a proposta de um sistema de transporte aquaviá-rio conectando as Estações, localizadas em pontos de interesse ao longo da orla, de forma a promover o desenvolvimento de áreas de lazer de qualidade, movimentadas não só aos fins de semana, mas no dia-a-dia da população.
O principal objetivo dessa intervenção urbana é certamente aproximar a população do lago Paranoá, como espaço impor-tante na cidade para ações de lazer e mobilidade urbana, des-pertando a consciência de que o lago não deve ser visto como propriedade de poucos, mas sim como um bem de TODOS.
Orientadora: Mônica Fiuza Gondim
Estudante2014Estação da DançaLaura Ribeiro de Toledo Camargo
Orientador: Bruno Capanema
fachada noroesteesc 1:500
fachada sudesteesc 1:500
fachada nordesteesc 1:500
fachada sudoesteesc 1:500
corte Aesc 1:500
corte Besc 1:500
corte Cesc 1:500
detalhe | fachadaesc 1:100
01 02 03
simulação | diurna
simulação | fi nal da tarde
simulação | noturna
parada de ônibus estar sob pilotispassagem passagem
bicicletárioacesso
fachada noroeste
A fachada principal, voltada para a W3 sul, é a mais prejudicada por ação direta do sol. Sendo assim, criou-se um sistema de brises móveis independentes para atender às demandas dos ambientes internos.
O movimento dos brises consiste em 3 posições:
01. Lâminas fechadas, porta painel e trilho na horizontal.02. Lâminas semi abertas, porta painel e trilho inclinados.03. Lâminas abertas, porta painel dobrado e trilho inclinado.
os detalhes
O acionamento seria automatizado de forma a controlar adequadamente a entrada de luz nos ambientes internos além de possibilitar etapas intermediárias entre as descritas e desenhadas acima.
As lâminas, por sua vez, são compostas por chapas metálicas perfuradas. A densidade de perfuração das chapas pode variar de acordo com o ambiente interno. Por exemplo, o Jardim de Leitura pode ter muito mais entrada de iluminação natural do que o acervo impresso, que deve ser controlada para manutenção e conservação dos livros.
Este método não bloqueia a visibilidade de quem está no interior, bloqueia os raios solares diretos e ainda dá transparência à fachada no período noturno. Além disso. a cor das chapas metálicas seguirá uma tonalidade branca refl exiva de forma a mimetizar a cor do céu.
sistema estrutural
estrutura principalA estrutura portante do edifício é feita em concreto armado, fazendo a conexão com a tradição da arquitetura local. As lajes serão do tipo BubbleDeck, um método construtivo onde, por meio da inserção de esferas plásticas entre telas de aço, o concreto que não exerce função estrutural é eliminado, reduzindo signifi cativamente o peso próprio. A laje é conectada diretamente aos pilares, através de concreto in-situ. Este método foi escolhido, pois permite a construção de lajes irregulares, com recortes. Além disso, há um signifi cativo aumento no vão livre, sem necessidade de vigas.
espaço público
parada de ônibus Optou-se por retirar a parada de ônibus existente e propor uma nova, uma vez que a atual não supre a demanda. A nova cobertura extende-se a partir do bloco comercial e engloba parte do passeio, abrigando o pedestre e convidando-o a passar pelo pilotis. A parada de ônibus torna-se um elemento importante no projeto, uma vez que ela contribui para o nome da edifi cação. A intenção é que o local deixe de ser mais um ponto de ônibus, para se tornar um referencial na cidade: A estação da 512/513 sul, A estação da dança.
paginação de piso Os principais eixos de circulação no térreo são em ladrilhos que absorvem energia a partir dos passos das pessoas. Ao caminhar sobre os painéis, o impacto dos passos produz energia para acender as luzes LED do pilotis e da praça.
mobiliárioA proposta para o mobiliário urbano seguiu as jardineiras criadas para o jardim de leitura. A partir da desconstrução de uma caixa, obtem-se dois volumes em “L” que se sobrepõem, formando um banco e uma mesa de apoio. Estes elementos seriam feitos em concreto.
passarela de circulação A circulação do edifício nos pavimentos superiores é por meio de uma passarela engastada nos volumes de contreto. Aproveitando o sistema modular e pensando em um sistema de produção em série, as passarelas foram concebidas em estrutura metálica.
Com a intenção de não ter vidro fechando as passarelas, para não bloquear a sensação de amplitude no pátio central, bem como a circulação de ar, estudou-se um sistema de brise móvel automatizado. O brise funciona como proteção contra os raios solares diretos e como beiral para proteção contra chuva. Para casos extremos, tanto de chuva quanto de insolação, uma persiana retrátil está embutida na passarela.
estratégias de sustentabilidade
1º pavimento | pátio central | passarelas
praça voltada para as superquadras | estar e lazer sob sombra da vegetação existente
croquis | espaço público
painéis solaresO calor absorvido contribui para o aquecimento da água dos chuveiros nos vestiários e camarins.
aproveitamento de águas pluviaisA área dimensionada para os reservatórios de água supre demanda por água do edifício e também permite acrescentar um reservatório para recolher águas pluviais.
ventilação naturalA intenção para as fachadas principais era de possibililtar o máximo de transparência possível. O vidro foi utilizado como sistema de vedação e para possibilitar a ventilação cruzada, um sistema de venezianas de alumínio manuais foi pensado a uma altura tal que não obstrua a visão do observador.
teto verdeA inclusão de jardins colabora para o conforto bioclimático por meio do resfriamento evaporativo, aumenta a inércia térmica das lajes e também contribue no sistema de recolhimento de água pluvial.
mobilidadeDesestímulo ao uso do automóvel individual. Incentivo à utilização da bicicleta, com a inclusão de um bicicletário no térreo e no subsolo, com espaço para 10 e 45 bicicletas, respectivamente. Além disso, o edifício encontra-se em uma via de fácil acesso por meio de transporte coletivo.
sistema estruturalO sistema estrutural escolhido substitui 60kg de concreto por 1kg de plástico reciclado, e economiza madeira pela eliminação de boa parte das formas. Além disso, constitui-se um sistema pré-fabricado, com montagem no local, reduzindo o tempo de obra e consequentemente o impacto no entorno.
galeria
comércio comércio
camarinswcs
laboratório de dança
sala de ensaioadm
vestiários
apoio
midiateca
vestiários
adm
galeriaaquário

A melhor forma de preveré olhar para trás.
(Lucio Costa)
Ao olhar para trás, procuramos resgatar:
- A Praça Magna como limiar entre a Cidade e o Campus (� g. 01);- O espaço aberto como protagonista da composição (� g. 02);- A natureza como arremate da composição, a exemplo da Praça dos Três Poderes, per� lada à tradição do barroco (� g. 02); - O respeito à escala bucólica (� g. 02);- O partido de Pedro Paulo de Mello Saraiva, Luiz Fisberg e Lorival Machado Rezende para o Centro Vivência (� g. 02).
Figura 2. (1969) O espaço aberto é o protagonista da Praça Magna de Oscar Niemeyer. O Centro de Vivência, incorporado
posteriormente por Pedro Paulo de Mello Saraiva, Luiz Fisberg e Lorival Machado Rezende, preserva a permeabilidade da
Praça.
ICC
Biblioteca
Reitoria
Museu daCivilização Brasileira
Aula Magna
Praça Magna
Centro de Vivência
PRAÇA MAGNA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Conduziu o projeto a convicção na prerrogativa e vocação da Arquitetura em contribuir para a construção da consciência da cidadania. Uma proposta de humana convivência invariavelmente contida no sentido geral do partido e decodi� cável pela composição – as partes coerentemente reunidas numa totalidade signi� cativa.
A identidade resultante permite o reconhecimento de valores comuns a todos e dos valores diferenciados – os pessoais e os afetivos. A consciência da diferença e reciprocidade desses valores motiva a partilha do sensível. Distinguir o coletivo do privado é o princípioinstaurador da cidadania e dá sentido ao belo. Para Holderlin, a identidade na diferença é a essência da beleza.
Na trilha mencionada, uma praça de caráter cívico reúne o Centro de Cultura, o de Vivência e incorpora as edi� cações existentes: o Instituto Central de Ciências, a Biblioteca e a Reitoria. O conjunto é coroado pela Aula Magna, sede das celebrações cerimoniais e dimensionada como sala de concertos. O projeto visa o acordo entre as escalas coletivas –a cívica e a gregária – e, sobretudo, marca o limiar entre a cidade e a instituição como antevisto por Lucio Costa no Plano Piloto para aUniversidade.
FICHA TÉCNICAFundação Universidade de BrasíliaCentro de Planejamento Oscar NiemeyerLocal Brasília, DF Ano do Projeto 2010/2011Área construída 54 540m2Autores Matheus Gorovitz, Eder Alencar, Cláudia Garcia, Ana Carolina VazEquipe Margarida Massimo, Rodrigo do Carmo, Cícero Portella, Gabriela Bandeira, Matheus Macedo, Carolina Ramos e Gabriela Nehme
Descaminho
Presenciamos hoje um Campus esfacelado, pontilhado de edi� -cações esparsas sem nexo entre si, disperso e descaracterizado – sem caráter – um agregado de edi� cações, não uma cidade. Neste cenário, o Instituto Central de Ciências (ICC) é o último resquício da nobre e digna intenção que animou os primórdios da criação da Universidade de Brasília.
Praça Magna
Figura 1. (1962) No risco de Lucio Costa para a urbanização da Cidade Universi-
tária, a Praça Magna comparece como limiar entre a Cidade e o Campus.
Faculdades
Institutos
As publicações e projetos apresentados nessa revista foram selecionados com base no vínculo dos autores a graduação da FAU-UnB. Para mais informações sobre os premiados acesse:www.iabdfconcursos.com.br/nab2015
9
107

prêmio anpur 2015
Hugo Segawa Entre o semeador e o ladrilhador
O título deste livro, Método e arte, é mais uma pitada na polêmica sobre a paradigmática metáfora de “O semeador e o ladrilhador” que Sérgio Buarque de Holanda escreveu em seu Raízes do Brasil. “Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma providência, sempre esse significativo abandono que exprime a palavra ‘desleixo’...”, publicou ele em 1936, sobre a ação colonizadora dos portugueses no Brasil.
Ao se debruçar sobre a organização territorial e a formação urbana na capitania de São Paulo a partir de 1765, Fernanda Derntl favorece as leituras que reconhecem uma estratégia mais ordenada que aquela apregoada por Buarque de Holanda. “Para que com método e arte se tome este intento, devem-se dispor as cousas de modo, de antemão, e de longo tempo, [para] que se possa fazer um bom uso de todos os meios que oferece[m] a Monarquia e estes Estados”. É o que sustentavam o então governador da capitania de São Paulo, Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão, e o engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria em um plano datado de 1772.
Como bem alerta a autora, as imagens do semeador e do ladrilhador foram mais concepções de dois extremos de tipos ideais que propriamente verificações conclusivas sobre as diferentes atitudes de Portugal e Espanha diante da América.
In her book Método e Arte: urbanização e formação territorial na capitania de São Paulo, 1765-1811 (Method and art: urbanization and territory development in the captaincy of São Paulo, 1765-1811), Maria Fernanda Derntl addresses the process of territorial organization and urban development in that region. Aligned with an interpretation in harmony with the paradigmatic metaphor of “O semeador e o ladrilhador” (“The sower and the tiler”) by Sérgio Buarque de Holanda, the author acknowledges the more orderly strategies outlining the Portuguese territory in America. The book received honorable mention at the award-giving ANPUR event in 2015.
menção honrosa – livro método e arte: urbanização e formação de territórios na capitania de são paulo, 1765-1811
Buarque de Holanda dizia que “a rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses, nesta como em tantas outras expressões de sua atividade coloniza-dora. Preferiam agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até o fim”. Posteriormente diversos estudiosos da urbanização no Brasil colonial mostraram que no século 18 os portugueses guardavam “um plano para segui-lo”. Todavia, todo ladrilhador também encontra o inesperado em sua tarefa: não há “razão abstrata” que saiba contornar as vicissitudes. O governador da capitania, não obstante uma renovada geopolítica da Metrópole para com seus territó-rios meridionais, teve de lidar com incógnitas do território: práticas sociais, conflitos, tensões, contradições, negociações, alianças, concessões, repressão.
Reconhecer e responder às dinâmicas locais decerto conduziu àquilo que Buarque de Holanda chamou de “agir por experiências sucessivas”. Na interpretação em Raízes do Brasil, essas “experiências sucessivas” eram falta de zelo, careciam do necessário cuidado emanado da racionalidade humana: “a ordem que aceita não é a que compõem os homens com trabalho, mas a que fazem com desleixo e certa liberdade; a
1/2015108
arqui #4

ordem do semeador, não a do ladrilhador. É também a ordem em que estão postas as coisas divinas e naturais pois que, já o dizia Antônio Vieira, se as estrelas estão em ordem, ‘he ordem que faz influência, não he ordem que faça lavor. Não fez Deus o Céu em xadrez de estrelas...’”. Numa carta de 1772 do 4º Morgado de Mateus ao Marquês de Lavradio, o governador da capitania assumia sua porção ladrilhador: “Eu achei esta capitania [de São Paulo] morta e ressuscitá-la é mais difícil do que criá-la de novo. O criar está na responsabilidade de qualquer homem. O ressuscitar foi milagre reservado para Cristo. Para criar o mundo, bastou a Deus um Fiat, para o restaurar depois de perdido, foi necessário humanar a sua Onipotência, gastar trinta anos e dar a vida”. Alusões que o próprio Buarque de Holanda nos alumia ao chamar a atenção da raiz no “velho naturalismo português” do pensamento do padre Vieira, na distinção entre o pregar e o semear, presente nos Sermões: “porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte; caia onde cair”. Desbastando a rigidez dos sentidos e certo tipo de anacronismo, a semeadura não é forçosamente um ato de puro acaso ou desleixo; a natureza, em suas várias acepções, tem mais lógicas que muita criação humana supõe ostentar.
Texto de apresentação do livro por Hugo Segawa, Professor Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU_USP) Vitruvius – Resenhas OnlinePublicado em: 13/11/2015
No complexo campo de forças que a autora escrutinou em São Paulo entre 1765 e 1811, ela questiona se a ênfase em mecanismos e determinismos de planejamento como “razão abstrata” não obscureceu o cotejamento das representações com a realidade empírica. A percepção das preexistências como contingências, os imperativos das circunstâncias, a qualidade dos membros da alta administração portuguesa como interpostos entre as determinações oficiais da Metrópole e as dinâmicas locais, a amplitude das negociações foram parte dos procedimentos tramitados para a constituição e consolidação de núcleos urbanos – ou mesmo do seu fracasso.
O Morgado de Mateus e seus sucessores não foram casu-ísticos semeadores, tampouco ortodoxos ladrilhadores. As páginas que se seguem nos ajudarão a pensar o quanto de semeadores e de ladrilhadores desenharam o nosso território no período colonial.
Capa do livro publicado pela editora Alameda com apoio da FAPESP e da FAU-UnB
109

ENCON

TROSENCON

In the workshop put on by the ARQUI #2 and #3 publishers, Gabriela Bílá, Marilia alves e Luiz Eduardo Sarmento, architects who graduated from FAU-UnB, and the guest professor Reinaldo Guedes Machado, with support of Ana Rein, a debate was held over the close relationship architecture has with publications and graphic design, as well as over the role of new prototyping tools in the production of graphic resources. The theoretical discussion was followed by a hands-on typesetting exercise.
workshop de design
Sendo a arquitetura (e o urbanismo) construção, desenho e teoria, não é surpresa que muitos arquitetos, antes mesmo do término de sua formação acadê-mica, trabalhem no ramo do desenho gráfico, já que o conteúdo multidisciplinar da arquitetura estimula a preocupação com a sua apresentação gráfica. Foi conside-rando esse aspecto que o “minicurso de programação gráfica e produção editorial” foi organizado junto com a terceira edição da revista ARQUI.
Em sua primeira edição, o curso foi organizado em dois módulos, de modo a oferecer aos alunos um embasamento teórico sobre as várias maneiras como uma programação gráfica pode ser executada, para depois poderem, em um exercício prático, diagramar e criar parte da identidade visual de uma revista no formato da ARQUI. Como o curso foi ministrado pelos próprios editores das ARQUI #2 e #3, Gabriela Bílá, Luiz Eduardo Sarmento e Marilia Alves, arquitetos formados pela FAU-UnB.
Junto com o professor convidado Reinaldo Guedes Machado, foi demonstrado o eterno convívio entre a arquitetura e o desenho gráfico na forma de cartazes e publicações de livros e revistas, e a possibilidade de criação de projetos gráficos tridimensionais, com o auxílio de maquinários e fotografia. “O design está relacionado aos produtos, serviços e sistemas concebidos com as ferramentas, organizações e a lógica introduzidas pela industrialização. Assim, o design é uma atividade que envolve um amplo espectro de profissões de que participam produtos, serviços, gráficos, interiores e a arquitetura. Juntas, essas atividades devem realçar o valor da vida.” (International Council of Societies of Industrial Design – ICSID)
O minicurso foi organizado pelo Laboratório de Produção Gráfica e Editorial da FAU-UnB, coordenado pela professora Maria Fernada Derntl, com monitoria da aluna Ana Rein.
Marilia Alves
1/2015112
arqui #4

113

1/2015114
arqui #4

Fotos por Marilia Alves
115

Gathering participants from diverse segments, from social movements and Brazilian indigenous groups to the academic community and government institutions, the “III Habitat and Citizenship Colloquium: Housing in the Country, in the Waters, and in the Forests” promoted an exchange of experiences via debates and the presentation of studies of various forms of dwellings and their community, social, economic, and environmental relationships, with a stress on rurality.
casas recebe III colóquio habitat e cidadania
O Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (HABIS) do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP), em parceria com o Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável (CASAS) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de Brasília (UnB), promoveu o III Colóquio Habitat e Cidadania: Habitação no Campo, nas Águas e nas Florestas.
O colóquio ocorreu de 12 a 15 de maio no Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília e abordou as diversas formas de moradia e suas relações comunitárias, sociais, econômicas e ambientais. O evento teve inscrições gratuitas e contou com cerca de duzentos participantes, dentre professores, estudantes, pesquisadores, representantes do Governo, associações comunitárias, grupos indígenas como os Xavantes, que abrilhantaram o evento.
Foram apresentados dezoito artigos científicos, e as discussões foram divi-didas em três sessões de trabalho, com os temas: Políticas públicas habitacionais para o campo, as águas e florestas; Projetos de habitat para o campo, as águas e as florestas; Direito ao território e legislação fundiária; Participação, formação e geração de trabalho e renda nos processos de projeto e produção habitacional; Pesquisa e desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores e tradicionais.
O eixo temático foi a habitação no campo, nas águas e nas florestas. Mais que isso, o Colóquio provocou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB para um olhar menos urbano e mais rural, menos seco e mais ambiental. Foi um grande prazer discutir visões de mundo tão distintas na luta por uma qualificação do espaço de morar, que é mais que a moradia-casa, mas que se constrói no imagi-nário do homem como habitat, como lugar, como casa-mundo.
Caio Frederico e Silva, Liza Andrade, Ivan do Valle
1/2015116
arqui #4

Estiveram também presentes as pesquisadoras e os inte-grantes do Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (GERAH DARQ/PPGAU/UFRN), a representação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (PRCEU/USP) e o Pró-Reitor Adjunto, Prof. João Marcos de A. Lopes, que apoiou financeiramente o evento, garantindo a presença dos convidados estrangeiros. Contou-se também com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvol-vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
A equipe organizadora de Brasília formada pelo CASAS teve o trabalho dedicado da estagiária de doutorado Vânia Loureiro, da arquiteta mestranda da UNICAMP Natália Lemos e dos estudantes da FAU: Júlia Huff, Raul Maravalhas, Samuel Prates, Bruna Ruperto, Eduardo Dantas e Isabella Goulart. A coordenação local ficou por conta dos professores Liza Andrade, Ivan do Valle e Caio Frederico e Silva. Foi com grande motivação que recebemos a comissão organizadora formada pelos professores e pesquisadores Akemi Ino (HABIS/IAU/USP), Amadja Borges (GERAH/PPGAU/UFRN), Rodolfo Sertori, Cecília Lenzi, Thiago Ferreira, Mariusa Henriquez, João Marcos Lopes, Angel Castañeda e Anaïs Gueguen (HABIS/IAU/USP).
Os lanches do Colóquio contaram com os quitutes
orgânicos contratados pela Cooperativa Sabro Cerrado, do Assentamento Rural Colônia 1, localizado no município de Padre Bernardes, GO.
O evento foi transmitido ao vivo para todo o público da internet, trabalho que ficou sob a responsabilidade da equipe do Fora do Eixo/Brasília. A sua expertise com os recursos audiovisuais contribuiu para a ampliação do fórum do congresso. É importante frisar que o evento foi cadastrado regularmente como Evento de Extensão da FAU, sendo um dos primeiros eventos a serem transmitidos on-line para o público da internet.
Este Colóquio aprofundou discussões realizadas nas duas edições anteriores, ocorridas nos anos de 2006, em Natal, RN, e 2011, em São Carlos, SP. Brasília foi escolhida como local para o evento, por naturalmente aproximar e conectar a sociedade e o Governo. Assim acredita-se que foi cumprido o nosso principal objetivo, que foi dar voz às famílias do campo, das águas e das florestas e fomentar trocas de experi-ências e articulações entre movimentos sociais, professores, pesquisadores, estudantes, profissionais e representantes de instituições governamentais e não governamentais.
Fotos divulgação III Colóquio Habitat e Cidadania
117

cidade e patrimônio
Como intervir em cidades marcadas por uma longa história de segregação e desigualdade social? Seria possível elaborar noções mais inclusivas de patrimônio sem deixar de lado os conflitos e contradições que marcaram a construção da memória das comunidades? Questões como essas, tão familiares ao universo de problemas brasileiros, foram tema das palestras dos professores Alan Mabin e Cynthia Kros sobre a África do Sul em 27 de maio de 2015.
A conflituosa formação das cidades sul-africanas e a discussão da atuação de arquitetos e planejadores no sentido de reconfigurá-las são o principal objeto dos estudos de Alan Mabin, professor da Universidade de Pretória e coordenador do Projeto Capital Cities: Space, Justice and Belonging. Suas pesquisas e ativi-dades cientificas indagam sobre as posturas teórico-metodológicas adequadas para revisitar criticamente a história, mas sem perder de vista as exigências e possibilidades de intervenção no presente. Em sua palestra, o professor percorreu um amplo arco temporal para mostrar como práticas de segregação foram se consolidando e reformulando na África do Sul desde os primórdios da coloni-zação. Sua abordagem busca estabelecer nexos e comparações entre as cidades daquele país e as expressões, em outros centros urbanos, de fenômenos como a colonização, a expansão dos imperialismos e a globalização. Abrem-se assim estimulantes possibilidades de compartilhar problemas e experiências. Na sua visão, políticas urbanas alternativas podem surgir a partir da elaboração de uma perspectiva “do sul”, isto é, buscando-se referências apropriadas às cidades ao sul do globo, distintas daquelas elaboradas pela literatura proveniente “do norte”, a europeia e norte-americana.
O desafio de lidar com o legado dos anos de colonialismo e apartheid foi também o tema da palestra de Cynthia Kros (History Workshop, Universidade de Witwatersrand, Johanesburgo). O mote de sua apresentação foram os acalorados protestos recentes para retirada da estátua do colonizador britânico Cecil John Rhodes do campus da Universidade do Cabo, onde esteve desde 1934. Os protestos colocaram em evidência o debate sobre preservação, identidade e patrimônio cultural na África do Sul. Cynthia Kros abordou vários exemplos de arte pública e monumentos sul-africanos, mostrando conflitos e contradições na maneira como
In their lectures, Profs. Alan Mabin (University of Pretoria) and Cynthia Kros (Witwatersrand University, Johannesburg) dealt with issues related to the historical development, cultural heritage, and recent challenges of intervention in South African cities, marked by a long history of segregation and social inequality. Their presentations suggested that comparative approaches involving Brazil and South Africa might lead to new interpretation paths and might encourage further speculation about our methods and research procedures.
a áfrica do sul e o cenário mundial
Maria Fernanda Derntl
1/2015118
arqui #4

foram concebidas ou na recepção que tiveram por diferentes grupos. A professora não deixou de enfatizar o papel fundamental das obras de arte no sentido de encorajar um pensamento crítico sobre o ambiente em que se vive. Mas, também advertiu para os riscos, por um lado, de se deixar iludir por uma narrativa come-morativa dos feitos dos colonizadores em prol de uma unificação nacional e, por outro lado, de se recair numa história teleológica, que parte das origens africanas em direção linear a uma suposta comunhão social.
Ao fim das palestras, a professora Antonádia Borges (Antropologia –UnB) comentou a fala dos professores, estabelecendo paralelos com a discussão brasi-leira a respeito de patrimônio e configuração urbana. Em seus trabalhos no campo da Antropologia, Antonádia Borges também vem desenvolvendo perspectivas comparadas com a África do Sul, o que envolve refletir sobre referências teóricas e metodológicas para a pesquisa em regiões urbanas que ocupam lugares consi-derados periféricos.
O evento é parte das atividades de cooperação entre a Universidade de Pretória e a Universidade de Brasília. O convênio firmado entre as duas instituições facilita iniciativas conjuntas para o desenvolvimento de pesquisas e cursos, realização de eventos científicos e intercâmbio de pesquisadores. A participação da FAU-UnB nas atividades de colaboração com a Universidade de Pretória vem propiciando também discussões em torno da problemática específica das cidades-capitais. Esse foi o tema da conferência internacional Changing Capital Cities in Latin America, the Caribbean and Southern Africa, realizada em Pretória em maio de 2015, com apoio da embaixada brasileira naquela cidade. A historiografia sobre Brasília e a formação das capitais brasileiras foram abordadas na palestra A Tale of Three Capital-Cities. Salvador, Rio de Janeiro e Brasília (Maria Fernanda Derntl, FAU-UnB). Já está prevista também participação no congresso do Urban Design Institute of South Africa em 2016. Espera-se que outras iniciativas da parte de alunos e professores possam dar continuidade a essa estimulante parceria.
coordenação: Maria Fernanda Derntl e Elane Ribeiro Peixotoorganização: LABEURBE (PPG-FAU-UnB) e LAVIVER (Antropologia - UnB)
Cynthia Kros
Alan Mabin
119

In her lecture, Maria Manuel de Oliveira presented her research on the Brasilia Pilot Plan and the process of ‘grounding the city.’ She revealed the opposition of the myth of landscape as a blank slate, a flat topography ready to receive the new city, to the real valley existing there, showing the work done by the Brasilia idealizers in the process of urban integration into the landscape.
na invenção de brasília
Nenhuma fotografia ou mapa revela suficientemente a gran-diosidade e vastidão do local, que é cercado de três lados por correntes d’água e futuros lagos, nem dá um apanhado da circunferência perfeita formada pelas colinas distantes. Do ponto de vista técnico, o aspecto mais favorável do local é que o mesmo possui suficiente movimentação e diferença de nível para evitar monotonia, sem contudo criar dificuldades de engenharia ou altos custos de circulação, como no caso do Rio de Janeiro.
William HolfordMembro da Comissão Julgadora do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil.
“Declaração individual”, em 1957.
Maria Manuel Oliveira é de um tipo especial de arquiteto.
Professora na Universidade do Minho, em Portugal, ela possui boas e numerosas experiências tanto de pesquisa histórica quanto de projeto. Desde seu trabalho com Fernando Távora, passando por seu doutorado sobre arquitetura funerária em seu país até seu recente projeto de revitalização urbana dos “Extramuros” da cidade medieval de Guimarães, ela desen-volveu uma lógica de trabalho própria que combina habil-mente a investigação à atividade de projeto e construção. Esta prudente “dúvida metodológica” atrela método e curiosidade
num vínculo causal em que boas obras de arquitetura provêm necessariamente do labor exaustivo e específico, relacionado a demandas reais e condições concretas. Brasília se lhe figu-rava como um esplêndido exemplo de integração urbana à paisagem. Qual teria sido o labor de seus idealizadores e construtores nesse sentido? Quais os levantamentos, projetos, ajustes teriam levado àquele resultado? Para responder a esta pergunta, Maria Manuel esteve por três meses em Brasília em 2013, conhecendo a cidade, seus edifícios, seus acervos documentais, seus criadores e habitantes. Dessa experiência surgiu o artigo que ela apresentou em sua palestra realizada a convite do LabeUrbe na UnB em 25 de junho último: “(N)a invenção de Brasília: ‘botar a cidade no chão’”.
O percurso escolhido é cronológico: começa pelo mape-amento da “representação mental” do território, desde a demarcação da área pela Missão Cruls até a década de 1950: a construção do mito da tabula rasa, de uma suposta terra plana como “uma mesa de bilhar”, em oposição ao vale real ali existente, favorável ao represamento do rio Paranoá.
Determinado o local, o território passou a ser explorado como “representação gráfica”, em exaustiva cartografia encon-trada no Arquivo Público do Distrito Federal – informação bem documentada nos anexos do próprio edital do concurso
Danilo Matoso Macedo
1/2015120
arqui #4

para o plano piloto: a Planta Aerofotogramétrica do Sítio da Nova Capital do Brasil, de 1955-1956.
O Plano Piloto de Lucio Costa aproveitou-se habilmente das sutilezas topográficas já levantadas: o desenho arqueado das asas residenciais adéqua-se às curvas de nível do terreno, e a Esplanada dos Ministérios situa-se precisamente sobre um espigão que avança mais alto na direção do lago – qualidades louvadas pelo júri do concurso e graficamente evidentes.
O mesmo júri sugeriu a aproximação da cidade ao Lago Paranoá – primeira de muitas adaptações que “botar a cidade no chão” demandava. Se hoje já se conhece a importância de um Augusto Guimarães Filho (braço direito de Lucio Costa) nesse processo, Maria Manuel apresenta-nos também a figura do topógrafo Jethro Bello Torres, responsável pela locação inicial da cidade, e autor das Memórias de cálculo da Urbanização de Brasília. Entrevistas com Torres e Jayme Zettel acrescentam especial sabor de novidade à narrativa da pesquisadora.
Como boa projetista, ela toma então, como instrumento “cognitivo” de sua empreitada, a realização de um corte do terreno ao longo do Eixo Monumental, levando-nos a um percurso pelos principais pontos de sua extensão. De oeste a leste: a estação ferroviária, o cruzeiro, a torre de TV, a Plataforma Rodoviária, a Esplanada dos Ministérios, a Praça
dos Três Poderes.Cada um desses marcos tem suas versões projetadas e
construídas comparadas, revelando-nos curiosas surpresas, como a conservação da cota original de implantação da torre de TV, obtida à custa de um extenso aterro, ou a equivalência da altura da mesma torre com a cumeada da serras circun-dantes. Embora desejáveis alguns destes ajustes geraram problemas ainda não resolvidos em nossa cidade. Tal é o caso, por exemplo, da falta de integração, ainda deficiente, entre o Palácio do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes, após a conformação da plataforma transversal à Esplanada – bloqueando a passagem e a vista.
Mais que uma boa e bem-vinda descrição de nossa cidade (útil a todos os que buscam conhecê-la melhor) o trabalho de Maria Manuel apresenta uma atraente receita de pesquisa acadêmica e de atividade projetual, em que se misturam em boas porções: a pesquisa bibliográfica e documental; o conhe-cimento da realidade e das pessoas envolvidas com seu objeto de estudo; o desenho e o texto como ferramentas cognitivas. É uma simpática e efetiva contribuição, que certamente ajuda na construção de outra “representação mental” de Brasília, útil e efetiva a todo arquiteto que aqui opera.
Marco 0 em BrasíliaFonte: Fundo Novacap, ArPDFImagem da escavação em torno da estaca que assinala o centro do cruzamento dos Eixos Monumental e Residencial
121

Hosted at FAU-UnB, the “Fourth Conference of the Portuguese-Language Network of Urban Morphology” (PNUM, in Portuguese) with the topic “Urban Configuration and the Challenges of Urbanism” gathered 181 studies across 30 Theme Sessions. This allowed a view of state of the art research on urban morphology in lusophone countries, especially Brazil and Portugal.
pnum
Gabriela de Souza Tenorio
Nos dias 25 e 26 de junho de 2015, a FAU-UnB teve o prazer e o privilégio de sediar a Quarta Conferência Inter-nacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana/PNUM (Portuguese-Language Network of Urban Morphology - pnum.fe.up.pt/pt). A Rede Lusófona de Morfologia Urbana é um grupo regional do International Seminar on Urban Form/ISUF (www.urbanform.org), e foi criada em 2010 para promover e desenvolver o estudo da forma urbana nos países lusófonos, por meio da organização de reuniões, conferências e da publi-cação da Revista de Morfologia Urbana.
A primeira edição da conferência, em Porto (2011), apresentou 60 trabalhos; a segunda, em Lisboa (2012), 96; a terceira, em Coimbra (2013), 153, tendo sido 55 de autores brasileiros. Em função da grande e crescente participação de brasileiros na Rede, decidiu-se por trazer a quarta edição do evento para o Brasil, com algumas contribuições nossas à sua estrutura, como a exigência do envio de trabalhos completos a partir da seleção dos resumos, e a apresentação de pôsteres.
A conferência sediada em Brasília recebeu 317 resumos, sendo 24 de Portugal, 1 da Espanha e 292 do Brasil. Dos resumos brasileiros, 33 vieram do Centro-Oeste, 143 do Sudeste, 47 do Sul, 50 do Nordeste e 19 do Norte. Os estados de Roraima, Acre, Sergipe e Mato Grosso do Sul não se fizeram presentes.
Foram selecionados 203 resumos para desenvolvi-mento e apresentação, tendo sido recebidos 156 trabalhos completos, e 56 resumos para exposição em pôster, dos quais 25 foram enviados. Entre membros da comunidade interna e participantes externos, recebemos um público da ordem de 250 pessoas.
Com o tema “Configuração urbana e os desafios da urbanidade”, o evento agregou trabalhos relacionados aos temas: 1. Transformações urbanas recentes – novos impactos, novos desafios; 2. Desigualdade socioespacial das cidades; 3. Configuração urbana e patrimônio cultural; 4. O legado da cidade moderna; 5. A urbanização total: tendências para a
metápole; 6. Espaços públicos na cidade contemporânea; 7. Teorias, conceitos e técnicas morfológicas e 8. Configuração urbana e história das cidades.
A solenidade de abertura contou com o Reitor da UnB, prof. Ivan Marques de Toledo Camargo; o Diretor da FAU, prof. José Manoel Morales Sánchez, a presidente da Comissão Organizadora, Gabriela de Souza Tenório, o presidente da Comissão Científica, Frederico de Holanda, e o membro do conselho científico PNUM, Vitor Oliveira.
Foram palestrantes convidados: Vítor Oliveira (FEUP – Portugal); Frederico de Holanda (UnB), Paulo Afonso Rhein-gantz (UFRJ/UFPEL), Maurício Polidori (UFPEL), Romulo Krafta (UFRGS) e Silvio Soares de Macedo (USP). As trinta Sessões Temáticas ocorreram pela manhã e à tarde, ocupando o térreo e o subsolo da FAU. Houve uma integração da dinâmica da conferência às atividades regulares da escola, numa convi-vência interessante e harmônica que facilitou a participação de estudantes e professores e mostrou que a FAU tem vocação para acolher eventos deste porte e natureza.
A conferência permitiu vislumbrar o estado da arte nas pesquisas sobre morfologia urbana nos países lusófonos, principalmente Brasil e Portugal; abriu oportunidades para colaborações e intercâmbios, facultando que profissionais e pesquisadores ampliassem sua rede de contatos; fomentou a divulgação e o debate de achados de pesquisas, enriquecendo o campo de conhecimento. O formato utilizado, reservando trinta minutos de discussão ao final de cada sessão, foi bastante aproveitado, cumprindo-se o que talvez seja um dos maiores objetivos de momentos como esse: o debate e o confronto de ideias face a face. Avaliamos o evento como de excelência, produtivo e, acima de tudo, caloroso e agradável.
Agradeço àqueles que fizeram este evento não só possível, mas um sucesso. Em especial ao prof. Frederico de Holanda, aos estudantes, professores e funcionários direta-mente envolvidos na organização, à direção da FAU e à CAPES.
1/2015122
arqui #4

Comissão OrganizadoraPresidente: Gabriela de Souza Tenório Membros: Ana Paula Gurgel, Camila Sant’Anna, Cláudia Garcia, Frederico de Holanda, Giuliana de Brito Sousa, Liza Andrade, Valério MedeirosEstudantes: Bárbara Veras, Camila Barbosa, Camila Correia, Caroline Machado, Douglas Duarte, Érika Tibúrcio, Guilherme Reis, Gustavo Leonel, Graziela Mendes, Hudson Fernandes, Izabela Brettas, Kamila Venâncio, Karoline Cunha, Maíra Boratto, Marina Ribeiro, Marlon dos Santos, Millena Montefusco, Natália Rios, Olivia Nasser, Vânia LoureiroServidores Técnico-adminstrativos: Adriana Farias, Lilían da Silva, Marcus Vinicius Oliveira, Raimunda Gonçalves, Soemes de Sousa, Valmor PazosProfessores coordenadores de Sessões Temáticas: Ana Elisabete Medeiros, Ana Paula Gurgel, Benny Schvarsberg, Caio Frederico e Silva, Camila Sant’Anna, Carolina Pescatori, Cláudia Amorim, Cláudia Garcia, Cristiane Guinâncio, Eduardo Pierrotti Rossetti, Elane Ribeiro Peixoto, Flaviana Barreto Lira, Frederico de Holanda, Gabriel Dorfman, Giselle Chalub Martins, Giuliana de Brito Sousa, Leandro de Sousa Cruz, Liza Andrade, Luciana Saboia, Maria Cecília Grabriele, Maria do Carmo Bezerra, Maria Fernanda Derntl, MaribelAliaga, Marta Romero, Monica Fiuza Gondim, Rodrigo de Faria, Rômulo Ribeiro, Valério MedeirosComissão CientíficaPresidente: Frederico de HolandaMembros: Celene Monteiro, Cristiana Gris, Décio Rigatti, Edja Trigueiro, Eneida Mendonça, Jorge Correia, José Júlio Lima, Karin Meneguetti, Liza Andrade, Luiz Amorim, Maurício Polidori, Miguel Bandeira, Monica Fiuza Gondim, Nuno Norte Pinto, Renato Saboya, Stael Costa, Teresa Marat-Mendes, Thereza Carvalho, Valério Medeiros, Vinicius Netto, Vítor Oliveira
123

colóquio quapá-sel
The tenth edition of the QUAPÁ-SEL Colloquium ensured continuity of the research project “Free Space Systems and Constitution of the Urban Contemporary Form in Brazil.” This edition emphasized the debate not only of themes related to urban form and its morphologic characteristics and the agents responsible for it, but also the topic of the open space system and its appropriation.
múltiplos olhares sobre sistemas de espaços livres e a constituição da forma urbana contemporânea no brasil
Silvio Macedo, Eugenio Queiroga, Camila Sant’ Anna, Sidney Carvalho, Giuliana de Brito Sousa e Maria Alice Sampaio
Ilustração por Silvio Macedo
1/2015124
arqui #4

A FAU-UnB sediou, durante os dias 23 e 24 de junho de 2015, a décima edição do Colóquio QUAPÁ SEL, que integra o projeto temático de pesquisa Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Forma Urbana Contemporânea no Brasil, desenvolvido pela Rede Nacional de Pesquisa QUAPÁ-SEL, coordenado pelo Laboratório QUAPÁ da FAUUSP.
No Colóquio foram debatidos os resultados já obtidos pela pesquisa da Rede QUAPÁ-SEL, visando ampliar o conhe-cimento da realidade urbana brasileira com foco em seus sistemas de espaços livres de edificação – públicos e privados –, estes sempre associados a sua estrutura morfológica e funcional. Nesta edição, foi dada ênfase ao debate de três dos seguintes tópicos fundamentais sobre o assunto: forma urbana e cidade: características morfológicas; processos e agentes produtores da forma urbana e do sistema de espaços livres (SELs); e apropriação do sistema de espaços livres (SELs).
Essa divisão teve o objetivo de continuar a construir coletivamente bases conceituais e metodológicas que contri-buam para o avanço da pesquisa temática da Rede Nacional QUAPÁ-SEL, fortalecendo o conhecimento da rede a respeito das cidades brasileiras, suas características distintivas e suas similaridades. No debate sobre a forma urbana, foi possível avaliar como as cidades brasileiras apresentadas pelos diversos participantes estruturam seus espaços livres, como se dá a distribuição geral dos espaços livres, e sua relação com as estruturas construídas. Como síntese, teve-se uma ideia consistente da forma das cidades, dos principais fatores de alteração desta forma, de seus principais agentes produtores e da especificidade de cada cidade. Foi alcançado consenso sobre a existência de um conjunto expressivo de elementos comuns e específicos tanto na distribuição, constituição e características de seus sistemas de espaços livres como em sua forma urbana.
No debate sobre processos e agentes, foi possível avaliar como os diferentes cidadãos, organizados ou não em grupos de interesses, produzem e consumem o espaço urbano. Tal debate foi importante para avaliar as características de funcionamento das cidades no que diz respeito àqueles envolvidos em sua produção e utilização. Já no debate a respeito da apropriação
dos SELs, foi possível compreender como, nos diferentes casos apresentados, funciona a utilização dos espaços livres públicos, suas particularidades e características comuns.
Por fim, a título de síntese, o prof. Silvio Macedo, coor-denador do Laboratório QUAPÁ, apresentou algumas questões sobre o perfil da cidade brasileira, enfatizando o seguinte: que esta é ainda caracterizadamente horizontal, em geral densamente construída; com um crescimento expressivo da verticalização no século XXI, em geral espraiando-se por todo o tecido urbano; com um crescimento ora continuo, ora fragmentado, com vastas áreas ocupadas por loteamentos e condomínios fechados; com o aumento da conservação de manchas lineares de vegetação e de florestas intraurbanas em virtude da legislação de proteção ambiental, criando áreas de estoque significativas para futuros parques; e ainda o aumento do número de parques urbanos em cidades cuja malha urbana tende a se congestionar em função do aumento do número de veículos automotores, e a inadequação das suas malhas viárias para recebê-la, apesar de alguns investimentos de porte no setor. Finalmente, percebeu-se que, apesar das questões latentes de segurança, o espaço livre público tende a ser cada vez mais apropriado pela população.
Tudo isso não seria possível sem a colaboração daqueles que, de forma direta e indireta, contribuíram para que essa décima edição do Colóquio ocorresse. Assim, gostaríamos de agradecer, em especial, o apoio conferido pelos coordenadores, Silvio Macedo, Eugenio Queiroga, Giuliana de Brito Sousa, Maria Alice Sampaio, Sidney Vieira Carvalho, Yara Regina de Oliveira, Maria da Assunção Pereira Rodrigues e Camila Sant´Anna, pelo professor coordenador de extensão, Caio Frederico e Silva, e pelo professor diretor José Manoel Sánchez. E também aos funcionários, particularmente, Soemes, Josué, Adriana, Marcos, Raimunda, Júnior e Valmor, e aos alunos da UNIP e da UnB, que formaram a base de apoio logístico: Marla Mendes, Raíssa Diniz, Marla Leite, Gabriela Maria, Karoline Soares, Nathália Porto, Nathália Cirqueira, Charles Cardoso Pereira, Maria Carolina Ribeiro e Julia Rabelo Rodrigues.
Ilustração por Silvio Macedo
125

poder e manipulação
O Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica realizou, no dia 15 de junho de 2015, o seu primeiro Simpósio Internacional de Estética, Hermenêutica e Semi-ótica, tendo por tema a relação entre “Poder e Manipulação”. Contando com a colaboração de professores e estudantes do Brasil, de Portugal, da Espanha e da Argentina, o Simpósio deverá se desdobrar num segundo encontro, previsto para novembro deste ano. As palestras e os debates foram realizados no auditório da Pós-Graduação da FAU-UnB.
Ao propor o simpósio, o Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica, dentro do viés interdisciplinar que o caracteriza, almejava agregar pontos de vista diversificados sobre as relações entre o poder e as formas de linguagem, para examinar como os signos são manipulados para legitimar e auratizar o poder, mas também como podem ser utilizados para dar voz ao que não interessa ao poder que esteja vigente em certo meio e lugar. Signos podem ser textos literários ou filosóficos, imagens em altares ou quadros, esculturas ou obras de arquitetura, músicas ou danças, e assim por diante. Aqueles que se dispõem a fazer constru-ções no espaço para perdurar no tempo não são inocentes ao propor formas aos ambientes: funcionam como partes educadoras e são competentes para manobrar, libertar ou aprisionar o potencial do pensamento. Há espaços impregnados de vetores estéticos que determinam a formação do homem e da sociedade. Quanto menos consciente se estiver da manipulação feita sob o manto da arte, maior tende a ser a eficácia desses agentes do poder que são chamados de artistas. O próprio conceito de arte se torna um problema.
A vice-diretora da FAU abriu os trabalhos, que pela manhã foram coorde-nados pelo Dr. Júlio César, da Secretaria de Educação do DF. A palestra inaugural foi proferida pelo coordenador do NEHS, o prof. Flávio Kothe, sob o ambíguo título “A manipulação da arte”. Como sintoma do perfil do simpósio, citamos o início da palestra:
Power and Manipulation was the topic of the first International Esthetics Symposium organized by the Esthetics, Hermeneutics, and Semiotics Nucleus (Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica - NEHS) . Flávio Kothe (coordinator of NEHS, UnB), Marco Carmignani (National University of Cordoba, Argentina), Tiago Carvalho (Coimbra University, Portugal), and Luciana Saboia (UnB) delivered addresses about means of legitimizing and auratizing power through architecture, urbanism, and literature.
primeiro simpósio internacional de estética
Flávio Kothe
1/2015126
arqui #4

“Tanto as artes são manipuladas quanto servem para manipular: elas são manipuladas porque servem para mani-pular. Um modo seguro e eficaz de manipular através de uma obra é promovê-la à arte: isso gera um temor reverencial, como se fosse algo sagrado, que impede que se questione aquilo que através dela é dito e sugerido. O modo mais visível de mani-pulação pela arte é através da arquitetura e urbanismo. Insere as pessoas dentro da obra, fazendo com que elas cumpram o seu traçado, condicionando o seu modo de existir e de ser, os percursos que fazem a cada dia, o modo como se acomodam, aquilo que elas enxergam e lhes é impregnado doutrinaria-mente. Nesse sentido, o urbanismo, que tem ficado fora do sistema das artes na tradição filosófica, expande e radicaliza a questão presente na arquitetura.
Nem sempre, nem por todos, a arquitetura tem sido considerada arte. Aliás, há um consenso de que a maior parte das obras arquitetônicas não é arte: apenas espaço construído. A dificuldade não está em definir o espaço construído, mas em conseguir discernir aquele que pode ter a pretensão de ser arte. Nem tudo o que comparece como arte é efetivamente artístico, os cânones são constituídos de acordo com conve-niências políticas e de época, mas aparecem como padrões universais.”
Logo a seguir, o professor Marco Carmignani, da Univer-sidad Nacional de Córdoba, Argentina, especialista em latim e grego, trouxe à baila um tema da Antiguidade que se tornou central no cristianismo: Alceste. Partindo grandemente da
peça de Eurípides, o mito propõe que, nas núpcias de Alceste com Admeto, o noivo desagrada a deusa Ártemis e é por ela condenada à morte. Apolo propõe que Admeto poderia se salvar se alguém se dispusesse a morrer por ele. Nem os pais nem outros se dispõem a fazer isso. Apenas Alceste se dispõe a morrer para salvá-lo. O professor Marco examinou o desdobramento desse tema em diversos textos romanos de diferentes séculos e regiões do Império Romano. Nos debates que se sucederam, os presentes se concentraram no desdo-bramento desse mitema na figura de Cristo, que se dispõe a morrer para salvar todos os homens, e na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, em que cada um deles não vê mais sentido para sua existência com a morte da pessoa amada.
Na parte vespertina do Simpósio, Tiago Carvalho, que está fazendo seu doutorado na Universidade de Coimbra, falou sobre o topos da “educação do príncipe”, que é marcado pela ambiguidade de voltar a educação para a formação da elite aristocrática, mas poderia servir para a formação de um homem melhor. A seguir, a professora Luciana Saboia, professora da FAU e integrante do NEHS, fez uma exposição sobre hermenêutica e arquitetura. Assim como já havia se dado pela manhã, após as apresentações houve intenso debate entre os especialistas presentes.
O NEHS agradece à Direção da FAU, à coordenação da Pós-Graduação e a todos os que colaboraram no evento. Opor-tunamente será divulgado o desdobramento desse Simpósio.
Divulgação NEHS
127

NA
DIA

NA MÍ
DIA

A Universidade de Brasília recebeu, nesta quarta-feira (11), dois represen-tantes da Building Research Establish-ment (BRE), instituição britânica que é referência na pesquisa tecnológica em edificações. O chefe executivo da BRE, Peter Bonfield, e o diretor internacional, Orivaldo Barros, se reuniram com a vice--reitora, Sônia Báo, e com pesquisadores do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade (Lacis/UnB), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), que mantém parceria com a BRE na área de sustentabilidade voltada à construção civil.
Durante o encontro, brasileiros e britânicos fizeram um balanço das atividades realizadas pelo Centro de Excelência da BRE na UnB: Comuni-dades Integradas Sustentáveis, núcleo
Strengthening an exchange partnership in sustainability in civil construction, the University of Brasilia met with two representatives from a British institute for technological research on buildings, the Building Research Establishment (BRE). At the meeting between Peter Bonfield and Orivaldo Barros from BRE and the vice-president of the university, Sônia Báo, and the researchers from the Laboratory of Constructed Environment, Inclusion, and Sustainability (Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade [Lacis]) at FAU-UnB, the activities carried out by the Excellence Center of the BRE were reviewed. The Center, located at Lacis, is focused on the development of innovation models and paradigm changes with a view to the consolidation of sustainability standards in construction.
intercâmbio em sustentabilidade
de pesquisa fruto do convênio entre as instituições e sediado no próprio labo-ratório da FAU.
“Qualquer parceria é muito impor-tante para a Universidade, mas uma que visa à sustentabilidade é fundamental, porque trabalha a questão da inclusão ambiental e social de forma mais clara”, avaliou a vice-reitora Sônia Báo. Segundo ela, a discussão do tema é obrigatória. “Vivemos uma situação, no mundo inteiro, em que há de se buscar essa saída; buscar melhorias para a sociedade como um todo”, completou.
O Centro de Excelência tem como foco o desenvolvimento, teste e demons-tração de modelos de inovação e mudança de paradigmas, de processos de produção, organizações, comunidades e centros urbanos, visando à consolidação de
padrões de sustentabilidade construtiva.A avaliação do convênio UnB-BRE
foi positiva de ambas as partes, e as insti-tuições vão continuar compartilhando conhecimento na área, inclusive com o intercâmbio de pesquisadores da Univer-sidade que irão trabalhar no centro de pesquisas britânico.
Nesta quinta-feira (12), os repre-sentantes das duas instituições reali-zaram um workshop na Câmara Brasi-leira da Indústria da Construção (CBIC), buscando apoio para a implantação de um parque de inovações tecnológicas sustentáveis que será construído na Faculdade UnB Gama.
Reportagem de Lucas Mazzola Comunicação Lacis/UnBwww.unb.br/noticias/unbagencia
publicado em 12/03/2015
1/2015130
arqui #4

Quem nunca pensou em ter uma casa na árvore quando criança? Marilia Tuler Veloso, estudante do último ano de arquitetura da UnB, resolveu realizar o sonho infantil e construir uma casa na árvore, como etapa do seu projeto de conclusão de curso. O tema do projeto é relacionado à criança no espaço público e propõe a intervenção urbana na rua onde fica a casinha, incluindo na metodologia a participação ativa das crianças.
Até há pouco tempo a estudante morava na QE 46, a quadra escolhida para a sede da casinha. Ela e a orientadora, Carolina Pescatori, escolheram a quadra por causa do acesso direto à comuni-dade, principalmente das crianças. E o segundo motivo é a localização da quadra, próximo de um dos acessos da cidade. “Posso dizer que a casinha na árvore foi só a ‘cereja do bolo’ de um longo processo. O trabalho começou
estudante de arquitetura faz casa na árvore na praçaAs the cherry on the cake of her Graduation Project, Marília Tuler Veloso, a student of the School of Architecture of the University of Brasilia, coordinated the construction of a tree house on a square in Guará. The project, an urbanistic proposal based on the relationship between children and public space, culminated with this intervention. Neighborhood dwellers and children had also aided and participated in the project throughout its development process.
Jornal do Guaráwww.jornaldoguara.com/rafael
no meio do ano passado e ainda não terminou. Além de a casinha ainda precisar de algumas finalizações, meu projeto só acaba no meio desse ano”, conta Marília.
ESCOLHA DO MATERIALA escolha do material para a
execução da casa na árvore foi discutida em uma das atividades com as crianças. A turma decidiu usar materiais de fácil acesso, baixo custo e que permitisse uma grande variedade de soluções. O destaque foi para a madeira e o pneu já descartado. A maior parte desse material foi doada por moradores e clientes de lojas da quadra, e Marília completou o pouco que estava faltando.
A estudante garante que nem precisou pedir uma autorização formal da Administração Regional do Guará porque a proposta era de não interferir
na estrutura local. Mas ela conversou com os pais das crianças que participavam do processo e realizou e divulgou o projeto em alguns comércios da área. “Muitos dos moradores acompanharam todo trabalho com as crianças”, conta a jovem.
O mutirão contou com o suporte técnico de uma engenheira civil, que orientou sobre as questões de segurança e a estrutura da obra. Para Marilia, o mais importante é entender como esse processo tem o poder de cativar a popu-lação, mostrar às pessoas que elas são capazes de melhorar o lugar onde vivem. Ela completa dizendo que usou meto-dologia de mutirão do Instituto Elos, de Santos, SP, que realiza projetos em todo o Brasil.
publicado em 15/05/2015
131

Ascom, SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitaçãowww.segeth.df.gov.br
Estudantes e professores de arqui-tetura da Universidade Brasília (UnB) conheceram as propostas que estão sendo discutidas e que farão parte do novo Código de Edificações de Brasília. O debate coordenado pela Secretaria de Gestão do Território e Habitação (Segeth) ocorreu no último dia 19.
O secretário da Segeth, Thiago de Andrade, e técnicos da pasta estiveram no auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, onde professores apresentaram diferentes visões, fizeram novos questionamentos e proposições para o documento.
Com o tema “Impactos na paisagem urbana”, a Profa. Dra. Luciana Saboia refletiu sobre a construção histórica da paisagem de Brasília. Ela apontou o surgimento de “ilhas” que se formaram no entorno do plano, sem diálogo com o espaço público, que seria um dos pres-supostos do plano inicial da cidade. Já o Prof. Dr. Frederico Flósculo questionou os limites do COE sobre a “vida civil” das construções, e advogou por um instru-mento urbano que também contemple aqueles que fazem uso das construções.
estudantes e professores da unb discutem código de edificaçõesA debate over the Brasilia Building Code, coordinated by the Department of Territory and Housing Management (Secretaria de Gestão do Território e Habitação [SEGETH]) brought together FAU professors and students for debates and lectures pointing to issues related to urban fragmentation and access to public space. Other issues included contemplation of the building user in the Building Code, sustainability related to the environmental comfort of urban space, mechanisms related to energy efficiency, and the market value of enterprises.
O estabelecimento de padrões de eficiência energética foi o tema apresen-tado pela Profa. Dra. Cláudia Amorim. Na ocasião ela mostrou um comparativo mundial dos países em que o índice é usado para agregar ou subtrair valor de mercado nos empreendimentos. Durante os debates, a Profa. Dra. Marta Romero mostrou como as construções no centro de Brasília, como Setor Bancário, têm interferido no conforto ambiental dos cidadãos com a criação do que ela chamou de “verdadeiras ilhas de calor”, interferindo no bem-estar da população.
Ainda durante os debates na UnB, os participantes se reuniram em dois grupos temáticos para auxiliar na redação de novos dispositivos para a minuta do novo Código de Edificações, que está sendo construída desde abril e que se pretende encaminhar à Câmara Legisla-tiva do DF ainda em agosto. Em um dos debates, foram apresentadas sugestões para que o código contemple questões ambientais e de sustentabilidade. No outro grupo, discussões sobre aspectos arquitetônicos e urbanísticos do novo código foram apresentadas.
Além da oficina na UnB, a Segeth já promoveu debates com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF, Conselho de Arqui-tetura e Urbanismo do DF, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF, OAB-DF.
GRUPO DE TRABALHOA Comissão Permanente de Moni-
toramento do Código de Edificações constituída pela Segeth tem trabalhado na elaboração da minuta para o novo projeto de lei do código e já realizou este ano duas reuniões ordinárias regimen-tais, uma extraordinária, e ainda estão previstos novos encontros. Quando a minuta for concluída, o texto será dispo-nibilizado no site da Secretaria, para que todos possam acessar e colaborar com a proposição desse importante instrumento urbanístico.
publicado em 23/06/2015
1/2015132
arqui #4

brasília pantone
"Brasília tem o seu destaque. Na arte, na beleza e na arquitetura”, já dizia o samba-enredo Aquarela brasileira, tema da escola de samba carioca Império Serrano no carnaval de 1964. É exata-mente a união desses três elementos que levaram as jovens Gabriela Bílá e Marilia Alves, ambas estudantes de arquitetura da UnB, a criarem o projeto Brasília Pantone, que será lançado em e-book e exposto em uma mostra fotográfica no sábado, às 16h, na BSB Memo (303 Norte).
Essa é a segunda iniciativa de Gabriela Bílá com foco em Brasília. Ela é autora do livro O novo guia de Brasília, um manual com dicas sobre o funcionamento da cidade, como onde fazer turismo e apreciar as tradições brasilienses.
Já a proposta do Brasília Pantone consiste em um registro de fotos e vídeos das diferentes escalas cromáticas da cidade — sejam elas projetadas ou cons-truídas pelo acaso — e como as diferentes paletas de cores urbanas transformam a experiência de viver na capital federal. “A ideia surgiu há alguns anos, quando comecei a reparar em como as cores da cidade mudam de acordo com a estação do ano. E essas diferenças influenciam diretamente nas nossas sensações ao vivenciar a cidade. Por isso, achei que
What color is Brasilia? The Brasilia Pantone is a photographic record of the city’s different chromatic scales carried out by two alumni, Gabriela Bílá and Marilia Alves.
poderia ser interessante fazer um registro em forma de fotos e vídeos dessas escalas de cor nas diferentes partes de Brasília”, explica Gabriela.
TABELA DE CORESEm uma das imagens, a dupla
compara os diferentes tons desde a Catedral Rainha da Paz, no Eixo Monu-mental, até as muretas da Universidade de Brasília. A seca de Brasília também se tornou objeto de estudo da dupla, em uma escala que tem desde o azul do céu até o tom marrom que a grama adquire nesse período. “Por exemplo, uma foto do Parque da Cidade feita em dezembro terá tons de verde mais azulados, enquanto uma feita agora, estará com mais tons de amarelos”, completa a arquiteta.
BRASÍLIA PANTONEEm 15 de agosto (sábado), às 16h,
na BSB Memo (303 Norte, Bl. A, Lj. 20). Lançamento do e-book Brasília Pantone, que estará disponível para download gratuito, e exposição de fotos de Gabriela Bílá, Marilia Alves e imagens selecio-nadas em workshop. Com discotecagem dos DJs El Roquer, Ahmed e Rami. A entrada é franca.
TRÊS PERGUNTAS // GABRIELA BÍLÁ
Quanto tempo vocês levaram para fazer o projeto?
Foi um projeto relâmpago, fizemos tudo em aproximadamente um mês. A ideia agora é fazer mais projetos como esse, como pílulas de ideias legais que valorizam Brasília.
Por que lançar em e-book e não em versão impressa?
Por ser um projeto rápido, ficaria inviável fazer uma versão impressa. Fazendo um e-book, as pessoas poderão ter acesso ao conteúdo de forma abran-gente e gratuita. Para quem quiser levar algo físico da exposição, algumas fotos impressas estarão à venda e uma caixinha com postais de algumas das inúmeras cores de Brasília.
Pra vocês, qual é a importância de trazer mais um projeto que valorize Brasília artisticamente?
Acreditamos que todo projeto que procure ter um olhar sensível sobre a cidade é importante para esse momento de formação de uma identidade brasi-liense. Quem ama a sua cidade está mais propenso a preservá-la.
Reportagem de Adriana IzelCorreio Braziliense
publicado em 13/08/2015
Imagem por Gabriela Bílá
133

O professor de arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) Frede-rico Flósculo lançou um livro de ficção, em formato de história em quadrinho, que revisita os monumentos da capital, por meio de uma garota em dúvida se seguirá ou não a carreira de arquiteta.
Com a ajuda de ninguém menos que Lucio Costa, a menina descobre segredos sobre os traços de cartões--postais de Brasília, como o Palácio da Alvorada e os Eixos Rodoviários. Na aventura, ela chega a se transformar em um legítimo calango do cerrado, teste-munhando até uma briga entre Dilma Rousseff e Barack Obama.
Após um ano e meio se debru-çando sobre os desenhos, o professor se considera satisfeito com o resultado da publicação. “Comecei fazendo uma cari-catura da minha filha nas manifestações de 2013 e isso virou uma historiazinha que levou a outra. Terminei criando uma personagem adolescente de Brasília que amava a cidade e queria conhecer a alma do local”, diz. A decisão de chamar o livro Thalija se deve ao nome das filhas
Using the modernist city as a theme, Prof. Frederico Flósculo, from the School of Architecture and Urbanism, brought out a book of fiction written like the comics. With the title Thalija, the name of the girl who is the main character, the narrative travels throughout the spaces and characters of the city’s history, its past and present. “The student becomes a technician ever less creative. I realized that, in all of my years of teaching, neither I nor my students were drawing anything. Passion is left behind,” he regretted. The project was the professor’s way of taking up drawing again.
thalija
de Flósculo: Thaís, Lívia e Jaina.Segundo Flósculo, criar as ilustra-
ções não deu trabalho. “Nunca precisei sentar [de forma forçada] para dese-nhar. Sempre foi na fila do banco, na fila do avião”, diz. “Foi sempre num ócio criativo, num momento que não era de trabalho”.
Aos 56 anos, o professor relata que o interesse pelos rascunhos vem desde criança. Na infância, ele foi expulso duas vezes de um colégio religioso por fazer caricatura dos professores. Flósculo compara os episódios à falta de incentivo que ele encontra no meio universitário.
“A arte não é valorizada nem na carreira docente. O padrão Capes [que cria diretrizes do Ministério da Educação para nível superior] não valoriza as artes. O professor-artista é uma esquisitice a ser eliminada da equipe”, critica.
PRÓXIMOS PLANOSMal concluído o quadrinho Thalija
– com tiragem de 500 exemplares a R$ 30 –, o professor já trabalha em outro projeto. Desta vez, ele pretende criar
uma revista semestral também sobre o tema brasiliense. “Ela vai mostrar os quadros urbanos e vai ser totalmente dedicada à sátira, ao sarcasmo que é viver em Brasília”.
Também crê na possibilidade de acrescentar uma aula de ateliê em histó-rias em quadrinhos entre as disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília (UnB) em até dois anos. Flósculo é professor da insti-tuição há 24 anos.
Ele diz ter percebido o desejo dos estudantes no lançamento do livro, na quarta-feira passada (8). O professor afirma que os estudantes comparti-lham a mesma paixão pelo desenho, mas deixam de desenvolver o gosto ao longo do curso. “O aluno vira um técnico cada vez menos criativo. Em todos os anos em que ensinei, percebi que nem eu nem mais os alunos estávamos desenhando nada. A paixão é abandonada”, conta.
Reportagem de Gabriel Luizg1.globo.com/distrito-federal
publicado em 15/07/2015
1/2015134
arqui #4

Ilustrações do autor
135

A master’s thesis defended at FAU-UnB compared energy consumption in residential buildings recently constructed in the northwest of the Pilot Plan with that of the superblock buildings proposed in the city’s initial plan. The architecture of the buildings in the Northwest may lead to a greater consumption of energy than that of the buildings erected in the early years of the capital.
Foram dois anos de pesquisa para a arquiteta Ana Ceres Belmont concluir que a arquitetura dos prédios do Noroeste – um dos mais novos bairros residen-ciais de Brasília – pode levar a um maior consumo de energia se comparada com aquela construída nos primeiros anos da capital.
“Mesmo com a promessa de serem sustentáveis, o que a gente viu foi que os edifícios mais novos são menos eficientes”, diz a pesquisadora.
Entre os motivos, ela cita as fachadas dos prédios e a divisão dos espaços internos. “Eles têm muito vidro e reúnem 4 a 6 apartamentos por andar. Por não serem vazados – com janelas dos dois lados –, os apartamentos perdem ventilação e iluminação natural.”
pesquisa indica que prédios do noroeste podem consumir mais energia
Sob orientação da professora Claudia Amorim, a dissertaçãoEficiência energética de edificações residenciais em Brasília: uma comparação entre as Superquadras do Plano Piloto e o Setor Noroestefoi defendida no ano passado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.
O trabalho, segundo a autora, compara prédios residenciais do Noroeste com os das Superquadras do Plano Piloto.
Para Ana Ceres, a questão da efici-ência energética não recebe a atenção que deveria na hora de construir, mesmo com as recorrentes crises no setor.
“A análise técnica pode mostrar como é possível economizar energia nas edificações sem perda do conforto ambiental”, destaca.
CERTIFICAÇÃO Além de medidas para economia de
água, Ana Ceres explica que a pesquisa considera fatores como iluminação e ventilação natural. Outros aspectos observados são consumo de energia pelo sistema de iluminação e por aparelhos de ar condicionado.
“As edificações foram analisadas segundo normas criadas em 2011. Até então, apenas era avaliada a eficiência de eletrodomésticos”, diz a pesquisadora, em referência ao Selo Procel Edifica.
Reportagem de Erika SuzukiSecretaria de Comunicação da UnB
publicado em 19/05/2015
1/2015136
arqui #4

Part of a research project aiming at mapping and systematizing information about the more than 200 new cities planned and designed in the country in the last 120 years, the article “Operação Bananal, do domínio territorial ao balneário esquecido de Brasília,” (“Bananal Operation, from territorial dominance to the forgotten water resort of Brasilia”) was written by Prof. Ricardo Trevisan with the students Júlia Solléro, Caroline Nogueira, and Natália Bomtempo.
Das memórias de Juscelino sobre seus feitos memoráveis, sempre brotam referências entusiasmadas a certo empre-endimento na Ilha do Bananal. Nunca entendi, nem me dei ao trabalho de pesquisar, do que se tratava. Até que um grupo de arquitetos de Brasília (Ricardo Trevisan, Júlia Solléro de Paula, Caroline Cavalcante Nogueira Barreto e Natália Bomtempo Magaldi) corrigiu a minha ignorância.
Não haviam se passado nem quinze dias da inauguração de Brasília e Juscelino já apontava a flecha do desejo para outra geografia: a Ilha do Bananal. Tal qual aconteceu na transferência da capital, JK aproveitou a oportuni-dade. Sabia que, nos anos 1940, Getúlio havia empreendido um movimento de ocupação da maior ilha fluvial do mundo. Visitou os índios Karajás, donos da terra, e ensaiou a construção de uma base militar. Não deu em nada.
Juscelino pegou o passarinho no voo e começou a construir mais um ninho de passinheiras utopias. “Tratava-se de um impulso a mais na direção da fron-
ruínas de uma loucura
teira ocidental. Para que esse alvo fosse atingido, seria necessário transformar a ilha em parque nacional.” Juscelino queria fazer do lugar um logradouro turístico. Para isso, teria de ocupar terras indígenas, o que ele considerava positivo: “[…] levando em conta as primi-tivas condições de vida na região, resolvi, simultaneamente, incorporar os índios que ali habitavam à civilização brasi-leira, criando, para eles, serviços locais de assistência imediata”.
Uma pista de pouso foi cons-truída ao ritmo Brasília. Oscar Niemeyer projetou o Alvoradinha, residência presidencial de veraneio desenhada nos moldes do Catetinho. Cinco semanas depois do anúncio do início das cons-truções, Juscelino inaugurou o “rancho pioneiro”, obra sobre pilotis.
Alguns meses mais tarde, foi inau-gurado o Hotel JK, volume único suspenso sobre colunas “com janelas debruçadas sobre o (rio) Araguaia”, como escrevem os autores do estudo denominado “Operação Bananal: do domínio territorial ao balne-ário esquecido de Brasília”.
Composto de dezoito apartamentos com banheiras, ar-condicionado e escri-tório privativo, o hotel tinha serviço de talheres de prata e taças de cristal e louça com o emblema JK-Ilha do Bananal. Há delas no Memorial JK. Contam os arqui-tetos que o Hotel JK ofereceu “jantares gloriosos, recepções, pescarias e caçadas feitas pela elite política do país e pelos chefes de Estado que visitavam o Brasil, dentre eles os líderes da Rússia, da Itália, e de países vizinhos da América do Sul”.
Com o fim do governo Juscelino, a eleição de Jânio e o golpe de 1964, o projeto foi abandonado. Um hospital construído serviu por algum tempo aos Karajás. Na ditadura, o hotel foi demo-lido. O que restou do Alvoradinha foi destruído num incêndio em 1990.
O fracasso do projeto teve um resultado positivo: o lugar foi transfor-mado em Parque Indígena do Araguaia.
Blog da Conceição - Crônicas da Cidade Correio Braziliense
publicado em 07/05/2015
137

NA

RUANA

pé na estradaBased on the assumption that architecture should be experienced, the Hit the Road project (Programa Pé na Estrada) was created in 2010 in order to take the students and professors from the school on field trips to Brazilian cities. Besides previous lectures on the destinations, the trip encompassed guided tours, conversations with guests, activities related to photo production, drawing, and writing, as well as urban intervention proposals. Back in Brasilia, an exhibition and a manual of the cities which were visited were organized from the travelers’ standpoint.
Ana Paula Gurgel, Bárbara Gomes, Bárbara Morais, Brenda Oliveira, Brenda Pamplona, Camila Sant’Anna, Frederico Maranhão, Isabella Rodrigues, Maria Cecília Gabriele e Marina Rebelo
Partindo da premissa de que arquitetura precisa ser vivenciada além de ser estudada em sala de aula ou pelas imagens dos livros, surgiu o projeto de extensão Pé na estrada, a fim de levar a realidade das cidades brasileiras ao conhecimento dos alunos de Arquitetura e Urbanismo, e ampliar seus repertórios com viagens. O Projeto Pé na Estrada foi criado em 2010 pela professora Elane Ribeiro Peixoto e “apadrinhado” pelo professor Ricardo Trevisan, com o intuito de visitar Goiânia. Em 2013, o projeto foi retomado por alunos da graduação e teve como destino Curitiba. O principal foco do programa e das viagens são estudos que permeiem a questão urbana e arquitetônica para alunos a partir do 4º semestre da FAU-UnB. Nesse sentido, viajar proporciona ao aluno uma experiência prática, revigorando seu senso crítico acerca da produção arquitetônica, urbanística e paisagística, além também da preocupação com as ações de preservação da memória das cidades brasileiras.O PROJETO É DIVIDIDO EM TRÊS FASES:1. Os professores que acompanharão o grupo ministram uma aula expositiva antes da viagem, fornecendo aos alunos uma preparação sobre o destino. 2. A viagem tem um roteiro pré-definido e cada professor fica responsável por conduzir o grupo em alguns pontos específicos do roteiro, que pode incluir convi-dados. São realizados também os Momentos Pé na Estrada, que consistem em uma série de atividades e produções em momentos específicos da viagem, podendo incluir desenhos urbanos, fotografias, propostas de intervenções urbanas etc. 3. Realização da exposição e elaboração do Manual da cidade visitada com um olhar arquitetônico.
penaestradafaunb.wix.com/penaestradawww.facebook.com/penaestrada.faunbwww.youtube.com/user/[email protected] @penaestrada.faunbFAU-UnB - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnB Campus Darcy Ribeiro - ICC Ala Norte, Sala 27 – Subsolo (ASS-477)Brasília/DF - CEP:70.910-900
1/2015140
arqui #4

The third edition of Hit the Road took the students to towns in the state of Minas Gerais. The choice of towns hinged on the fact that they were, surprisingly, little explored by the students and that they also enabled encounters with varied and rich landscapes and urban scenarios. The visit to the botanical garden and contemporary art center at the Inhotim Institute was followed by a visit to the steep gradients of the colonial towns of Ouro Preto (UNESCO World Heritage) and Mariana, and , finally, to the capital of the state, Belo Horizonte, with its relevant exemplars of modern and postmodern architecture.
pé em mgum pé na cidade como prática de ensino
Em sua terceira edição, optou-se por cidades de Minas Gerais, por se tratar de um estado pouco explorado, inesperadamente, pela maior parte dos alunos. Visitamos o Instituto Inhotim em Brumadinho e as cidades tombadas de Ouro Preto, Mariana e Belo Horizonte. A colaboração das professoras- coordenadoras Ana Paula Gurgel, Camila Sant’Anna e Maria Cecília Gabriele preconizava as seguintes contribuições: auxílio na elaboração do roteiro da viagem juntamente com os alunos da organização do projeto, aula introdutória sobre os locais de destino, acompanhamento dos alunos participantes ao longo da viagem didática e a contribuição no desenvolvimento da exposição.
A inclusão da visita ao Inhotim explora um parque-museu de 110 hectares, incluindo o jardim botânico e o centro de arte contemporânea. O maior centro de arte contemporânea a céu aberto da América Latina cria um diálogo com o entorno composto por uma reserva particular do Patrimônio Natural de 145 hectares. O percurso da viagem possibilitou a fruição estética de um espaço completamente dedicado às artes. As galerias foram construídas para abrigar as obras dos artistas, mas possuem uma sinergia importante com o paisagismo. A vivência de espaços como estes ajuda a aguçar o olhar, bem como os sentidos de quem pretende intervir na paisagem dos lugares. Passear por entre as galerias permite também apreciar
Foto por Bárbara Gomes.
141

Foto por Lucas Feijão.
um panorama da arquitetura contem-porânea brasileira. Os jardins, a arqui-tetura e as obras de arte que compõem o ambiente, suas diferentes linguagens e a imersão total no Instituto Inhotim, foram registradas no primeiro Momento Pé na Estrada, em que os alunos expres-saram e registraram sua interpretação da experiência vivenciada através de fotografias.
A paisagem colonial das cidades de Ouro Preto e Mariana é marcada pelo jogo estabelecido entre a forma homo-gênea da arquitetura colonial, com suas ruas estreitas e o contraste com as ocupa-ções de seu entorno. Ouro Preto é um dos sítios coloniais mais preservados do Brasil, considerado monumento nacional em 1938 e o primeiro sítio brasileiro a ter o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em 1980. Sua ocupação remonta aos arraiais de mineração do século XVIII, sendo hoje um local de turismo e uma cidade universitária. Durante a viagem andamos por suas ladeiras, ou pirambas
como são chamadas pelos habitantes, vivenciando em seu traçado sinuoso um pouco das inspirações medievais e árabes do urbanismo colonial português.
Em sua paisagem montanhosa são marcantes as igrejas, que se escondiam por vezes por trás de uma leve bruma. A variedade de formas e a linguagem arqui-tetônica das igrejas demonstram ainda a profusão de características intrínsecas ao Barroco mineiro, que o distingue das demais expressões do estilo no mundo, numa cidade comandada por ordens e irmandades religiosas. Visitaram-se diversas obras, cujos destaques são os trabalhos de cantaria em pedra-sabão e os douramentos dos altares, que demons-tram a riqueza que existia naquela região na época da mineração.
Os desafios da preservação foram expostos nas palestras de Simone Monteiro, historiadora do Escritório Técnico do IPHAN e do professor da Faculdade de Turismo da UFOP, Juca Vilaschi. Estas palestras abriram os olhos
para a cidade real, que existe além do cartão postal, e para as dificuldades que os moradores têm para se apropriar de seu próprio patrimônio e preservá-lo.
Na Praça Tiradentes ocorreu o segundo Momento do Pé na Estrada. Neste antigo espaço administrativo da Vila limitado pela antiga Casa de Câmara e Cadeia (atual Museu da Inconfidência) e pelo Palácio dos Governadores (atual Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas/UFOP) os alunos puderam, por meio de desenhos, registrar suas impressões do lugar.
Em seguida, tomamos um trem maria-fumaça, para visitar Mariana, cidade vizinha e antiga capital de Minas durante o século XVIII. Durante o trajeto bucólico, pode-se observar a paisagem tomada por uma exuberante vegetação que emoldurava uma bela cachoeira. Em Mariana, muito mais fortemente do que em Ouro Preto, foi possível perceber diversos estilos arquitetônicos além do colonial, incluindo a linguagem eclética
1/2015142
arqui #4

da estação ferroviária até o pós-moderno da casa do Arcebispo. Trata-se de um projeto do arquiteto Éolo Maia que se insere bem na paisagem da praça.
Por fim, foi-se a Belo Horizonte. Sua paisagem cultural é marcada pela imposição da forma de geometria regular sobre as características morfológicas onduladas da Serra do Curral. A cidade foi projetada pelo engenheiro Aarão Reis, entre 1894 e 1897, como nova sede admi-nistrativa de Minas em finais do século XIX, refletindo os ideais de embeleza-mento e higienismo. Visitamos a Praça da Liberdade, a partir de onde é possível apreciar edifícios de diversos estilos do século XX como: ecléticos – Centro Cultural do Banco do Brasil; modernistas – Edifício Niemeyer; pós-modernistas – Rainha da Sucata e contemporâneos – intervenção do Paulo Mendes da Rocha no Museu de Minas e Metal. A paisagem da praça foi transformada, perdendo o uso político-institucional, para se tornar num potente complexo ambiente com
doze espaços e equipamentos de inte-resse cultural.
Ao visitar o conjunto arquitetô-nico da Pampulha foi possível perceber as confluências do movimento moder-nista brasileiro com a arquitetura colo-nial, como uso extensivo de azulejos, nas tradicionais cores de branco e azul, além da preocupação com a adequação climática pelo uso dos cobogós, uma nova reinterpretação dos muxarabis. No complexo da Pampulha observou-se a grande inventividade da obra de Oscar Niemeyer: o Cassino tem influência de Le Corbusier, a Igreja com inspiração barroca alia as técnicas construtivas do concreto armado, e a Casa do Baile faz uma alusão à brasilidade carioca, carna-valesca, em suas marquises curvas. Esse conjunto foi o responsável pela transfor-mação da imagem da arquitetura brasi-leira no mundo e por isso a Pampulha foi escolhida como local para realização do terceiro Momento Pé na Estrada.
Essa experiência permitiu aos
viajantes a possibilidade de expor seus pontos de vistas e ressignificar sua compreensão de mundo a partir do olhar dos demais participantes. A viagem esta-beleceu também um maior diálogo entre o conteúdo discutido em sala de aula e o mundo, dando ênfase à importância da atuação do arquiteto na construção de uma cidade, em que todos tenham direito a um espaço mais justo.
O material produzido durante a viagem pôde ser apreciado durante a ExpoMG - Pé na Estrada, realizada entre 22 de junho e 26 de junho na FAU, sob a coordenação da professora Ana Suely Zerbini. O projeto vivencia agora um processo de institucionalização e de aquisição de novas vertentes, como o Pé na Esquina e o Pé com Pé, sem perder de vista a próxima edição, que será no Rio de Janeiro, com as professoras Monica Fiuza Gondim, Luciana Saboia e Gabriela de Souza Tenório. Venha juntar o seu pé com o nosso!
143

pé na esquinabsb monumentalAs a development of the Hit the Road project, the Hit the Block project (Programa Pé na Esquina) aims at prompting the students to experience spaces within the Federal District itself. With a walking tour of the Monumental Scale in Brasilia launching the project, it was possible to instigate the participants’ desire to look around and to arouse their curiosity, also fueled by dialogues between Eduardo Pierrotti Rossetti, the professor and mediator, and the students as they discussed spatial, constructive, historical, and patrimonial issues of the Pilot Project.
Eduardo Pierrotti Rossetti
Dia 23 de maio, um sábado enso-larado, o Pé na Estrada da FAU-UnB realizou a primeira edição do Pé na Esquina. Trata-se de um dos desdobra-mentos das atividades deste núcleo, realizando itinerários, percorrendo ou experimentando espaços que estejam, no máximo, dentro dos limites do próprio Distrito Federal. Este Pé na Esquina BSB Monumental foi o primeiro de uma série voltada para o Plano Piloto de Brasília, que inclui ainda os roteiros: BSB Gregária, BSB Residencial e BSB Bucólica. Este conjunto de itinerários possibilita
discutir as múltiplas complexidades da cidade-capital, pensando in loco sobre questões de arquitetura e urbanismo.
Ao longo de cinco horas – diante de um roteiro aparentemente elementar que partia da Plataforma Rodoviária, passava pelo Conjunto Nacional, CONIC, Touring Club e incluía os espaços públicos da Esplanada dos Ministérios até a Praça dos Três Poderes – foi possível explorar seus espaços e discutir questões espa-ciais, aspectos construtivos, soluções do desenho urbano, questões da história da cidade, da arquitetura e seu tomba-
mento, num diálogo dinâmico, franco e prazeroso com os alunos. À primeira vista, aquilo que poderia parecer óbvio trouxe surpresas. Ao se enfrentar a Escala Monumental com percursos a pé, foi possível instigar o olhar e a curiosi-dade dos alunos, contribuindo para seu processo de formação e revigorando o interesse pela cidade.
Como resultado, aqui está uma pequena seleção das fotografias feitas pelos alunos participantes. As demais fotos podem ser visualizadas no site do Pé na Estrada.
Foto por Bruno Castro.
1/2015144
arqui #4

pé com péciclo de palestrasThe first edition of Hit the Road with Hit the Block project resulted from the desire to consolidate the ties established on the Hit the Road trips and to generate an exchange of ideas with other institutes. On that occasion, 150 students and professors gathered for a series of lectures presented by professors Juca Villaschi, from Ouro Preto, and Frederico de Holanda and Ana Paula Gurgel, from the University of Brasilia. The theme was The Real City x the Heritage City.
A primeira edição do Pé com Pé surgiu em função da terceira edição do Pé na Estrada em Minas Gerais, quando tivemos o primeiro contato com o professor Juca Villaschi. Em Ouro Preto o professor fez uma palestra sobre suas questões atuais e deste encontro surgiu o convite para participar da primeira edição do Pé com Pé. Isso possibilitou abrir a mais nova vertente do Pé na Estrada, com o intuito de gerar uma rede de troca de conhecimentos e ideias com outras instituições, através de palestras e outros eventos. Em 28 de maio foi inaugurado o Pé direito, contando com a presença de mais de 150 participantes, entre eles alunos e professores de arquitetura e turismo, assim como profissionais das áreas e professores da Secre-taria de Educação. O tema dessa edição foi Cidade Real x Cidade Tombada. Além do professor Juca Villaschi, contamos também com as presenças da professora Ana Paula Gurgel e do professor Frederico de Holanda.
Esperamos continuar colocando o Pé com Pé e assim compartilhar mais conhecimento!
AGRADECIMENTOS DO PÉ NA ESTRADA
Tudo isso não seria possível sem a colaboração daqueles que, de forma direta ou indireta, colaboram para que o Pé na Estrada tome pé e prossiga seus cami-nhos. Agradecemos o apoio das professoras coordenadoras da viagem, Ana Paula Gurgel, Camila Sant’Anna e Maria Cecília Gabriele; aos palestrantes Juca Villaschi e Simone Monteiro; ao professor coordenador de extensão Caio Frederico e Silva, ao diretor José Manoel Sanchez, à professora coordenadora da exposição Ana Suely Zerbini; ao professor Eduardo Pierrotti Rossetti, que coordenou o Pé na Esquina, e a todos os funcionários, especialmente Soemes Barbosa.
Bárbara Gomes, Bárbara Morais, Brenda Oliveira, Brenda Pamplona, Frederico Maranhão, Isabella Rodrigues, Marina Rebelo
145

LE

GA
RIALE

26ª festa da arquitetura
Fotos de Natália Castanho
1/2015148
arqui #4


Kildery Reis, homenagem da fotógrafa.




brasília pantone
Gabriela Bílá e Marilia Alves
download do e-bookissuu.com/onovoguiadebrasilia
Qual a cor de Brasília? O projeto Brasília Pantone é um registro fotográfico
das diferentes escalas cromáticas da cidade (projetadas ou construídas pelo acaso), que investiga como a paleta de cores urbana transforma nossa experiência de viver em Brasília.
Esta é uma seleção de pontos coloridos espalhados por diferentes áreas e objetos urbanos de Brasília, com seus correspondentes códigos no sistema de padronização PANTONE. Todas as cores retratadas são emolduradas pela paleta-base brasiliense: o azul celeste e o verde das árvores.
Este trabalho foi desenvolvido pela então aluna Gabriela Bílá (concepção e projeto gráfico) e pela arquiteta Marilia Alves (fotografia), sendo apresentado em exposição na galeria da BSB Memo e em livro digital.
1/2015154
arqui #4



Vermelho Barro
1665 C



Cinza Asfalto
424 C

PANTONE
383 C


HO
GEMMENA

lago

O Lago Paranoá é um grande espelho colocado artificialmente no Planalto Central cuja orla, nas palavras de Lucio Costa no Relatório do Plano Piloto de Brasília, deveria ser “preservada intacta, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica para os passeios e amenidades bucólicas de toda a população urbana”. Livre, a orla criaria a possibili-dade de reflexão e preservação do vazio necessária para contemplação da obra arquitetônica da cidade, característica compositiva tão cara aos modernistas.
Infortunadamente, apesar de estar em local central da metrópole, o lago é paisagem distante, pouco presente na vida da maioria da população metropo-litana que cresce às margens de sua bacia hidrográ-fica. As grandes distâncias do urbanismo moderno, ao lado de uma lógica urbana que beneficia os mais ricos, transporte público deficitário e o descaso dos governantes, tornou o lago espaço de lazer pouco inserido no cotidiano dos brasilienses. Raros são os pontos públicos da orla que não foram invadidos e que apresentam equipamentos públicos necessários
This edition of ARQUI, which celebrates the Paranoá lake, renders also an homage to the urban ensemble of Brasília, a world heritage site, and to the enchanting skies of central Brazil, that can now be better admired from the public waterfront of the great mirrored surface of water, mythically leveled at 1000 meters of altitude.
Texto de Luiz Eduardo SarmentoImagens das seções elaboradas por Ana Rein a partir de fotos originais do Arquivo Brasília e do CEDOC/UnB
à ocupação pela população que busca desfrutar, na cidade imaginada por Lucio Costa, do seu trecho que deveria ser mais bucólico.
Porém, as cercas começaram a cair e o sonho de uma orla pública pode estar mais próximo de ser realidade. Há algo de simbólico na desobstrução da orla. Em uma cidade em que trator só era visto derrubando construções irregulares nos redutos da população mais empobrecida, a devolução da área nobre (invadida pelos ricos) à coletividade é uma ponta de esperança de que a cidade será para todos.
Esta edição, que celebra o Lago Paranoá, também homenageia o conjunto urbanístico, patrimônio da humanidade, e o deslumbrante céu do Brasil central que, com a orla pública, poderão ser melhor aprovei-tado no grande espelho d’água nivelado miticamente na altitude de mil metros.

“[...] A todas essas riquezas offere-cidas ao homem laborioso, n’esse centro do Planalto, juntam-se mais os recursos e a vantagem que lhe proporcionarão ainda abundantes aguas piscosas. Entre os dous grandes chapadões, conhecidos na loca-lidade pelos nomes de Gama e Parnaua, existe imensa planicie em parte sujeita a ser coberta pelas aguas da estação chuvosa; outr’ora era um lago devido à juncção de differentes cursos d’água formando o Rio Parnaua; o excedente d’esse lago atraves-sando uma depressão do chapadão acabou, com o carrear dos saibros e mesmo das pedras grossas, por abrir n’esse ponto uma brecha funda, de paredes quasi verticaes, pela qual precipitam-se hoje todas as aguas d’essas alturas. É fácil compreender que, fechando essa brecha com uma obra de arte (dique ou tapagem provida de chapeletas e cujo comprimento não exceda 500 a 600 metros, nem a elevação 20 a 25 metros), forçosamente, a agua tornará ao seu logar primitivo, e formará um lago navegavel em todos os sentidos n’um comprimento de 20 a 25 kilometros sobre uma largura de 16 a 18.
Além da utilidade da navegação, a abundancia do peixe, que não é de somenos importancia, o cunho de aformoseamento que essas bellas aguas correntes haviam de dar à nova Capital, despertariam certa-mente a admiração de todas as nações. Como exemplo e ponto de comparação, lembrarei a formosa bahia de Botafogo, no Rio de Janeiro, o lago de Genebra, na Suissa, que dá vida e frescura a essa grande cidade; o mesmo se daria com o valle do Rio Torto e do Gama, quando transformado em lago. A vista panorâmica das collinas circunvizinhas, posto que já de incompa-ravel esplendor no seu raio de 30 kilome-tros, sem a menor interrupção, prendendo no mesmo logar o espectador maravilhado, mais majestosa ainda se tornaria com tão grande lençol d’água banhando-lhes a base, vivificando todos os contornos e deleitando a vista. Accresce a isso a parte industrial aproveitada, infallivelmente, pelos homens intelligentes, quer quanto a iluminação electrica da cidade, quer quanto a mil outros interesses relativos à força motora.”
Fonte: Notícia sobre Botanica Applicada pelo Dr. A. Glaziou. In: COMISSÃO DE ESTUDOS DA NOVA CAPITAL DA UNIÃO. Relatório parcial apresentado ao Exm. Sr. Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires. Rio de Janeiro: C. Schmidt, 1896. F. 3-F.13.
relatório de glaziou


“[...] olhe para o céu de Brasília, ele é espetacular! Apanágio de uma geografia única, de fato o céu do Planalto Central é espetacular! Contudo, será que basta ficar olhando para as nuvens, contemplando alvoreceres ou fotografando o pôr-do-sol?
[...] É possível garantir a todos o desfrute desse firma-mento esplendoroso que as fadas madrinhas outorgaram a Brasília? Há locais privilegiados para se curtir o céu de Brasília? E, muito importante do ponto de políticas urbanas, há como garantir a proteção das condições particulares que tornam tais locais especialmente aptos a garantir o prazer de comungarmos com o céu de Brasília?Sim, é possível tombar o céu de Brasília. Nosso encontro com ele alcança sua plenitude às margens do Lago Paranoá. Arriscando-se a fazer má poesia, o céu brasiliense adora dar um mergulho no Paranoá.
brasília: olhai pro céu, olhai pro lago
Muito se fala sobre a privatização do Paranoá. Apesar da versão ingênua que coloca toda a culpa na ganância da especulação imobiliária, tal privatização é antiga. É fruto da implantação de bairros residenciais que reser-varam as melhores localizações para as camadas mais abastadas da população, nos quais a Novacap concedia gratuitamente lotes para ministros, senadores, deputados e servidores públicos do alto escalão. E está concretizada no seu próprio traçado viário e parcelamento do solo, criando lotes à beira-lago e neles permitindo edificações particulares. A previsão de estreitos corredores de acesso ao espelho d’água e de faixas non-aedificanti nos terrenos fronteiriços são meros recursos de retórica para camuflar a apropriação indébita iniciada ainda antes da inauguração da cidade. [...]

Trecho de Brasília: olhai pro céu, olhai pro chão
Sylvia Ficher e Eduardo Pierrotti Rossetti
Publicado no jornal Correio Braziliense em Maio de 2014
A orla do Paranoá clama por cultura e lazer! Já existem uns poucos exemplos para nos servir de inspiração. Veja-se a prainha da Asa Sul, o piscinão do Lago Norte, o calçadão da Asa Norte. Ou o pontão do Lago Sul; descontado seu malfadado pastiche de arco do triunfo, lá se encontra um excelente ambiente para se apreciar o firmamento brasiliense. Sempre apinhados, estes locais são realmente públicos e favoráveis à nossa fragilizada escala gregária. Recebem democraticamente as mais diversas tribos, ao mesmo tempo em que dão uma lição de como investi-mentos tão baixos podem resultar em apropriação tão intensa! Estão pedindo apenas um pouco de carinho das autoridades. Ou seja: menos poluição das águas e mais equipamentos, mais paisagismo, mais segurança e mais acesso, seja por linhas de ônibus ou de barcos.”


as águas do paranoánão correm para o mar viram nuvens e ficam paradas no arNicolas Behr

A772 Arqui / José Manoel Morales Sánchez, editor ; Maria Fernanda Derntl,
editora executiva. – n. 4 (dez. 2015). – Brasília : Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2015.
172 p. ; 30 cm.
Semestral
ISSN 2358-5900
1. Arquitetura. 2. Urbanismo I. Morales Sánchez, José Manoel (ed.). II. Derntl, Maria Fernanda (ed.).
CDU 72:911.375.5(05)

Universidade de Brasília
Reitor: Ivan Marques de Toledo CamargoVice-reitora: Sonia BáoDecana de extensão: Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB
Diretor: José Manoel Morales SánchezVice-diretora: Luciana Saboia Fonseca CruzCoordenador de pós-graduação: Marcos Thadeu Queiroz Magalhães
ARQUI é uma publicação semestral da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UnB
EDITOR – José Manoel Morales SánchezEDITORA EXECUTIVA – Maria Fernanda DerntlCONSELHO EDITORIAL – Andrey Rosenthal Schlee, Benny Schvarsberg, Cláudio José Pinheiro Villar Queiroz, Elane Ribeiro Peixoto e Luiz Alberto GouvêaEQUIPE EDITORIAL DA REVISTA – Ana Rein, Caio Frederico e Silva, Eduardo Pierrotti Rossetti (Coordenação de Ensaio Teórico), Gabriela Bílá, José Manoel Morales Sánchez, Luiz Eduardo Sarmento, Maria Fernanda Derntl e Paola Caliari Ferrari Martins (Coordenação de Diplomação)COORDENAÇÃO EDITORIAL – Maria Fernanda DerntlCOMISSÃO DE DIPLOMAÇÃO – Bruno Capanema, Cláudia da Conceição Garcia, Luciana Saboia Fonseca Cruz, Paola Caliari Ferrari MartinsCOMISSÃO DE ENSAIO TEÓRICO – Cláudia da Conceição Garcia, Maria Cecília Gabriele e Eduardo Pierrotti RossettiPROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO – Gabriela Bílá (O Novo Estúdio de Brasília) e Luiz Eduardo Sarmento REVISÃO EDITORIAL – Ana ReinREVISÃO ORTOGRÁFICA – Sueli DunckTRADUÇÃO INGLÊS – Maria Luisa Flynn
REFERÊNCIA IMAGENS DA CAPA E SEÇÕESImagens extraídas do livro KIM, Lina; WESELY, Michael. Arquivo Brasília. São Paulo: Cosac Naify, 2010.pág. 03: CEDOC/UnBpág. 09: CEDOC/UnB (fotógrafo desconhecido)pág. 33: CEDOC/UnB (fotógrafo desconhecido)pág. 161: CEDOC/UnB (fotógrafo desconhecido)
IMPRESSÃO – Gráfica Brasil
© Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnBUniversidade de Brasília, Instituto Central de Ciências – ICC Norte, Gleba A, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília DF, Brasil 70904-970tel. (+55) 61.3107.6630 fax. (+55) 61.3107.7723http://www.fau.unb.br/n° 04 1/2015
As opiniões expressas nos artigos desta revista são de responsabilidade exclusiva dos autores.
www.facebook.com/arquirevistadafauunb - [email protected]


Universidade de BrasíliaFaculdade de Arquitetura e Urbanismo
faunb