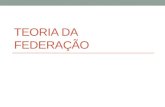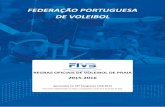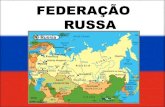ARRETCHE, M. Recentralizando a Federação
-
Upload
karime-fayad -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of ARRETCHE, M. Recentralizando a Federação
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
1/17
69
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
RESUMO
Rev. Sociol. Polt., Curitiba, 24, p. 69-85, jun. 2005
Marta Arretche
QUEM TAXA E QUEM GASTA:A BARGANHA FEDERATIVA NA FEDERAO BRASILEIRA1
Recebido em 10 de dezembro de 2004Aprovado em 18 de maio de 2005
Este artigo analisa as relaes de autonomia e coordenao da federao brasileira, pelo exame da traje-tria das decises em matria fiscal e tributria. Desagrega distintas dimenses da questo e conclui que,na histria brasileira, as disputas federativas deslocaram-se das reas de tributao exclusiva para osistema de transferncias fiscais. Alm disso, o modelo brasileiro tendeu a combinar a descentralizao dereceitas com a centralizao da autoridade sobre as decises de arrecadao e de gasto, isto , a limitaoda autonomia dos governos subnacionais para a regulamentao da cobrana de impostos e do destino dogasto. Mudanas de regime poltico no so suficientes para explicar as mudanas no sistema tributrio e
fiscal; a centralizao decisria e o padro de alianas em cada arena particular permitem melhor explicaressas variaes.
PALAVRAS-CHAVE:federalismo tributrio;transferncias fiscais;barganhas polticas.
A profuso de termos mais ou menos coincidentes a runa da Sociologia
(BENDIX, 1996, p. 49).
I. INTRODUO
Afinal, a federao brasileira centralizada ou
descentralizada? Embora inspirada no modelo nor-te-americano, teria a centralizao imperial afeta-do definitivamente a forma do Estado no Brasil?Ou a Repblica Velha teria tido efeitos de longoprazo, consolidando o poder das elites estaduaisnas decises nacionais? O arranjo institucional queemergiu da Constituio de 1988 concentrou au-
toridade no governo central ou criou um sistemaaltamente consociativo que dispersa a autoridade
e gera problemas de governabilidade?Parte importante da imaginao e do esforo
de pesquisa dos cientistas polticos que se dedi-caram anlise do federalismo brasileiro estdedicada a responder a essas perguntas (cf.CAMARGO, 1993; ALMEIDA, 1995; 2001; SOU-ZA, 1997; ABRUCIO, 1998; STEPAN, 1999;PALERMO, 2000; ARRETCHE, 2002; 2004). Esteartigo pretende ser mais uma pequena contribui-o a esse debate.
Como afirmou Stepan (1999), todas as fede-
raes restringem o poder central, devido duplasoberania do governo federal e dos governoslocais2 que a caracterstica bsica dessa for-ma de Estado (WHEARE, 1964; RIKER, 1975;LIPJHART, 1984; 1999). A dupla soberania, por
1 Este artigo beneficiou-se de pesquisa realizada para oprojeto Taxation Perspectives. A Democratic Approach to
Public Finance in Developing Countries, em parceria comAaron Schneider, financiado pelo Institute of DevelopmentStudies. Beneficiou-se ainda de apoio fornecido pelo Con-selho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico(CNPq), sob a forma de Bolsa de Produtividade em Pes-quisa, bem como auxlio a projeto de pesquisa, do EditalCincias Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas de 2003.Uma primeira verso foi apresentada no Grupo de Traba-lho de Polticas Pblicas do XXVII Encontro Nacional daAssociao Nacional de Pesquisa e Ps-graduao em Ci-ncias Sociais (Anpocs). Agradeo a Aaron Schneider, MariaHermnia Tavares de Almeida e Eduardo Marques peloscomentrios e sugestes que muito contriburam para estareviso.
2 No caso brasileiro posterior a 1988, seria mais precisofalar em tripla soberania, dado que governos estaduais emunicipais so constitucionalmente entes federativos au-tnomos. Neste ponto, entretanto, estou me concentrandono conceito de federalismo, tal como tratado pela literaturasobre formas de Estado.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
2/17
70
QUEM TAXA E QUEM GASTA
sua vez, est garantida tanto pelas regras consti-tucionais quanto pelo desenho das instituiespo l ticas 3 (RIKER, 1975; DAHL, 1986;LIPJHART, 1984; 1999; STEPAN, 1999). Toda-via, os estudos empricos tm revelado grandevariao entre as federaes no que diz respeito extenso da autoridade do governo central(STEPAN, 1999).
Contudo, os estudos empricos sobre centra-lizao-descentralizao nas federaes so, re-gra geral, pouco conclusivos e convincentes de-vido, em grande parte, dificuldade em estabele-cer critrios precisos de classificao. A primeiragrande dificuldade diz respeito superposio dedimenses de autoridade em anlise. A distribui-o de competncias, a distribuio de recursos
tributrios e fiscais, assim como os mecanismosinstitucionais de representao da vontade polti-ca das elites locais, estaduais ou centrais, consti-tuem dimenses distintas e independentes de dis-tribuio de autoridade. Entretanto, muitos estu-dos supem uma relao de estreita dependnciaentre elas.
Com freqncia, considera-se que adescentralizao fiscal pode ser interpretada comouma evidncia suficiente do poder das elites regi-onais. Se isso verdade, como explicar que, porexemplo, no Japo e na Sucia estados unitrios
a participao dos governos locais no total dogasto seja superior a de federaes como a Aus-trlia e a Blgica (LIPJHART, 1999, p. 220)?Rodden (2005) examinou uma amostra de 29 pa-ses federais e unitrios e concluiu em ambosh uma tendncia geral em direo descentralizao fiscal. Mais que isso, as federa-es no se distinguem dos estados unitrios noque diz respeito dependncia de transferncias,isto , nos casos em que um nvel de governoopera como arrecadador substituto dos demais.Portanto, no h nada de especfico nos sistemas
tributrio e fiscal das federaes que as distingados estados unitrios.
Adicionalmente, se a distribuio de compe-
tncias e a distribuio vertical de poder esto li-nearmente relacionadas, como explicar adescentralizao de competncias na Inglaterra,clssico modelo de democracia majoritria, e naItlia dos anos 1970 (PUTNAM, 1996)4? Trataressas dimenses de autoridade quanto a com-petncias, tributos e poltica como independen-tes permitiria tornar mais precisas as anlises so-bre federalismo e descentralizao, tornando ob-viamente mais confiveis as concluses obtidasde tais estudos.
Uma segunda grande dificuldade refere-se anlise da distribuio de competncias e recur-sos. Diferentemente de uma ntida e clara distri-buio vertical de autoridade, as federaes emsua existncia real assemelham-se a um bolo
marmorizado (ELAZAR, 1991), em que acomplementariedade e a interdependncia so ascaractersticas mais freqentes. Adicionalmente,as competncias cuja autoridade pode ser atribu-da aos diversos nveis de governo so diversas,tais como sade, educao, assistncia etc. Omesmo pode ser dito em relao questo tribu-tria e fiscal, que envolve a autoridade para arre-cadar tributos, para gast-los, para obter emprs-timos etc. Uma estratgia para superar essas difi-culdades consiste em utilizar os conceitos de au-tonomia e de mecanismos de coordenao para
identificar as relaes entre os nveis de governocom relao s distintas dimenses de autoridadeacima mencionadas. Teriam os governos regio-nais na Itlia autonomia para atender as demandasde seus cidados ou a descentralizao estudadapor Putnam consistiu apenas em uma transfern-cia de atribuies, sem autonomia decisria?
Este artigo pretende ser uma contribuio anlise do federalismo brasileiro, concentrando-se na anlise das decises de natureza fiscal e tri-butria. Essa uma dimenso muito importantedas disputas entre nveis de governo nos estados
nacionais, sejam eles federais ou unitrios. Se adistribuio vertical de autoridade uma questocentral nos pactos nacionais, a autoridade sobrerecursos tributrios est entre as mais importan-
3 As instituies mais clssicas de garantia do arranjofederativo so as cmaras de representao dos estados e aautoridade do poder Judicirio para dirimir conflitos entreos distintos nveis de governos. Nos Estados Unidos, porexemplo, existe a instituio dos senados estaduais, pararepresentar os governos locais.
4 Lipjhart (1984; 1999) define como consociativas as de-mocracias cujas instituies polticas so desenhadas demodo a compartilhar, dispersar e limitar o poder do gover-no central.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
3/17
71
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
tes dessas decises. Migdal (1988) argumentouque a capacidade de extrair recursos da socieda-de e gast-los de maneira autnoma constitui umadimenso central da capacidade de os estadosnacionais fazerem-se obedecer, na medida em quedefine sua possibilidade de formular e implementarpolticas de modo autnomo, independentementedos interesses privados. O argumento pode serestendido s relaes intergovernamentais, querem estados federativos, quer em unitrios. A au-tonomia dos governos para tomar decises derivaem boa medida da extenso em que detm autori-dade efetiva sobre recursos tributrios e/ou fis-cais. Governos desprovidos de autonomia paraobter por meio da taxao recursos, em mon-tante suficiente para atender minimamente s de-mandas de seus cidados, tendem a incorporar sua agenda as orientaes polticas do nvel degoverno ou agente privado, ou ainda organismointernacional que de fato tem controle sobre taisrecursos. Simetricamente, governos dotados deautoridade sobre recursos tributrios tm maiscondies de definir com autonomia sua prpriaagenda de governo5. Alm disso, os governos lo-cais podem contar com recursos para atender sdemandas de seus cidados, mas dispor de limita-da autonomia para definir sua prpria agenda,porque suas polticas so financiadas basicamen-te com transferncias vinculadas. No h dvida
de que essas motivaes esto no centro das dis-putas nacionais pelos recursos tributrios e fis-cais. Assim, a anlise do resultado dessas dispu-tas pode ser um objeto relevante para o exame dograu de centralizao em uma federao.
A viso mais comum sobre a federao brasi-leira toma as variaes na distribuio de recur-sos tributrios como evidncias de suas sstolese distoles expresso empregada por Golberydo Couto e Silva para descrever nossa federao.Esses sucessivos ciclos de centralizao edescentralizao fiscal seriam explicados pelasvariaes de regime poltico. Assim, a RepblicaVelha caracterizou-se pela descentralizao fiscal,
seguida pela centralizao do Estado Novo, quefoi, por sua vez, sucedido por novadescentralizao fiscal no perodo democrtico de1946-1964. Finalmente, a radical descentralizaofiscal da Constituio de 1988 seria uma reao centralizao fiscal do regime militar (OLIVEIRA,1995; SOUZA, 1997; SERRA & AFONSO, 1999).Essa descrio da evoluo dos sistemas tribut-rio e fiscal sugerem rupturas, baseadas fundamen-talmente nas mudanas de regime poltico. Comomecanismo explicativo, nos perodos deautoritarismo, as elites centrais suprimiriam a ca-pacidade de vocalizao de interesses das elitesestaduais e locais. Na democracia, as ltimas teri-am recuperados os espaos polticos que permiti-riam impulsionar seus interesses, impondo per-das fiscais ao governo central (CAMARGO, 1993;ABRUCIO, 1998).
Uma primeira contribuio deste artigo con-siste em demonstrar que um exame mais detalha-do da evoluo dos sistemas tributrio e fiscalbrasileiros, levando em conta suas mltiplas di-menses, indica antes uma lenta evoluo(VARSANO, 1996, p. 19), em que o contedodas disputas alterou-se medida que o sistematributrio consolidou-se. Nas primeiras assembli-as nacionais constituintes (ANCs), j sob o siste-ma federativo em 1890 e 1934 , os grandes
debates concentraram-se nas reas de atividadeque cada nvel de governo teria autoridade exclu-siva para tributar. A partir da ANC de 1934, osgrandes embates disseram respeito ao sistema detransferncias fiscais. Na verdade, um exame maisdetido da evoluo do sistema tributrio brasileirorevela que apenas a Constituio de 1988 operoude fato mudanas expressivas em relao ao statusquo.
Este artigo pretende ainda apresentar uma in-terpretao alternativa dos regimes polticos paraa evoluo dos sistemas tributrio e fiscal brasi-
leiro. Argumento que as assemblias nacionaisconstituintes ou os perodos de intensa produolegislativa nas reas tributria e fiscal podem serentendidos como arenas decisrias especficas.Elas constituram-se em momentos crticos, emque o leque de alternativas permitiria produzir al-teraes significativas ao status quo.Entretanto, medida que o sistema tributrio e fiscal brasilei-ro amadureceu, elevaram-se os custos de umaeventual mudana de sua estrutura bsica, dadostanto os investimentos envolvidos na instalao
5 EmA Era do Saneamento, Gilberto Hochmann (1998)mostra que a assimetria de recursos e capacidades estataisentre o estado de So Paulo e os demais estados da federa-o foi um elemento central na definio do desenho da
poltica nacional de sade publica no final da Primeira Re-pblica.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
4/17
72
QUEM TAXA E QUEM GASTA
das mquinas arrecadadoras quanto os custospolticos envolvidos na supresso de fontes dereceita6. Tais fatores afetaram os clculos e asestratgias dos legisladores. Assim, no aredemocratizao que explica a descentralizaofiscal da Constituio Federal de 1988, mas asdeliberaes da Assemblia Nacional Constituin-te. Se a dinmica de sucesso dos ciclos acimaapresentada fosse suficiente para explicar as de-cises em matria tributria, como explicar que ogoverno central foi bem-sucedido em diversasestratgias de recentralizao fiscal nos anos 1990?No a democr ac ia que expl ica a reaocentralizadora do governo central posterior a 1988,mas as deliberaes do Congresso Nacional bra-sileiro.
Examinar as deliberaes das assemblias cons-tituintes nessa poltica setorial no uma novida-de na literatura brasileira. Este artigo pretende darcontinuidade aos trabalhos que exploraram os efei-tos dessas arenas decisrias sobre a evoluo dossistemas tributrio e fiscal (LEME, 1992; COS-TA, 1994; SILVA, 1994; SOUZA, 1997; MELO,2002).
II. EVOLUO DOS SISTEMAS TRIBUTRIOE FISCAL
H pelo menos seis dimenses distintas da dis-
tribuio intergovernamental da autoridade tribu-tria e fiscal que tm sido estudadas pelos analis-tas, a saber:
a) definio das reas de tributao exclusiva(VARSANO, 1996; SOUZA, 1997; WILLIS,GARMAN & HAGGARD, 1999; REZENDE,2001; LOPREATO, 2002);
b) autonomia dos nveis de governo para legislarsobre seus prprios tributos (AZEVEDO &MELO, 1997; SERRA & AFONSO, 1999;MELO, 2002).;
c) autoridade tributria sobre o campo residual(STEPAN, 1999; SCHNEIDER, 2001);
d) sistema de transferncias fiscais (GOMES &MACDOWELL, 1997; PRADO, 2001;REZENDE & CUNHA, 2002);
e) vinculao de gasto das receitas (MEDEIROS,
1986; PRADO, 2001) e
f) autonomia para obteno de emprstimos7
(VARSANO, 1996).
Com freqncia, as anlises sobre a evoluode nosso sistema tributrio concentram-se emapenas uma dessas dimenses; quando as tratamem conjunto, desconsideram suas especificidades.Esse tratamento tem duas conseqncias analti-cas. A primeira a concluso j mencionada deque a evoluo do sistema seria caracterizada porciclos sucessivos de centralizao edescentralizao, ignorando as dimenses espe-cficas de ruptura e/ou continuidade. Assim fa-zendo, torna-se difcil identificar quais questesespecficas foram objeto de disputa federativa. Asegunda conseqncia deriva dessa primeira: como
explicar os fatores que explicam os pactos fede-rativos nas reas tributria e fiscal se o prprioobjeto da disputa no est claramente identifica-do? As alternativas apresentadas em cada perodode produo legislativa so afetadas pelas deci-ses anteriores, seja pela avaliao de seus resul-tados (SKOCPOL, 1992), seja pelos custos parareverter os investimentos j realizados para aimplementao de decises anteriores (PIERSON,2000). Como investigar esses mecanismos semidentificar claramente que dimenses da autorida-de tributria e fiscal foram objeto de disputa?
Argumento que, para melhor entender a evo-luo das disputas federativas em torno da autori-dade tributria e fiscal, til examinar separada-mente a evoluo das decises tomadas com rela-o a estas distintas dimenses. Adicionalmente, tambm frutfero examinar sua interdependncia,isto , o fato de que a deciso tomada com rela-o a uma afeta as alternativas em relao s de-mais.
II.1. reas de tributao exclusiva
Desde sua origem, na Constituio de 1891, afederao brasileira adotou o regime de separaodas fontes tributrias. A primeira Constituio Fe-deral previu reas de tributao exclusiva apenaspara a Unio e os estados. Por sua vez, a segundaConstituio Federal, em 1934, estabeleceu im-postos exclusivos dos municpios. A partir de en-
6 Sobre o impacto das decises passadas nas decises dosatores, ver Pierson (2000).
7 Essa dimenso no ser examinada neste artigo devido dificuldade de coleta de dados e informaes.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
5/17
73
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
to, a distribuio das reas de tributao exclusi-va alterou-se pouco na evoluo do sistema tribu-trio brasileiro. Nessa dimenso particular, mu-danas lentas e graduais caracterizam os pactosfederativos nas diversas constituies federais(VARSANO, 1996, p. 19). Em outras palavras,no caso brasileiro, a expanso da capacidade dearrecadao da Unio no foi derivada da supres-so de reas de tributao exclusiva dos estados emunicpios.
Na verdade, o papel da Unio como principalarrecadador foi historicamente o resultado demudanas no perfil da arrecadao operadas a partirdos anos 1940. Os impostos com base no merca-do interno particularmente o Imposto de Renda(IR), que era um imposto federal desde 1923
passaram a responder por parcela maior no totalda receita tributria do que os impostos baseadosno setor externo sobre o qual incidiam os im-postos estaduais (LOPREATO, 2002, p. 25). Namesma direo, a expanso da capacidade de ar-recadao tributria da Unio a partir de meadosda dcada de 1960 decorreu basicamente da raci-onalizao dos impostos federais, acompanhadade ganhos em eficincia na mquina arrecadadorafederal (VARSANO, 1996, p. 9).
Ainda que intensas disputas tenham sido tra-vadas em torno dessa dimenso da autoridade tri-
butria at meados dos anos 1940, o exame dasdecises constitucionais revela que rarssimasforam as situaes em que a expanso da capaci-dade de arrecadao de um nvel de governo fez-se s custas da supresso de fontes de autoridadetributria de um outro nvel de governo (ver Qua-dro 1).
A primeira grande disputa ocorreu, como nopoderia deixar de ser, na Constituio de 1891.Na verdade, a questo da discriminao das ren-das entre a Unio e os estados ser a maislongamente discutida na Assemblia, e foi ela queprovocou as clivagens mais profundas (COSTA,1994, p. 57). As bancadas da regio Nordestehaviam-se articulado em torno de um projeto ra-dical de descentralizao tributria, segundo o qualos estados passariam a ter autoridade exclusivasobre os impostos de exportao e de importa-o, com base no argumento de que o imposto deexportao no lhes forneceria as receitas neces-srias sua autonomia fiscal. Jlio de Castilhos,representante do Rio Grande do Sul, propunha umarranjo ultrafederalista, que reservava aos esta-
dos exclusividade da competncia residual emmatria tributria, assim como estabelecia umaquota-parte para os estados das receitas arreca-dadas pela Unio8. Por outro lado, Rui Barbosaliderou uma aliana da Unio com os estados ex-portadores (So Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-neiro, Bahia, Par e Amazonas) para manter oimposto de importao sob autoridade exclusivado governo central.
Na deciso final da Constituio de 1891, oimposto de importao permaneceu sob autorida-de tributria exclusiva da Unio. Quando compa-rada estrutura do Imprio, a Unio perdeu itensde receita, pois os impostos sobre exportaes,de indstria e profisses e de transmisso de pro-priedade eram privativos da Unio no Imprio e
passaram a ser privativos dos estados na Consti-tuio de 1891 (COSTA, 1994, p. 67-69) (verQuadro 1).
Entretanto, embora tenha perdido reas de tri-butao exclusiva, a proposta da Unio no foiderrotada na Constituinte de 1890. O resultado dadeciso em matria de tributao exclusiva foimuito prximo do projeto apresentado pelo Go-verno Provisrio. Como explicar essa deciso emvista do poder dos estados na Repblica Velha edo contexto de forte reao federalista centrali-zao fiscal do Imprio?
As regras decisrias e a composio da as-semblia explicam esse resultado. O projeto origi-nal foi elaborado por uma comisso liderada porRui Barbosa. Abertos os trabalhos da AssembliaConstituinte, o projeto foi apreciado e emendadopela Comisso dos 21, composta por um repre-sentante de cada estado da Unio. Nessa arena,muitas propostas foram apresentadas, modifican-do o projeto original, quase sempre no sentido dereduzir a competncia da Unio e de ampliar a dosestados (idem, p. 61). Entretanto, no plenrio,composto com base na regra de representaoproporcional populao, foram decisivos osvotos das bancadas dos estados exportadores, SoPaulo em particular, que colocava na Constituinteuma bancada coesa e articulada, [assim como]pesava contra as posies que queriam reduzir ospoderes fiscais da Unio o fato de que tinham suas
8 Observe-se que a proposta de constitucionalizar trans-ferncias federais, adotada pela Constituio de 1946, jestava presente nessa Assemblia Constituinte.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
6/17
74
QUEM TAXA E QUEM GASTA
foras divididas (idem, p. 63).
A nova rodada da disputa federativa pelas re-as de autoridade tributria exclusiva ocorreu nosanos 1930. Em um contexto de generalizado
endividamento dos estados brasileiros, abusiva co-brana do imposto de exportao nas operaesinterestaduais e acentuada crise externa de crdi-to, o Governo Provisrio federalizou as dvidasdos estados em troca da federalizao do Impos-to de Exportao. O comando poltico dos esta-dos entregue a interventores nomeados pelo go-verno revolucionrio garantiram a obedincia medida.
Se as condies particulares de centralizaoda autoridade da Revoluo de 1930 permitiramessa medida, a autoridade exclusiva para taxar as
exportaes voltou a ser um issuena ANC de 1934.O anteprojeto do governo era francamentecentralizador: estabelecia a competncia exclusi-va da Unio sobre os quatro tributos mais rent-veis (consumo, importao, exportao e de ren-da); proibia os impostos interestaduais eintermunicipais; retirava dos estados a competn-cia para tributar a licena predial e urbana, dei-xando-lhes a competncia exclusiva apenas sobreos impostos menos rentveis: de transmisso depropriedade, intervivos e causa mortis, de inds-trias e profisses, cedular de renda e territorial.
Como na ANC de 1891, foi instituda uma comis-so constitucional de representantes dos estados,com 26 membros, cujo relator era da bancadapaulista. O substitutivo apresentado expressava oesforo de uma aliana do relator da bancadapaulista com as bancadas do Nordeste. Propu-nha a supresso gradual do Imposto de Exporta-o, embora boa parte da bancada paulista prefe-risse sua pura e simples extino (dado seu car-ter anti-econmico na conjuntura recessiva dosanos 1930) e as bancadas do Nordeste no admi-tiam abrir mo dessa fonte de receita. Propunha
ainda que, como compensao fiscal, os impos-tos sobre Vendas e Consignaes (IVC), sobre oconsumo de gasolina e combustveis de motores exploso passassem para a competncia exclu-siva dos estados, deixando para a Unio os im-postos de importao, consumo, renda e circula-o. No plenrio, entretanto, a proposta da su-presso gradual do imposto de exportao foi du-ramente criticada, tanto pelas bancadas do Nor-deste quanto por representantes da bancadapaulista. Elas argumentavam que qualquer das pro-
postas privaria os estados de 40% de suas recei-tas (SILVA, 1994, p. 28-35).
A parcela da bancada paulista favorvel extino do Imposto de Exportao cedeu para
obter a adeso das bancadas do Nordeste, pois oprojeto do Governo Provisrio contava com oapoio dos representantes classistas. Na decisofinal, o Imposto de Exportao permaneceu sobautoridade exclusiva dos estados, mas seu valorno podia exceder 10% ad valoreme sem direitoa adicionais (idem, p. 34) (ver Quadro 1). Esseresultado menos explicado pelo ambiente de re-ao oligrquica s medidas centralizadoras daRevoluo de 1930 e mais explicado pela alianadas bancadas paulista e dos estados do Nordesteem 1934 (GOMES, 1980, p. 50; SILVA, 1994, p.
28-35). A proposta aprovada no coincidia comas propostas originais de nenhuma das duas ban-cadas. Na verdade, ambas as bancadas agiramestrategicamente ao alterar suas propostas origi-nais. A razo para essa deciso est na composi-o do plenrio da ANC de 1934. O Cdigo Elei-toral de 1932, que adotou pela primeira vez noBrasil o princpio de desproporcionalidade da re-presentao, juntamente com a eleio da banca-da classista, explica porque So Paulo e os esta-dos do Nordeste aliaram-se para derrotar a Unionesse item especfico.
A derrota em 1934 sinalizou para o governofederal os custos polticos de suprimir fontes detributao dos estados, razo pela qual a centrali-zao poltica do Estado Novo teve nulo efeitosobre o regime de separao de fontes tributrias(idem, p. 37-45). Entretanto, plausvel suporque, naquele contexto, no havia fortes razespara subtrair capacidade de arrecadao dos esta-dos, de vez que o governo central controlava ocomando poltico nos estados, via nomeao dosinterventores, bem como tinha grande controlesobre a gesto das polticas via Departamento
Administrativo do Servio Pblico (DASP). Con-tudo, derrotado na ANC de 1934, Getlio Vargasinstituiu em 37 um Conselho Supremo que garan-tia Unio a coordenao da poltica econmica etributria nacional. Juntamente com as decisesda Constituio de 1934, essa deciso implicou afederalizao da autoridade para legislar sobre osimpostos dos governos subnacionais, dimenso aser examinada com mais detalhe no item II.2, aseguir.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
7/17
75
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
As constituies posteriores indicam que, apartir da Constituio de 1934, assim como dessadeciso de Getlio Vargas em 1937, a disputa fe-derativa por fontes de receita tendeu a deslocar-se das reas de tributao exclusiva para a dastransferncias fiscais. Os constituintes de 1946no concentraram seus debates em torno de umanova modalidade de repartio de receitas, prefe-rindo debater intensamente a fragilidade das re-ceitas municipais como uma evidncia da fragili-dade de nosso federalismo (ibidem). Consolidadoo regime de separao de fontes tributrias, umadas principais inovaes da Constituio de 1946foi a adoo de um sistema de transferncias fis-cais, pelo qual um nvel de governo est consti-tucionalmente obrigado a transferir parte de suasreceitas a outro, dimenso a ser examinada commais detalhe no item II.3.
Argumenta-se que a reforma tributria de1965-1967 suprimiu autoridade tributria dos go-vernos estaduais, porque transferiu o Imposto deExportao dos estados para a Unio (ver Quadro1). Na verdade, essa transferncia teve bem me-nos impacto do que se lhe atribui. Nos anos 1960,o Imposto de Exportao perdera importncia nasreceitas estaduais para o Imposto sobre Vendas eConsignaes. J em 1942, esse imposto repre-sentava menos de 6% do total da receita tributria
dos estados, ao passo que o IVC representava43,5% (LOPREATO, 2002, p. 26). Na reformado regime militar, o IVC foi transformado em ICM(Imposto sobre Circulao de Mercadorias), per-manecendo sob autoridade exclusiva dos estados.Logo, a reforma no significou uma imposiosignificativa de perda de reas de tributao ex-clusiva para os estados.
A deciso de manter o ICM sob arrecadaoexclusiva dos estados no foi derivada de restri-es de ordem institucional. A reforma foi elabo-rada por uma equipe tcnica em gabinetes
(VARSANO, 1996, p. 50-53) e sua aprovao foipossvel devido ao fato de encontrar menos obs-tculos institucionais e polticos, bem assim me-nos resistncia por parte de interesses criados [...](FGV, 1967, p. 172). Na verdade, h razes paracrer que o clculo foi poltico. Desde o golpe mi-litar em abril de 1964 at o Ato Institucional n.2, em outubro de 1966 quando foram suspensasas eleies diretas para a Presidncia da Repbli-ca, governadores e prefeitos das cidades de m-dio e grande porte , o governo revolucionrio
buscou manter o apoio das lideranas conserva-doras civis que governavam os estados. Para tan-to, a reforma tributria implantada at 19679 limi-tou-se a suprimir apenas o Imposto de Exporta-o dos estados, deixando a seu cargo a arreca-dao do ICM, mas restringindo sua autonomiapara legislar sobre o ltimo.
A nica alterao efetivamente significativanessa dimenso ocorreu na Constituio de 1988,em que a taxao sobre combustveis, energia el-trica, transportes, minerais e comunicao foitransferida da Unio para os estados.
Portanto, a expanso na arrecadao da Uniona histria do sistema tributrio brasileiro no ocor-reu s custas da supresso de reas de tributaoexclusiva dos governos estaduais e municipais.
At 1988, as sucessivas modificaes na nature-za do regime poltico no implicaram mudanassignificativas na distribuio intergovernamentaldas fontes exclusivas de tributao. A deciso dosconstituintes em 1988 de transferir os impostosnicos federais sobre eletricidade, produtos mi-nerais, combustveis e lubrificantes, servios decomunicaes e transportes, incorporando-os base de tributao do Imposto sobre Circulaode Mercadorias e Servios (ICMS), foi antes aexceo do que a regra na histria do sistema tri-butrio brasileiro.
No perodo posterior a 1988, nenhuma altera-o significativa ocorreu nessa dimenso do sis-tema tributrio. Nesse sentido, pouco precisoafirmar como feito correntemente que teriaocorrido uma centralizao da autoridade tribut-ria ao longo dos anos 1990. Nesse perodo deacordo com a tendncia histrica , as reformasna rea tributria no ocorreram s custas da su-presso de reas de tributao exclusiva de esta-dos e/ou municpios. Os custos polticos de im-por perdas dessa magnitude aos estados e muni-cpios so muito elevados. Mas reitero issono novidade na histria do sistema tributriobrasileiro. Nem durante o Estado Novo e nemmesmo no regime militar perodos de maior cen-
9 O novo sistema foi implantado paulatinamente entre1964 e 1966: uma Emenda Constitucional n. 18/65 ,que, com algumas alteraes, incorporou-se ao texto daConstituio de 1967, e o Cdigo Tributrio, aprovado pormeio de Lei ordinria em 1966, foram os principais docu-mentos da reforma.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
8/17
76
QUEM TAXA E QUEM GASTA
tralizao federativa reformas dessa magnitudeforam adotadas. Alm disso, medida que essaestrutura de separao de fontes tributrias con-solidava-se, os custos organizacionais e polticosde alteraes dessa ordem tambm se tornaramcrescentemente elevados.
II .2. Au to ri dade tr ib ut r ia dos govern ossubnacionais sobre os prprios impostos
distribuio intergovernamental das fontestributrias deve-se agregar a autonomia de quedispe cada nvel de governo para legislar sobreseus prprios tributos. Vimos acima que a autori-dade tributria permaneceu descentralizada e re-lativamente inalterada ao longo da histria do sis-tema tributrio brasileiro. Entretanto, a autoridadedos estados e municpios para legislar sobre seus
prprios impostos foi limitada durante todo o pe-rodo do Estado desenvolvimentista.
As Constituies de 1934 e 1946, assim comoa do Estado Novo (1937), tenderam a reduzir aautonomia tributria dos estados sobre o Impostode Exportao para evitar que seu uso abusivoafetasse a competitividade dos produtos brasilei-ros no exterior e a integrao do mercado interno.Essa deciso foi fortemente afetada pelo contextorecessivo do mercado internacional nos anos 1930.Na Constituinte de 1934 foi resultado do compro-
misso da bancada paulista, que pretendia, na ver-dade, a supresso desse imposto. De qualquermodo fosse na ANC de 1934, fosse no EstadoNovo, fosse, ainda, na ANC de 1946 , a compe-tncia exclusiva dos estados sobre o Imposto deExportao foi acompanhada da limitao consti-tucional para regulamentar os termos de sua co-brana. Mais do que isso, um tema fortementedebatido na ANC de 1946 foi a diversidade demodalidades de regulamentao dos impostos co-brados pelos estados e municpios (SILVA, 1994,p. 55). interessante observar que os mesmosconstituintes que demandavam, em nome dosprincpios federativos, a elevao das receitas tri-butrias municipais, denunciavam, em nome domesmo princpio, a autonomia dos entes federati-vos para regular seus prprios impostos.
Contudo, ambas as assemblias constituintesautorizaram as constituies estaduais a estabele-cer as alquotas do Imposto sobre Vendas e Con-signaes, transferido para os estados desde aConstituio de 1934. Assim, com relao queleque veio a tornar-se o principal imposto dos esta-dos, a autonomia regulatria dos estados foi pre-
servada. Observe-se que as variaes no regimepoltico no explicam as variaes na autoridadetributria, uma vez que elas dizem respeito ao tipode imposto controlado pela legislao federal e noao regime poltico.
Na verdade, a deciso de atar as mos dasassemblias legislativas estaduais com relao aoImposto de Exportao e liber-las com relaoao IVC explicada pelas prioridades de polticaeconmica naquele contexto. Antes da Constitui-o Federal de 1988, apenas a Constituio de 1891conferiu aos estados inteira liberdade para estabe-lecer as alquotas sobre seus prprios tributos.Como conseqncia, em uma economia essenci-almente exportadora, os estados menos desenvol-vidos vale dizer, no-exportadores tributavam
as operaes interestaduais como operaes deexportao, sendo infrutferos os esforos daUnio para impedir essa prtica (COSTA, 1994,p. 66; LOPREATO, 2002, p. 29). A ConstituioFederal de 1934 j restringia tanto a alquota doImposto Estadual de Exportao a um mximode 10% quanto sua cobrana nas operaes en-tre os estados. O Estado Novo manteve a Consti-tuio de 1934 nesse aspecto. A Constituio Fe-deral de 1946 restringiu ainda mais essa alquota,a um mximo de 5%. Preponderaram, portanto,nas assemblias constituintes as preocupaes
quanto ao impacto negativo sobre a colocao deprodutos brasileiros no exterior derivados da au-tonomia dos governos estaduais sobre essa fontetributria, assim como as dificuldades para a ex-panso do mercado interno, derivadas da genera-lizada e abusiva cobrana de impostos de expor-tao nas operaes interestaduais. Essa decisofoi, como vimos, resultado da aliana da bancadapaulista com a bancada dos estados do Nordestena Constituio de 1934, no tendo sido objeto dealterao nas constituies posteriores.
A reforma tributria do regime militar foi a mais
centralizadora nesse aspecto (Quadro 1). Ao trans-ferir para a Unio a tributao exclusiva do Im-posto de Exportao estava resolvido o problemade sua regulamentao. Como o IVC foi converti-do em ICM e mantido na rbita estadual, a refor-ma transferiu para a Unio a autoridade tanto paradefinir suas alquotas quanto para legislar sobresua iseno. Mas, observe-se, nesse aspecto ainovao do regime militar foi apenas de grau, nosentido de que aumentou o controle federal sobreo principal imposto estadual. Todavia, a naturezadesse tipo de autoridade, isto , o fato de que a
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
9/17
77
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
autoridade sobre o principal imposto dos estadosest limitada pela legislao federal, no consti-tuiu nenhuma inovao do regime militar, pois jvinha sendo autorizada pelos constituintes desdea Constituio de 1934.
A reao a essa centralizao, na AssembliaConstituinte de 1987-1988, teve como resultadoampla autonomia para estados e municpios defi-nirem a legislao tributria de seus prprios im-postos. Observe-se, portanto, que, no que diz res-peito ampla autoridade para legislar sobre seusprprios impostos, apenas a Constituio de 1988representou uma ruptura em relao ao status quo,pois desde a Constituio de 1934 os estados ti-nham sua autoridade limitada pelas sucessivasconstituies federais. As reformas ocorridas no
campo tributrio posteriormente a 1988 no afe-taram essa dimenso da autoridade de estados emunicpios, mas integram a agenda de reformasdo governo Lula, via projeto de unificao doICMS, devido a seus impactos sobre a polticaeconmica.
Nessa dimenso da autoridade tributria, por-tanto, forjou-se ao longo do Estadodesenvolvimentista um padro de interferncia dalegislao federal nas decises dos estados, emrelao aos impostos que embora arrecadadosexclusivamente pelos estados eram estratgicos
para a estratgia nacional de desenvolvimento.Essa interferncia ocorreu paralelamente con-solidao do regime de separao de fontes tribu-trios. Se algum pacto federativo houve, ele con-sistiu em conferir aos estados a autoridade exclu-siva sobre reas rentveis de tributao, limitandoentretanto sua autoridade para legislar sobre osimpostos cuja arrecadao afetasse a poltica eco-nmica do governo federal. Portanto, no o tipode regime poltico que explica as variaes, mas adimenso de autoridade tributria e o tipo de im-posto em questo.
II.3. Autoridade tributria sobre o campo residual
Parte da evoluo de um sistema tributrioconsiste em expandir as reas e setores constran-gidos taxao. Uma vez definidas as reas detributao exclusiva, resta saber quais nveis degoverno esto constitucionalmente autorizados aexplorar o campo residual de taxao, isto , asreas de atividade potencialmente taxveis. Evi-dentemente, o campo residual efetivo tende a res-tringir-se medida que amadurece o sistema, pelo
efeito da expanso das reas de tributao.
Desde a Constituio de 1891 at a Constitui-o de 1946, tanto os estados brasileiros quanto aUnio sempre tiveram autonomia para explorar o
campo residual de tributao, criando novos tri-butos. Em outras palavras, a autoridade tributriasobre o campo residual foi historicamente des-centralizada, deixando de s-lo apenas na reformado regime militar (Quadro 1). Paradoxalmente,apenas o Estado Novo conferiu aos estados a au-toridade tributria exclusiva sobre o campo resi-dual, sem obrigao de repartio com os demaisentes federativos (VARSANO, 1996, p. 4). Ob-serve-se mais uma vez, portanto, que a variaodessa dimenso da autoridade no acompanhouas variaes de regime poltico. No apenas essa
dimenso permaneceu relativamente invarivel aolongo do tempo embora tenha sido objeto debarganha em todas as ANCs , como o perodoem que os estados tiveram autoridade tributriaexclusiva sobre o campo residual foi o perodo demaior centralizao poltica, se considerarmosapenas o perodo entre 1891 e 1964.
A inflexo centralizadora da autoritria tribut-ria sobre o campo residual ocorreu apenas no re-gime militar. Essa inflexo consistiu em proibir acriao de novos impostos aos governossubnacionais, reservando essa autoridade apenas
para a Unio. Alm disso, ficou reservada esferafederal autoridade tributria exclusiva sobre a cri-ao de contribuies sociais10, no sujeitas re-partio com os demais entes federativos. Comoj apresentado, isso foi possvel graas s condi-es centralizadas de aprovao parlamentar en-to imperantes.
A autoridade exclusiva da Unio na criao decontribuies sociais e sobre o campo residual foimantida pela Constituio de 1988 (LEME, 1992,p. 75). Parece paradoxal mais uma vez que adescentralizao fiscal da Constituio de 1988 nose tenha estendido ao campo residual de tributa-
10 O sistema tributrio brasileiro faz distino entre im-postos e contribuies. A principal diferena que os pri-meiros somente podem entrar em vigor no ano seguinte sua aprovao por meio de emenda constitucional, ao pas-so que as segundas podem ser criadas por meio de lei ordi-nria e entrar em vigor 90 dias aps sua aprovao. Osgovernos estaduais e municipais somente podem cobrarcontribuies para os sistemas previdencirios de seus pr-
prios servidores.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
10/17
78
QUEM TAXA E QUEM GASTA
o. No seria plausvel supor, de acordo com anoo de que haveria um paralelo entre democra-cia e poder dos governos locais no Brasil, que osgovernos subnacionais reservassem para si a au-toridade sobre o campo ainda no tributado daatividade econmica?
A deciso da ANC de 1987-1988 pode serexplicada pela interao estratgica dos atores,dadas as regras de operao dessa Assemblia e acomposio das arenas decisrias, em um con-texto de amadurecimento do sistema tributrionacional.
Diferentemente das constituies anteriores, aredao da nova Constituio no foi realizada poruma nica comisso nem apoiada em um projetotcnico previamente preparado (GOMES, 2002,
p. 10ss.). Sua redao iniciou-se pelo trabalho de24 subcomisses, fundidas posteriormente em 8comisses temticas, cujas propostas foram, fi-nalmente, integradas por uma comisso de siste-matizao. As propostas da comisso de sistema-tizao, por sua vez, foram votadas em dois tur-nos em sesses plenrias. Na ANC, os principaisacordos com relao ao novo desenho tributrioforam selados no mbito da Subcomisso de Tri-butos, Oramento e Finanas e da Comisso deTributos, Participao e Distribuio das Recei-tas, em que governadores e prefeitos pressiona-
ram intensamente os constituintes e a Unio foiomissa. O texto sofreu poucas modificaes nasinstncias decisrias posteriores, fase em que aUnio, ao perceber as perdas decorrentes dos acor-dos selados, pressionou intensa e inutilmentementepara reverter as decises (LEME, 1992, p. 148).
Na Subcomisso de Tributos, Participao eDistribuio das Receitas, os representantes dosestados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste majoritrios por um voto acordaram com asbancadas de So Paulo e do Sul o fortalecimentoda autonomia tributria estadual em troca do au-mento nas alquotas das transferncias federais.O acordo inclua que a autoridade tributria sobreo campo residual voltasse a ser exclusiva dos es-tados. A proposta, entretanto, no agregava a to-talidade das bancadas do Sudeste e do Sul, aocontrrio da proposta de constitucionalizao dastransferncias federais, que agregava a totalidadedas bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oes-te. Quando, j na Comisso de Sistematizao, aUnio tentou reverter os acordos selados ao lon-go do processo constituinte que lhe imporiam per-
das fiscais, apenas aquelas que afetariam interes-ses de minorias dentro da ANC foram acatadas.Assim, o poder residual dos estados, cuja susten-tao vinha basicamente da bancada paulista, foisuprimido da verso final submetida plenria.As emendas propostas na plenria com a finalida-de de recuperar a autoridade de estados e munic-pios sobre o campo tributrio residual no conse-guiram obter aprovao. O reduzido nmero deestados e municpios cuja base econmica torn-los-ia potencialmente beneficirios dessa prerro-gativa tornou minoritrio o nmero de constituin-tes interessados nesta questo (idem, p. 83ss.).Como indicado mais acima, a autoridade tribut-ria sobre o campo residual perde importncia re-lativa medida que amadurece um sistema tribu-trio, assim como interessa mais diretamente ape-nas a regies com atividade econmica mais com-plexa e diversificada. Os benefcios concentra-dos dessa prerrogativa levaram o plenrio da ANSde 1987-1988 a abdicar da prerrogativa da auto-nomia federativa, apenando essencialmente a ban-cada paulista. Pela mesma razo, esse no umtema da agenda federativa de reformas no campotributrio.
A partir dos anos 1990, a exclusividade daUnio na cobrana de contribuies foi um dosprincipais instrumentos do governo federal para
compensar as perdas fiscais decorrentes dadescentralizao fiscal de 1988, de vez que estesno esto sujeitos obrigao constitucional departilha com estados e municpios (SOUZA, 1997,p. 50; REZENDE & CUNHA, 2002; REZENDE& OLIVEIRA, 2003). A ampliao das alquotasde contribuies federais Contribuio Socialsobre o Lucro Lquido (CSLL), Contribuio parao Financiamento da Seguridade Social (COFINS)e Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF) permitiu expressiva elevao da arrecadao dogoverno federal11. Um segundo componente daestratgia foi a criao de novas contribuies,que tm a vantagem de poderem ser cobradas 90dias aps sua aprovao por meio de lei ordinria.
11 A CSLL aumentou sua participao na receita do setorpblico de 0,9% em 1989 para 3% em 1992. O IOF, querepresentava 0,7% da receita do setor pblico, passou arepresentar 2,5% em 1992 (Pessoa e Malheiros apudSOU-ZA, 1997, p. 50-51). Os impostos sujeitos contribuiorepresentavam 51% da receita do setor pblico em 1988 ecaram para 42% em 1992 (Afonso apudSOUZA, 1997,
p. 51).
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
11/17
79
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
A mais notvel delas a contribuio sobre asoperaes em contas bancrias. O Imposto Tem-porrio sobre Movimentaes Financeiras (IPMF)foi aprovado em 1993, mas um ms aps sua cri-ao foi considerado inconstitucional pelo poderJudicirio. Em 1996, essa fonte federal de receitafoi recriada, agora como Contribuio Provisriasobre a Movimentao Financeira (CPMF), combase em uma coalizo suprapartidria para con-tornar uma crise no financiamento da poltica desade (PIOLA & BIASOTO JNIOR, 2002, p.220). Em 1998, a CPMF foi novamente prorro-gada, sua alquota foi aumentada e suas receitasdeixaram de ser destinadas exclusivamente po-ltica de sade. Na reforma do governo Lula, aCPMF tornou-se permanente.
II.4. Sistema de transferncias fiscaisDesde a Constituio de 1934, o Brasil desen-
volveu um complexo sistema de transfernciasfiscais. A caracterstica desse primeiro arranjo foiinteiramente distinta do modelo que veio a estabe-lecer-se. Em 1934, o fluxo das transfernciasconstitucionais deveria operar dos estados para aUnio e seus respectivos municpios. Desde aConstituio de 1946, contudo, tanto o governofederal deve transferir parte de sua receita tribu-tria para estados e municpios quanto os gover-nos estaduais devem faz-lo para seus respecti-
vos municpios (Quadro 2).
A Constituio de 1946, portanto, inaugurou otipo de arranjo que vigora at hoje, pelo qual re-gras relativas a transferncias constitucionais im-plicam que a Unio opere como arrecadadora subs-tituta para estados e municpios, bem como osestados para seus respectivos municpios(VARSANO, 1996, p. 5-6). Na verdade, a maiorparte da literatura que trata de ciclos da centrali-zao (de 1965-1967) e da descentralizao (cons-tituies federais de 1946 e 1988) do sistema fis-cal brasileiro refere-se basicamente a essa dimen-so da repartio do bolo tributrio. A partir daConstituio de 1946, a parte mais expressiva doembate federativo em torno da questo tributriadisse respeito fundamentalmente extenso emque a Unio operaria como arrecadadora substi-tuta dos estados e municpios. Na prtica, a so-fisticada metfora das sstoles e distoles do sis-tema fiscal diz respeito basicamente s alquotasaplicadas para a repartio obrigatria dos impos-tos arrecadados pelo governo federal.
Os constituintes de 1946 destinaram 60% da
arrecadao dos impostos federais sobre combus-tveis, minerais e energia eltrica para serem dis-tribudos para os estados e municpios, assimcomo 10% da arrecadao federal do IR para osmunicpios e 40% do total da arrecadao dosestados para seus respectivos municpios12. Acentralizao fiscal do regime militar consistiu emrestringir progressivamente as alquotas dos im-postos federais de repartio obrigatria, sendoque seu pice ocorreu em 1968, quando o totaldas transferncias constitucionais da Unio a es-tados e municpios somava 10% da arrecadaodo IR e do Imposto sobre Produtos Industrializa-dos (IPI). Por sua vez, a progressiva distensodo regime poltico a partir de meados dos anos1970 foi diretamente acompanhada de progressi-va ampliao das alquotas de transferncia obri-gatria da Unio para estados e municpios. Elaspassaram de 5% em 1975 para 14% e 17%, res-pectivamente, at 1988. Finalmente, a Constitui-o de 1988 estabeleceu as maiores alquotas detransferncia constitucional da histria brasileira:o Fundo de Participao dos Estados (FPE) e oFundo de Participao dos Municpios (FPM) tmcomo fonte de receita a soma de 44% da receitade dois impostos federais13 (Quadro 2)14.
Entretanto, nos governos Fernando Henrique
12 As intenes dos constituintes de 1946, contudo, nose transformaram em realidade. A maioria dos estados ja-mais transferiu os 30% do excesso de arrecadao aos mu-nicpios. As cotas federais do Imposto de Renda somentecomearam a ser distribudas em 1948 e eram calculadas emum ano, com base na arrecadao do ano anterior, paradistribuio no ano seguinte; assim, seu valor real era larga-mente consumido pela inflao. A despeito disso, amunicipalizao das transferncias criou forte incentivos criao de novos municpios: eles passaram de 1 669 em1945 para 3 924 em 1966 (VARSANO, 1996, p. 6).
13 A reforma tributria de 1965-1967 criou o Fundo deParticipao dos Estados e o Fundo de Participao dos
Municpios, compostos por um percentual sobre a arreca-dao federal do Imposto de Renda e do Imposto sobreProdutos Industrializados. Esses percentuais eram de 5%
para cada Fundo em 1968 e passaram a 21,5% e 22,5%,respectivamente, com a Constituio de 1988. Os Fundosde Participao movimentavam em 1997 cerca de 20% dototal da receita administrada pela Unio (PRADO, 2001,
p. 54).
14As transferncias constitucionais dos governos estadu-ais para seus municpios, por sua vez, pouco variaramentre a centralizao fiscal do regime militar e a Constitui-o de 1988. Segundo esta, os governos estaduais devemtransferir aos municpios 25% da arrecadao de seu prin-
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
12/17
80
QUEM TAXA E QUEM GASTA
Cardoso e Lula, o poder Executivo federal foi ca-paz de aprovar legislao que parcialmente rever-te essas decises da Constituio de 1988. O Fun-do de Estabilizao Fiscal e a Desvinculao deReceitas da Unio tm permitido que o governocentral retenha sistematicamente cerca de 1/5 dastransferncias constitucionais obrigatrias. Aindaque sejam intensas as presses para o aumentodas alquotas de FPM e FPE, essas presses notm conseguido traduzir-se em legislao at omomento.
Duas questes merecem ser observadas. Emprimeiro lugar, como j mencionado mais atrs, abarganha federativa por recursos tributrios con-centrou-se nas transferncias fiscais medida quese consolidou o regime de repartio de receitas.
Em segundo lugar, observe-se que, com relao aessa dimenso, a legislao aprovada na dcadade 1990 no autoriza mais uma vez que se estabe-lea uma relao direta entre variaes no regimepoltico e variaes nas alquotas de repartioobrigatria.
O projeto de distenso lenta, gradual e segu-ra do regime militar foi acompanhado de pro-gressiva descentralizao do sistema fiscal. Essadescentralizao aumentou o poder de barganhadas bases estaduais da Aliana Renovadora Naci-onal (ARENA), dada sua importncia para a es-
tratgia de legitimao do regime pela via eleitoral(ABRUCIO, 1998, p. 82ss.). J em 1975 foi apro-vada uma emenda constitucional que elevava pro-gressivamente as alquotas do FPE e FPM. A par-tir de ento, novas emendas constitucionais au-mentaram progressivamente essas alquotas, emum processo crescente de descentralizao fiscalque se completou com a Constituio de 1988.Ainda no disponho de dados sobre essas vota-es. Entretanto, at 1982 quando os partidosde oposio conquistaram o governo de algunsestados , a constitucionalizao das transfern-
cias fiscais automticas somente interessava selites estaduais da ARENA, que governavam osestados. Essa constitucionalizao no interessa-va ao partido da oposio, que no governava ne-nhum estado da federao. Alm disso, seria pra-ticamente impossvel a aprovao de uma emen-
da constitucional sem o apoio do partido da maio-ria, dado o controle majoritrio da ARENA nascmaras federais e a regra de disciplina partidria.Assim, muito plausvel a hiptese de que adescentralizao fiscal resultou da barganha daselites estaduais da ARENA, o partido de sustenta-o dos militares do governo central, que preferi-ram constitucionalizar o sistema de transfernci-as fiscais para reduzir seu grau de subordinaoem relao aos lderes militares que controlavamo governo federal.
Como j destacado anteriormente, na ANC de1987-1988, a descentralizao fiscal pode serexplicada pelas regras dos trabalhos legislativos epela composio das arenas em que as decisesforam tomadas. A primeira etapa de formulao
ocorreu na Subcomisso de Tributos, Participa-o e Distribuio de Receitas; nela, os principaispostos, de Presidente e Relator, foram ocupadospor dois representantes de estados da regio Nor-deste15. Na Subcomisso havia um grande con-senso em torno da proposta de aumentar as recei-tas de estados e municpios, mantendo o governofederal na funo de principal arrecadador de tri-butos. A concepo favorvel maior autonomiatributria e maior esforo de arrecadao prpriapor pa rt e dos gove rnos subnacionais er aminoritria. Alm disso, enquanto as bancadas do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste tendiam a alinhar-se com a proposta de aumento das transfernciasconstitucionais e dos fundos especiais, as banca-das do Sul e do Sudeste dividiam-se em relao sreivindicaes de autonomia tributria. A maisimportante deciso dessa Subcomisso disse res-peito ao aumento das transferncias constitucio-nais para estados e municpios, bem como daconstitucionalizao e ampliao do Fundo Espe-cial (FE) que no regime militar destinava 2% daarrecadao do IR e IPI para o Norte e Nordeste para 3% desses impostos, incluindo a regioCentro-Oeste como beneficiria. A incluso daregio Centro-Oeste no grupo dos estados menosdesenvolvidos a serem beneficiados pelo FE ga-
cipal imposto. Na Reforma Tributria do regime militar, osestados deviam transferir 20% de sua receita de impostosaos seus municpios.
15 O Partido do Movimento Democrtico Brasileiro(PMDB) tinha maioria nessa subcomisso e sua lideranaindicaria um Deputado do Rio Grande do Sul para a Presi-dncia da Subcomisso. Todavia, a escolha de Benito Gama(Partido da Frente Liberal (PFL)-BA) deu-se por uma vo-tao de 11 a 10, em que as bancadas nordestina e nortistado PMDB no obedeceram orientao da liderana (LEME,1992, p. 144ss.).
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
13/17
81
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
rantia a maioria na subcomisso16. Por outro lado,a autonomia na fixao dos prprios impostos foiuma concesso da bancada dos estados do Nor-te, Nordeste e Centro-Oeste bancada paulista.O resultado desse acordo foi ter a Unio comoperdedora (LEME, 1992, p. 97ss.).
Uma proposta para criao de uma fonte dereceita federal de recursos para viabilizar adescentralizao de responsabilidades foi apresen-tada j na Subcomisso de Impostos e Distribui-o de Receitas17, mas foi sistematicamente der-rotada nas diversas etapas do processo constitu-inte (SOUZA, 1997, p. 65ss.). O relator da Co-misso sobre Sistema Tributrio, Oramento eFinanas alertou explicitamente sobre o riscoenvolvido na descentralizao fiscal desacom-
panhada de descentralizao de competncias.Portanto, essa deciso dos constituintes foi to-mada deliberadamente18.
A Comisso do Sistema Tributrio, Oramen-to e Finanas, por sua vez, teve como Presidentee Relator dois representantes da regio Sudeste respectivamente, Francisco Dornelles (Partido daFrente Liberal (PFL)-RJ) e Jos Serra (Partido doMovimento Democrtico Brasileiro (PMDB)-SP), com experincia na rea de finanas pblicas,mas as bancadas dos estados do Norte, Nordestee Centro-Oeste tinham maioria em relao s ban-
cadas do Sudeste e do Sul19. Nessa Comisso a
maioria dos constituintes preferiu um arranjo emque a Unio operaria como arrecadador substitu-to, ampliando as alquotas das transferncias cons-titucionais e reduzindo a quase zero a vinculaode gasto dessas receitas. Os acordos realizadoscom o Presidente e o Relator reiteraram o acordoj firmado na Subcomisso: autonomia tributriasobre os prprios impostos e ampliao das trans-ferncias dos fundos de participao. No que dizrespeito distribuio horizontal desses recursos,no foi possvel obter um acordo, transferindo-opara legislao complementar, de molde a acomo-dar os conflitos. Esse acordo, contudo, ocorreus custas de aumentadas perdas para a Unio, isto, elevao dos percentuais de transferncia cons-titucional dos fundos de participao (LEME,1992, p. 83ss.)20.
Nas fases posteriores do processo constituin-te, a Unio tentou inutilmente reverter os acordosselados nas fases anteriores. Teve suas propostasaprovadas apenas com referncia a aspectos mar-ginais do desenho j esboado, naqueles tpicoscujos benefcios eram to concentrados que nomobilizavam maiorias (idem, p. 182). A aprova-o nas sesses plenrias foi por esmagadoramaioria 326 de um total de 376 constituintes(idem, p. 175).
II.5. Vinculao de gastos
A Constituio Federal de 1946 inaugurou tam-bm um sistema de vinculaes constitucionaisde gasto das receitas dos governos subnacionais.Entretanto, nessa constituio, a vinculao degasto das transferncias destinava-se aos estados,estabelecendo que 48% dos impostos nicos trans-feridos deveriam ser empregados em despesas decapital, setorial e funcional.
No regime militar, a quase totalidade das trans-ferncias constitucionais estava vinculada a itenspr-definidos de gasto. Dado que a Unio era a
principal arrecadadora e as transferncias consti-tucionais eram reduzidas, as transferncias nego-ciadas eram o principal mecanismo de acesso dosgovernos subnacionais a fontes adicionais de re-
16A composio dessa Subcomisso era a seguinte: Norte: 2PMDB; Nordeste: 3 PMDB, 4 PFL, 2 PDS Partido Demo-crtico-Social (PDS), 1 Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);Centro-Oeste: 1 PMDB; Sudeste: 3 PMDB, 1 PFL, 1 PartidoDemocrtico Trabalhista (PDT), 1 Partido dos Trabalhadores(PT), 1 Partido Liberal (PL), 1 Partido Democrata-Cristo(PDC); Sul: 3 PMDB (LEME, 1992, p. 145).
17 A proposta foi apresentada pelo Deputado paulistaJos Serra. Previa um fundo federal que, acompanhando aampliao das transferncias constitucionais, permitiria atransferncia de competncias federais para estados e mu-nicpios, em um prazo de cinco anos (ver SOUZA, 1997,
p. 72ss.).
18 O Relator da Comisso, Deputado Jos Serra, teriaalertado o Presidente Sarney sobre o risco que estava emcurso, mas o Presidente t-lo-ia orientado a aprofundar o
processo de descentralizao (SOUZA, 1997, p. 80).
19 A composio desta comisso era a seguinte: Norte: 5PMDB; Nordeste: 9 PMDB, 12 PFL, 2 PDS, 1 PTB;Centro-Oeste: 3 PMDB: Sudeste: 9 PMDB, 2 PFL, 2 PDT,2 PT, 1 PTB, 1 PL, 1 PDC; Sul: 8 PMDB, 1 PFL, 1 PDS,1 PDT (LEME, 1992, p. 157).
20 Na proposta da Comisso, os municpios perderiam oimposto sobre servios e, em compensao, teriam aumen-tado de 20% para 25% a alquota de repartio do ICMSestadual. Durante o processo constituinte, o aumento dealquota foi mantido e a abolio do ISS foi reinstituda(SOUZA, 1997, p. 65ss).
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
14/17
82
QUEM TAXA E QUEM GASTA
ceita, de tal sorte que eles transformaram-se emexecutores locais de polticas formuladas pelogoverno federal (MEDEIROS, 1986, p. 418).
Em processo paralelo ao da ampliao das
alquotas das transferncias constitucionais, aabertura poltica a partir de meados dos anos 1970fez-se acompanhar de progressiva desvinculaodas receitas fiscais de estados e municpios. As-sim, em 1982, a vinculao constitucional de gas-to dos municpios estava reduzida a apenas 20%das receitas a serem obrigatoriamente aplicadasem ensino. Finalmente, na Constituio Federalde 1988, as transferncias constitucionais da Uniopassaram a funcionar como block grants, isto ,poderiam ser gastas de modo praticamente livrepelos governos subnacionais. A deciso da ANC
de 1988 proibia expressamente a vinculao degasto de receita derivada de impostos, com a ni-ca exceo feita educao: a Unio deve gastar18% de sua receita disponvel21nessa rubrica degasto, assim como governos estaduais e munici-pais devem gastar 25% dessas receitas em ensi-no.
Assim como com relao s transfernciasconstitucionais, a trajetria das vinculaes cons-titucionais de gasto do regime militar para a Cons-tituio de 1988 sugere um paralelo entre regimepoltico e centralizao-descentralizao fiscal.
Entretanto, esse paralelo no se estende ao pero-do democrtico, posterior a 1988. A Unio noapenas passou a reter parte das transfernciasconstitucionais como tambm ampliou progressi-vamente a regulamentao das decises de gastodos governos subnacionais. Em 1996, a aprova-o do Fundo de Manuteno e Desenvolvimentodo Ensino Fundamental e de Valorizao do Ma-gistrio (Fundef) por meio da Emenda Consti-tucional n. 14/96 estabeleceu que, pelo prazo de10 anos, estados e municpios devem aplicar nomnimo 15% de todas as suas receitas exclusiva-
mente no ensino fundamental. Alm disso, 60%destes recursos devem ser aplicados exclusiva-mente no pagamento de professores em efetivoexerccio do magistrio. Posteriormente, em 2000,foi aprovada uma nova emenda Constituio (aEC n. 29/2000), estabelecendo que at 2005 osestados devem gastar no mnimo 12% de suas
receitas em sade. Para os municpios, essavinculao dever atingir o patamar de 15% dasreceitas. Finalmente, a Lei de ResponsabilidadeFiscal estabelece limites para o gasto com pessoalativo e inativo, limites para endividamento, bemcomo institui o apenamento jurdico e pessoal aosgovernantes que tiverem comportamento de gas-to incompatvel com a austeridade fiscal. Portan-to, a reao do governo federal desvinculaodo gasto que emergiu da Constituio de 1988consistiu em regulamentar progressivamente asdecises de gasto dos governos estaduais e muni-cipais. Essa regulamentao foi possvel graas centralizao do processo decisrio na arena par-lamentar (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1999). Naverdade, o exame do processo decisrio dessasmedidas de centralizao da agenda de gasto dosgovernos subnacionais revela que o governo fe-deral no encontrou resistncias significativas parasua aprovao (ARRETCHE, 2002).
III. CONCLUSES
Este trabalho pretendeu demonstrar que a de-sagregao de distintas dimenses da distribuiode autoridade nas reas tributria e fiscal permiteanalisar com maior preciso processos de centra-lizao e descentralizao. Na histria brasileira, aadoo de um sistema descentralizado de separa-o de fontes tributrias no sofreu rupturas alta-
mente significativas ao longo de sua histria, ten-do consolidado suas caractersticas bsicas j nosanos 1940. Ainda que a arrecadao tributria te-nha sido historicamente descentralizada, a Unioconsolidou-se como a principal arrecadadora. consolidao desse sistema correspondeu limita-da autonomia dos governos estaduais para legis-lar sobre os impostos que afetariam as polticasde desenvolvimento econmico durante todo operodo do Estado desenvolvimentista. A nicaruptura significativa desse padro de delegao deautoridade Constituio Federal ocorreu na Cons-
tituio de 1988, pelo efeito de um acordo quecombinou as preferncias tributrias e fiscais dasbancadas das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de um lado, e do Sul e Sudeste, particular-mente So Paulo, de outro.
No processo de expanso do sistema tribut-rio brasileiro, o poder residual de tributao per-maneceu ilimitado para os diversos nveis de go-verno, exceo do Estado Novo, em que, para-doxalmente, ele era exclusivo dos estados. Mas acentralizao da autoridade sobre o campo resi-
21Receita disponvel = receita tributria prpria +/- trans-ferncias constitucionais.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
15/17
83
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
dual de tributao, inaugurada pelo regime militar,deixou de ser uma questo capaz de mobilizarcoalizes majoritrias na federao. Na ANC de1988, a proposta de estender o poder residual aosestados foi facilmente derrotada pela Unio, queperdeu com relao a quase todos os itens de na-tureza tributria e fiscal.
Uma vez consolidado o regime de separaode fontes tributrias, a disputa federativa por re-cursos concentrou-se no sistema de transfern-cias fiscais. A Unio foi capaz de reduzir substan-cialmente suas obrigaes constitucionais de trans-ferir parte de sua receita para estados nos pero-dos em que as regras de operao das arenasdecisrias favoreceram o governo central, no re-gime militar e no perodo posterior a 1988. Alm
disso, a criao de um sistema de transfernciasfiscais foi, por sua vez, acompanhada pela regu-lamentao federal sobre as decises de gasto dosgovernos subnacionais. Apenas sob condies deelevada descentralizao da autoridade poltica tais como o Regimento Interno da ANC de 1987-1988 a regulamentao federal sobre a agenda
de gastos dos governos locais foi reduzida. Nahistria do sistema fiscal brasileiro, descentralizao das transferncias fiscais nocorrespondeu a autonomia dos governossubnacionais sobre suas decises de gasto. A nor-ma da federao brasileira tem sido a legislaofederal definir extensamente a agenda de gasto dosgovernos subnacionais.
arriscado afirmar que h um padro nos sis-temas tributrio e fiscal brasileiros, devido s rup-turas que de fato ocorreram ao longo do tempo.Entretanto, se alguma caracterstica foi mais pre-ponderante, a da (i) descentralizao de receitas seja da autoridade para arrecadar, seja pela ga-rantia de transferncias constitucionais , com (ii)centralizao da arrecadao no governo federal
devido a seu papel de principal arrecadador ,acompanhadas de (iii) centralizao da autoridadesobre as decises de arrecadao e de gasto, isto, limitao da autonomia dos governossubnacionais para a regulamentao da cobranade impostos e do destino do gasto.
Marta Arretche ([email protected]) Doutora em Cincia Poltica pela Universidade Estadual de Campi-nas (UNICAMP), professora do Departamento de Cincia Poltica da Universidade de So Paulo (USP)e pesquisadora do Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento (CEBRAP).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABRUCIO, F. L. 1998. Os bares da federao.So Paulo : USP.
ALMEIDA, M. H. T. 1995. Federalismo epolticas sociais.Revista Brasileira de CinciasSociais, So Paulo, v. 10, n. 28, p. 88-108.
_____. 2001. Federalismo, democracia e governono Brasil : idias, hipteses e evidncias.BIB,
So Paulo, n. 51, p. 13-34, 1 semestre.ARRETCHE, M. 2002. Federalismo e relaes
intergovernamentais no Brasil : a reforma dosprogramas sociais. Dados, Rio de Janeiro, v.45, n. 3, p. 431-457.
_____. 2004. Federalismo e polticas sociais noBrasil : problemas de coordenao e autonomia.So Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 2, p. 17-26, abr.-jun.
AZEVEDO, S. & MELO, M. A. 1997. A polticada reforma tributria : federalismo e mudana
constitucional.Revista Brasileira de CinciasSociais, So Paulo, v. 12, n. 25, p. 75-99.
BENDIX, R 1996. Construo nacional ecidadania. So Paulo : USP.
CAMARGO,A. 1993. La federacin sometida.Nacionalismo desarrollista e inestabilidadedemocrtica.In: CARMAGNANI, M. (org.).
Federalismos latinoamericanos.Mxico/Brasil/Argentina. Ciudad de Mxico : Fondo deCultura Econmica.
COSTA, W. P. 1994.A questo fiscal na crise doImprio e na implantao da Repblica.Relatrio da pesquisa Balano e perspectivasdo federalismo fiscal no Brasil. So Paulo :Fundao do Desenvolvimento Administrativo.
DARCY, F. & ALVAZAR, M. B. 1986.Decentralisation en France et Espagne. Pa-ris : Economica.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
16/17
84
QUEM TAXA E QUEM GASTA
DAHL, R. A. 1986. Democracy, Identity, andEquality. Oslo : Norwegian University.
ELAZAR, D. 1991. Federal Systems of theWorld: A Handbook of Federal, Confederal and
Autonomy Arrangements. New York :Cartermill International.
FIGUEIREDO, A. & LIMONGI, F. 1999.Executivo e Legislativo na nova ordemconstitucional. Rio de Janeiro : FundaoGetlio Vargas.
FGV. 1967.A reforma do Ministrio da Fazendae sua metodologia. Relatrio final. Rio deJaneiro : Fundao Getlio Vargas.
GOMES, G. M. & MACDOWELL, C. 1997. Oselos frgeis da descentralizao: observao
sobre as finanas dos municpios brasileiros.Trabalho apresentado no SeminrioInternacional sobre Federalismo e GovernosLocais, realizado em La Plata (Argentina).Digit.
GOMES, S. 2002. A Assembl ia NacionalConstituinte e o Regimento Interno. So Paulo.Dissertao (Mestrado em Cincia Poltica).Universidade de So Paulo.
HOCHMAN, G. 1998.A Era do Saneamento: asbases da poltica de sade pblica no Brasil.
So Paulo : Hucitec.IMMERGUTT, E. M. 1996. As regras do jogo : a
lgica da poltica de sade na Frana, na Suae na Sucia. Revista Brasileira de CinciasSociais, So Paulo, v. 11, n. 30, p. 139-163.
_____. 1998. The Theoretical Core of the NewInstitutionaism. Politics & Society, v. 26, n.1, p. 5-34.
LEME , H. J. C. 1992. O federalismo naConstituio de 1988: representao polticae a distribuio de recursos tributrios.Campinas. Dissertao (Mestrado em CinciaPoltica). Universidade Estadual de Campinas.
LIJPHART, A. 1984. Democracies. Patterns ofMajoritarian and Consensus Government inTwenty-One Countries. New Haven : YaleUniversity.
_____. 1999. Patterns of Democracy : Govern-ment Forms and Performance in Thirty-SixCountries. New Haven : Yale University.
LOPREATO, F. L. C. 2002. O colapso dasfinanas estaduais e a crise da federao. SoPaulo : UNESP
LOWI, T. 1964. American Business, Public Policy
Case Studies, and Political Theory. WorldPolitics, Baltimore, v. XVI, p. 677-715.
MEDEIROS , A. C. 1986. Politics andIntergovernmental Relations in Brazil: 1964-82. New York : Garland.
MELO, M. A. 2002.Reformas constitucionais noBrasil. Rio de Janeiro : Revan.
MIGDAL, J. 1988. Strong Societies and WeakStates. State-Society Relations and StateCapabilities in the Third World. Princeton :Princeton University.
MORA, M. & VARSANO, R. 2001. FiscalDecentralization and Subnational FiscalAutonomy in Brazil : Some Facts of theNineties. Texto para discusso n. 854. Rio deJaneiro : Instituto de Pesquisas EconmicasAplicadas.
OLIVEIRA, F. 1995. A crise da federao : daoligarquia globalizao.In: AFFONSO, R.B. A. & SILVA, P. L. B. A federao emperspectiva. Ensaios selecionados. So Pau-lo : Fundao do Desenvolvimento Adminis-
trativo.PALERMO, V. 2000. Como se governa o Brasil?
O debate sobre instituies polticas e gestode governo. Dados, Rio de Janeiro, v. 43, n.3, p. 521-557.
PIERSON, P. 2000. Increasing Returns, PathDependence, and the Study of Politics.Am er ic an Po li tical Sc ie nce Revi ew,Washington, D. C., v. 94, n. 2, p. 251-67, May.
PIOLA, S. F. & BIASOTO JNIOR, 2001.Financiamento do SUS nos anos 90. In :NEGRI, B. & GIOVAN NI , G. (o rgs.) .Radiografia da sade. Braslia : Ministrio daSade.
PRADO, S. 2001. Transferncias fiscais efinanciamento municipal no Brasil. Relatriode pesquisa Descentralizao fiscal ecooperao financeira intergovernamental.Rio de Janeiro : Fundao Konrad Adenauer.
PUTNAM, R. D. 1996. Comunidade edemocracia. A experincia da Itlia Moderna.
-
7/25/2019 ARRETCHE, M. Recentralizando a Federao
17/17
85
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLTICA N 24: 69-85 JUN. 2005
Rio de Janeiro : Fundao Getlio Vargas.
REZENDE, F. 2001. Globalization, FiscalFederalism, and Taxation. Braslia : BancoNacional de Desenvolvimento Econmico e
Social.REZENDE, F.& CUNHA, A. 2002. Contribuintes
e cidados. Compreendendo o oramentofederal. Rio de Janeiro : Fundao GetlioVargas.
REZENDE, F. & OLIVEIRA, F. A. 2003.Descentralizao e federalismo fiscal noBrasil. Desafios da reforma tributria. Rio deJaneiro : Fundao Konrad Adenauer.
RIKER, W. 1975. Federalism. In :GREENSTEIN, F. & POLSBY, N. (eds.).
Handbook of Political Science. Reading :Addison-Wesley.
RODDEN, J. 2005. Federalismo comparado edescentralizao : sobre significados e medidas.Revista de Sociologia e Poltica, Curitiba, n.24, p. 9-27, jun.
SCHNEIDER, A. M. 2001. Federalism againstMarkets : Local Struggles for Power andNational Fiscal Adjustment in Brazil. Tese(Doutorado). University of California.
SERRA, J. & AFONSO, J. R. R. 1999.Federalismo fiscal brasileira : algumasreflexes.Revista do BNDES, Rio de Janeiro,v. 6, n. 12, p. 3-30, dez.
SILVA, L. M. O. 1994. A evoluo da organizaoe sistemtica das formas tributrias : Unio,estados e municpios. Relatrio da pesquisa
Balano e perspectivas do federalismo fiscalno Brasil. So Paulo : Fundao doDesenvolvimento Administrativo
SKOCPOL, T. 1992. Protecting Soldiers and
Mothers. Cambridge : Harvard University.SOUZA, C. 1997. Constitutional Engineering in
Brazil. New York : Macmillan.
STEINMO, S. 1993. Taxation and Democracy:Swedish, British, and American Approaches toFinancing the Modern State. New Haven : YaleUniversity.
STEPAN, A. 1999. Para uma nova anlisecomparativa do federalismo e da democracia :federaes que restringem ou ampliam o poderdo demos.Dados, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2,
p. 197-251.
VARSANO, R. 1996. A evoluo do sistematributrio brasileiro ao longo do sculo :anotaes e reflexes para futuras reformas.Texto para discusso n. 405. Rio de Janeiro :Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas.
WEIR, M.; ORLOFF, A. S. & SKOCPOL, T.(eds.). 1988. The Politics of Social Policy inthe United States. Princeton : PrincetonUniversity.
WHEARE, K. C. 1964. Federal Government.NewYork : Oxford University.
WILLIS, E.; GARMAN, C. C. B. &HAGGARD , S. 1999. The Politics ofDecentralization in Latin America. LatinAmerican Research Review, Pittsburgh, v. 34,n. 1, p. 7-56.