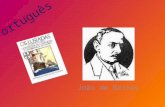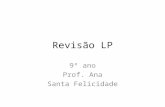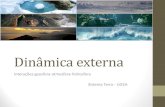ART_Botelho_História Externa Da LP
-
Upload
ultimaflordolacio9019 -
Category
Documents
-
view
221 -
download
3
description
Transcript of ART_Botelho_História Externa Da LP
-
144 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
UM POUCO DE HISTRIA EXTERNA
DA LNGUA PORTUGUESA
Jos Mario Botelho (UERJ e ABRAFIL)
1. Introduo
Certamente, quando se deseja falar sobre a histria da lngua por-
tuguesa, a primeira informao que nos vem lembrana de que o por-
tugus uma lngua neolatina e, por conseguinte, tem a sua origem na
lngua latina, falada na pennsula Ibrica pelos povos romanizados.
No nos lembramos, portanto, do enorme lastro de histria exis-
tente entre o uso efetivo da lngua latina na regio, onde se instituiu o
reino de Portugal e o incio da lngua portuguesa propriamente dito nessa
mesma regio. No nos vem lembrana, por conseguinte, das diferentes
situaes por que passou a lngua falada pelos povos daquela parte da pennsula Ibrica depois das invases dos povos gticos, que determina-
ram o fim do Imprio Romano no sculo V da nossa era.
De certo, o latim vulgar lngua falada em todo o Imprio Roma-no a origem mediata da lngua portuguesa. Acresce-se que as lnguas romnicas so formas modificadas dessa modalidade da lngua latina.
Das lnguas romnicas surgiram as lnguas neolatinas, em cuja classifica-
o est inserida a lngua portuguesa. Logo, alm de muitos elementos
lingusticos do perodo de formao das lnguas romnicas, certos fatos
histricos so fundamentais para a histria externa da lngua portuguesa.
A partir da descrio desses elementos, pode-se estabelecer um
perodo pr-histrico e um proto-histrico do portugus, que, juntos ao
perodo histrico, compem a histria da lngua portuguesa.
Portanto, desde a queda do Imprio Romano at a fundao de
Portugal, a lngua falada pelos povos daquela regio (at ento, o latim
vulgar) no era mais a lngua latina, que se dialetava profundamente e di-
ferentemente nos diversos reinos que se formavam na pennsula. Poder-
se-ia dizer que surgiam vrias lnguas daquele princpio catico, causado
pelo domnio dos brbaros gticos, que destruram as escolas, os tem-
plos, as estradas e praticamente tudo que garantia at ento certa unidade
da lngua latina.
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico145
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
Deu-se, pois, a dialetao do latim vulgar, que j no era, nem
mesmo no tempo do domnio romano, uma lngua homognea. Tal asser-
o vai ao encontro do que afirma Mattos e Silva:
Poderamos dizer, parafraseando, que nada, ou quase nada, nas lnguas se
perde, tudo se transforma e observando o passado que se podem recuperar
surpresas que o presente, com frequncia, nos faz. Para algumas perplexidades
que a variao sincrnica levanta, um rpido olhar para a histria passada es-
clarece. (MATTOS E SILVA, 2001, p. 13)
Certamente, muitos dados gramaticais do portugus dos nossos
dias podem ser explicados, como alerta Mattos e Silva, a partir do estudo
da histria externa da lngua; muitas idiossincrasias e outras complexida-
des lingusticas perdem a fora que as norteia e justifica tais caracteres, e
passam a ser encaradas como normalidades lingusticas por pertencerem
a um dos paradigmas previstos no sistema da lngua.
No cabe nesse artigo descrever tais fatos, mas se faz necessrio
lembrar de que eles existem em consequncia da rica histria da lngua portuguesa, que constitui, em parte, o objetivo deste nosso estudo.
2. O incio da histria externa da lngua portuguesa
O Lcio pequena aldeia s margens do rio Tibre , onde tudo comeou...
O latim era uma lngua rude, falada no Lcio exgua regio da Itlia Central, onde se estabeleciam vrias pequenas aldeias at mais ou
menos os meados do sc. VIII a.C.
Embora seja o latim vulgar a lngua que deu origem s lnguas
romnicas, que, mais tarde, deu origem ao portugus, no se faz mister
escrut-lo, uma vez que a lngua portuguesa no se origina to somente
daquele, e tampouco diretamente; o portugus , na verdade, uma misce-lnea de vrias outras lnguas. No entanto, no se pode negar que a
principal lngua dentre aquelas que constituem a lngua portuguesa em si
e, principalmente, o seu lxico, j que o nosso vocabulrio se formou do
vocabulrio latino, tendo o acusativo como o caso lexicognico da ln-
gua.
A lngua latina, de fato, faz parte da histria do portugus, por-
quanto compe o que denominamos perodo pr-histrico, quando os soldados romanos chegaram pennsula Ibrica. Tal perodo se estende
-
146 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
at aproximadamente ao sculo IX, quando se inicia o perodo proto-histrico.
Sabe-se que, depois que o povo romano unificou a pennsula Itli-
ca, estabelecendo o seu Imprio nas terras italianas continentais e, em se-guida, as ilhas do Mar Mediterrneo (Siclia, Crsega e Sardenha), o Im-
prio Romano se estendeu para o resto da Europa ocidental, para o norte
do litoral da frica e para as terras litorneas do Oriente.
pennsula Ibrica, regio onde se deu a evoluo do latim vul-
gar, do qual se origina a lngua portuguesa, os romanos chegaram no s-
culo III a.C. e l encontraram povos que habitavam aquele solo (celtibe-
ros e o povo basco, alm dos estrangeiros: gregos, fencios e cartagine-
ses, que se estabeleciam ao Sul da pennsula).
natural que a linguagem dos soldados romanos, os quais con-
quistavam terras longnquas, se distanciasse da linguagem daqueles que
mantinham um contato mais direto e efetivo com Roma. Alm de a dis-tncia dificultar e at mesmo impedir o contato com os falares de Roma,
que tambm se modificava rapidamente, o contato com as linguagens dos
habitantes de cada regio conquistada, criava novos padres lingusticos.
E, embora constitussem substratos para o latim, as lnguas dos povos
conquistados influenciavam o latim vulgar da pennsula, tornando-o cada
vez mais diferente da lngua de Roma.
3. A romanizao da pennsula Ibrica
Os romanos, depois de vencerem os cartagineses, ampliaram o
territrio, conquistando toda a faixa ocidental da Ibria e impuseram o la-
tim aos povos peninsulares conquistados. Para isto os romanos introduzi-
ram costumes de civilizao que no eram conhecidos, abrindo escolas, construindo estradas, templos, organizando o comrcio, o servio de cor-
reio e outros. Impuseram com rigor o uso do latim nas transaes comer-
ciais e nos documentos oficiais. O latim, prestigiado como lngua oficial,
ensinada nas escolas, pde suplantar as demais lnguas faladas pelos pe-
ninsulares, que adotaram, por conseguinte, a lngua do povo dominador.
Essa lngua no era o latim clssico; era, pois, o latim vulgar, que,
influenciado pelas lnguas peninsulares, j no era tambm a lngua fala-
da em Roma. E as diferenas foram crescendo, medida que as civiliza-
es conquistadas adotavam por completo os costumes dos vencedores isto , romanizavam-se.
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico147
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
4. A queda do imprio romano e a dialetao do latim
No sc. V d.C., o Imprio Romano j em decadncia totalmente
destrudo pelas invases gticas. Os brbaros, como eram chamados pe-
los romanos, fizeram vrias incurses, primeiramente ao Nordeste, e de-pois ao norte da pennsula Ibrica.
Tal fato acelerou a dialetao do latim, que j vinha sendo influ-
enciado pelos substratos lingusticos da pennsula. Nesse perodo, ainda
pr-histrico, instaura-se um verdadeiro caos lingustico, pois muitos so os falares diletos do latim que surgem nos diferentes reinos gti-co-cristos em que se transforma aquela parte da Romnia Ocidental.
Os povos brbaros, essencialmente guerreiros e de cultura diferen-
te da dos romanizados, embora fossem vencedores, adotaram os elemen-
tos de civilizao: a religio crist, a organizao poltico-administrativa,
entre outros. Adotaram a lngua latina, falada na pennsula, apesar de
abalar efetivamente a unidade poltico-cultural da regio do antigo Imp-rio Romano, pois as escolas foram fechadas e novos elementos culturais
foram introduzidos. Logo, a romanizao chega ao fim, mas a latinizao
se fazia presente.
Depois da queda do Imprio, reinos gtico-cristos foram estabe-
lecidos.
O latim vulgar, j bastante modificado pela ao dos substratos
peninsulares e influenciado pelo superstrato (lngua do vencedor, preteri-
da pela lngua do povo vencido) a lngua dos germnicos , dialetou-se, isto , passou a se desenvolver independente e diferentemente em ca-
da regio.
No sc. VIII, a pennsula, j sob o domnio visigtico, sofre a in-
vaso dos rabes pelo Sul. Vindo do norte da frica, os mouros maome-
tanos muulmanos invadiram e dominaram parte da pennsula e, em-bora oficializassem a lngua rabe, no coibiram a lngua latina.
Esse estrato lingustico para a lngua latina falada pelo povo conquistado, na qual exerce bastante influncia, um adstrato (lngua do
povo vencedor que no suplanta a do vencido).
Em algumas regies (na Lusitnia, que hoje Portugal) surge o
morabe mistura da dialetao do latim vulgar com o rabe e, portan-to, um romano (ou romance) cristo.
-
148 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
Nessa poca, j se verificavam vrios romanos latinos, os quais
praticamente se transformaram em lnguas romnicas e, mais tarde, nas
lnguas neolatinas existentes.
5. A Reconquista da Pennsula Ibrica e estabelecimento do Reino de Portugal
O domnio rabe no conseguiu destruir um movimento de resis-
tncia crist, cujos adeptos se refugiaram nas Astrias, ao Norte da pe-
nnsula e se organizaram para a reconquista, que aconteceu rdua e pau-
latinamente.
Estes cristos, que partiram do Norte para o Sul, conquistando ter-
ras e expulsando os mouros, levam consigo um romano latino cristo o galego-portugus , que se encontra com o morabe mais tarde, de cu-jo contato surge a lngua portuguesa.
Ao Norte da pennsula, surgem a Galiza dote que o rei de Leo e Castela, D. Afonso VI, ofereceu a D. Raimundo, ao se casar com sua fi-
lha legtima, D. Urraca, e o Condado de Portu Cale, feudo oferecido a D. Henrique, ao se casar com sua filha bastarda, D. Teresa.
A lngua falada destas duas regies era o romano galaico-
portugus; a administrao do Condado Portucalense era de responsabi-
lidade de D. Raimundo aos cuidados de D. Henrique. Com a morte de D.
Henrique, a viva assume o poder, mas surgem problemas familiares e
polticos, os quais obrigam o seu filho, D. Afonso Henriques, j senhor
daquele condado, a tomar o poder e se proclamar rei do condado, que ele
denomina reino de Portugal.
Depois de vrias batalhas, os cristos conseguem reconquistar as
terras ocupadas pelos morabes na Lusitnia e estabelecem, at Algarve,
os limites de Portugal, que s mais tarde reconhecido pelo rei de Espa-nha.
6. O Reino de Portugal e fundao da nacionalidade portuguesa
At que os mouros fossem expulsos totalmente, Portugal ia dife-
renciando-se cada vez mais da Galiza. E medida que isto acontecia, o
galego-portugus de Portugal, em contato com outros falares, o morabe
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico149
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
principalmente, se diferenciava mais e mais daquele falado na Galiza,
que permanecia estacionrio, empobrecido.
Nesse sculo XIII, de fundao da nacionalidade portuguesa e de
delimitao de seu territrio, a lngua portuguesa j apresentava uma ln-
gua literria as cantigas medievais de amor, em galego-portugus.
importante frisar que antes da segunda metade do sculo XIII,
quando Portugal firmou seus limites ao conquistar Algarves, no extremo
sul da pennsula, a lngua falada em Portugal j se distinguia daquela fa-
lada na Galiza.
Desta lngua no se tem registro, uma vez que, at ento, escrevia-
se em latim brbaro (lngua escrita de documentos oficiais, em que se ob-
servam indcios de uma linguagem oral), em documentos oficiais, e em
galego-portugus, na poesia. Nesse perodo, denominado proto-hist-rico, que se estende at o sculo XII, j que se verificam muitos vocbu-los portugueses em documentos escritos em latim brbaro desde o sculo
IX.
Daqueles textos em prosa, depreendem-se traos da lngua portu-guesa, que substituiu o latim brbaro e o galego-portugus mais tarde.
Logo, o portugus existiu durante muito tempo sem ser escrito.
7. Sntese da histria externa do portugus
Alguns autores dividem a histria da lngua portuguesa em fases
ou perodos, cujos critrios so muitas vezes divergentes. Leite de Vas-
concelos, em Coutinho (1976, p. 56-57):
a) poca Pr-Histrica (das origens at o sc. IX) surgem os primeiros documentos latino-portugueses, escritos num latim estranho (sem re-
gras) formao do romance falado na regio;
b) poca Proto-Histrica (do sc. IX ao sc. XII) textos redigidos em latim brbaro, nos quais se verificam palavras portuguesas, o que evi-
dencia o romance galaico-portugus; e
c) poca Histrica (a partir do sc. XII) textos redigidos em portu-gus. Esta poca deve ser dividida em duas fases: a arcaica (do sc.
XII ao sc. XVI) e a moderna (a partir do sc. XVI).
-
150 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
Estabelece-se, na poca histrica, a lngua portuguesa, que se
apresenta na escrita potica em forma de galego-portugus. A cantiga
No mundo non me sei parelha ou Cantiga da Guarvaya, de Paio Soa-res Taveirs, tem sido considerado o 1 texto (1189 ou 1198) nesse gale-go-portugus.
Tambm dessa poca a cantiga de amigo, atribuda ao rei D.
Sancho I, Cantiga da Ribeirinha. Essa trova, que provavelmente fora feita entre 1189 e 1199, quando D. Sancho I estivera na cidade da Guar-
da, em guerra, tambm pode ter sido o primeiro texto em portugus.
Cantiga da Guarvaya
No mundo non me sei parelha parelha igual, semelhante
mentre me forcomo me vay mentre enquanto, ao passo que
ca j moiro por vos e ay! ca pois, porque
mia senhor branca e vermelha,
queredes que vos retraya retraya retrate, reporte, descreva
quando vus eu vi en saya! saya roupa ntima para dormir
Mao dia me levantei,
que vus enton non vi fea!
E, mia senhor, des aquel di aya! me foi a mi muyn mal,
e vos, filha de don Paay
Moniz, e ben vuz semelha semelha parece
daver eu por vos guarvaya guarvaya manto de rei; respeito
pois eu, mia senhor, dalfaya dalfaya como mimo; prova de amor
nunca de vos ouve nem ei
valia dua correa. correa correia; coisa sem valor
(Apud MATTOS E SILVA, 2001, p. 22)
Cantiga da Ribeirinha
Ay eu coitada, como vivo en gran cuidado
por meu amigo que ei alongado! alongado afastado; longe
Muito me tarda
o meu amigo na Guarda
Ay eu coitada, como vivo en gran cuidado
por meu amigo que tarda e non vejo!
Muito me tarda
o meu amigo na Guarda
(Apud MATTOS E SILVA, 2001, p. 21)
Tambm pode ser considerado o 1 texto em portugus a cantiga
de escrnio atribuda a Joam Soares de Paiva Ora faz osto senhor de
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico151
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
Navarra, que fora tardiamente encontrada e que pertencera a D. Sancho I. Esta trova, que provavelmente de 1196 (ou 1200 ou 1214), faz refe-
rncias s batalhas entre o rei D. Sancho VII, de Navarro, e os reis D.
Afonso IX de Castela e D. Pedro II de Arago. Sabe-se que o rei de Na-varro saqueara as terras de Castela e de Arago, aproveitando-se do fato
de o rei de Castela estar distante, em Provena.
Ora faz osto senhor de Navarra
Ora faz osto senhor de Navarra, ost hoste, exrcito, tropa pois en Proen est el-Rei dAragon;
non lhan medo de pico nem de marra pico, marra armas de guerra
Tarraona, pero vezinhos son; Tarraona terras em Arago
nen an medo de lhis poer boon boon arma de guerra: arite
e rir-san muitEndurra e Darra; Endurra, Darra terras em Arago
mais, se Deus traj o senhor de Monon, Monon terras em Arago
ben mi cuideu que a cunca lhis varra. cunca apelido de Pamplona
Se lho bon Rei varr-la escudela escudela apelido de Pamplona
que de Pamplona ostes nomear, Pamplona terras em Navarra
mal ficar aquestoutr en Todela, Todela terras em Navarra
que al non /a/ que olhos alar;
ca verr i o bon Rei sejornar i a; sejornar repousar
e destruir at burgo dEstela Burgo dEstela terras em Navarra
e veredes Navarros lazerar lazerar sofrer
e o senhor que os todos caudela. caudela comanda
Quandel-Rei sal de Todela, estra estra mostra
ele sa ost e todo seu poder; sa sua
ben sofren i de trabalh e de pa pa peia, amarra para os ps
ca van a furt e tornan-s en correr; ca porque
guarda-s el-Rei, come de bon saber,
que o non filhe luz en terra alha, filhe alcance e onde sal, e sar torn a jazer onde donde; ar algum; jazer ao
jantar ou se non aa ca. [deitar
(Apud MATTOS E SILVA, 2001, p. 21)
Na prosa, o primeiro texto escrito em portugus foi o Testamento
de D. Afonso II, o terceiro rei de Portugal. Esse texto em prosa no arts-
tica foi escrito em 1214. Das 13 (treze) cpias que foram feitas, como consta no fim do documento, h uma no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (ANTT), em Lisboa, e outra, no arquivo da Catedral de Toledo.
Abaixo transcrevemos um trecho:
Testamento de D. Afonso II
Eno nome de Deus, Eu rei don Afonso pela gracia de Deus rei de Portu-
gal, seendo sano e saluo, temte o dia de mia morte, a saude de mia alma e a
-
152 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
proe de mia molier raina dona Orraca e de me(us)filios e de me(us) uassalos e
de todo meu reino fiz mia mda p(er) q(eu) depos mia morte mia molier e
me(us) filios e meu reino e me(us) uassalos e todas aq(eu)ls cousas q(eu)
De(us) mi deu en poder sten en paz e en folgcia. Primeiram(en)te mdo q(eu)
meu filio infante don Sancho q(eu) ei da raina dona Orraca agia meu reino en-
teg(ra)m(en)te e en paz. E ssi este for morto sen semmel, o maior filio q(eu)
ouuer da raina dona Orraca agia o reino entegram(en)te e en paz.
E ssi filio bar n ouuermos, a maior filia que ouuermos agiao...
(Apud MATTOS E SILVA, 2001, p. 22-3)
Segundo Coutinho (1976), o primeiro texto em prosa no-artstica
da lngua portuguesa o Auto da Partilha, que tambm um testamento,
de 1192. Contudo, essa data tem sido questionada e o texto no se apre-
senta totalmente em galego-portugus:
Auto da Partilha
In Christi nomine amen. Hec est notitia de partion, e de devison que fa-
zemos entre nos dos erdamentus, e dus Coutos, e das Onrras, e dous Padruadi-
gos da Eygreugas, que forum de nosso padre, e de nossa madre, en esta manei-
ra: que Rodrigo Sanches ficar por sa partion na quinta do Couto de Viiturio, e
na quinta do Padroadigo dessa Eygreyga en todolos us herdamentus do Couto,
e de fora do Couto: Vasco Sanchiz ficar por sa partion na Onrra Dulveira, e
no Padroadigo dessa Eygreyga, en todolos herdamentos Dolveira, e en nu ca-
sal de Carapezus de Vluar, e en noutro casal en Agiar, que chamam Quintaa:
Meen Sanchiz ficar por partyes do Patroadigo dessa Eygreyga, e no Padroadi-
go da Eygrega de Treysemil, e na Onrra e no herdamento de Darguiffe, e no
herdamento de Lavorados, e no Padroadigo dessa Eygreyga; Elvira Sanchez
ficar por sa partion nos herdamentos de Centegaus, e nas tres quartas do Pa-
droadigo dessa Eygreyga, e no herdamento de Treyxemil, assi us das sestas,
como noutro herdamento. Estas partioens, e divises fazemos antre nos, que
vallam por em secula seculorum amen. Facta Karta mensee Marcii, Era
MCCXXX. Vaasco Suariz testis Vermuu Ordoniz testis Meen Fanrripas testis Gunsalvu Vermuiz testis Gil Dias testis Dom Minon testis Mar-tim Periz testis Dom Stephani Suariz testis Ego Johanes Menendi Presbiter
notavit.
(Apud COUTINHO, 1976, p. 68)
Alm desse documento, de 1192, h tambm outro, o Testamen-to de Elvira Sanches, que seria de 1193, e a Notcia do Torto, que se-ria de 1206 ou 1211, sendo, portanto, os documentos mais antigos.
Entretanto, o padre Avelino de Jesus da Costa, em seu aprofunda-
do estudo Os mais antigos documentos escritos em portugus. Reviso de um problema histrico-lingustico (Revista Portuguesa de Histria, XVII, 1979, p. 263-310), digressiona acerca da datao daqueles textos,
at ento tidos como os mais antigos textos escritos em portugus, e
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico153
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
afirma que so do final do sculo XII os seus originais, escritos em latim,
lngua utilizada na elaborao dos documentos da poca, e que as verses
em galego-portugus so do sculo XIII, posteriores ao Testamento de D.
Afonso II, cuja data inquestionvel.
8. Concluso
Muito ainda se pode falar da trajetria do latim vulgar desde a
queda do Imprio Romano at a fundao do Reino de Portugal, perodo
em que se verifica uma parte da pr-histria e toda a proto-histria da
lngua portuguesa.
Nesse extenso perodo sete sculos (do Sc. V ao Sc. XII , uma srie de fatos histricos, muitos fenmenos lingusticos de formao
das lnguas romnicas e mudanas lingusticas de naturezas diversas fo-
ram fundamentais na histria externa do portugus.
a partir da descrio desses elementos que se pode ter uma compreenso slida da lngua portuguesa, solucionar vrios impasses
gramaticais e desmistificar certas asseres tericas, alm de desmitificar
o que se afirma acerca da origem da lngua.
Como se pode verificar, a lngua portuguesa originou-se do ro-
mance galaico-portugus, mais propriamente, que constitui o conjunto de
evolues do latim vulgar, cuja reconstituio polmica, por ter sido
uma lngua essencialmente falada.
No obstante, no se pode negar a possibilidade de se assinalarem
semelhanas entre as duas lnguas, apesar das diferenas que as particula-
rizam. De fato, o lxico do portugus basicamente o do latim vulgar,
que sofreu profundas mudanas; a tendncia formao de paroxtonas
no latim justifica o fato de o portugus ser uma lngua paroxtona; a ten-dncia ao analitismo latino determinou o fato de a lngua portuguesa ser
analtica; etc. Contudo, a lacuna entre a efetivao do latim vulgar e a do
portugus deveras grande e muitos foram os falares que se efetivaram
durante os sete sculos de formao da lngua portuguesa.
Para se chegar a esta concluso, apresentamos uma breve histria
da lngua portuguesa, acompanhada de digresses pontuais.
Estamos certos de que no se esgota neste artigo tal tema, mas es-
peramos ter contribudo para o estudo daqueles que se interessam pela
histria externa da lngua portuguesa.
-
154 Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de filologia romnica. Vol. I,
Histria externa das lnguas romnicas. S. Paulo: Edusp, 2005.
CMARA Jr., Joaquim Matoso. Histria e estrutura da lngua portu-guesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Padro, 1985.
CARVALHO, Garcia Dolores; NASCIMENTO, Manoel. Gramtica
Histrica. 3. ed., So Paulo: tica, 1969.
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de gramtica histrica. 7. ed. Rio
de Janeiro: Ao Livro Tcnico, 1976.
FARIA, Ernesto. Gramtica superior da lngua latina. Rio de Janeiro:
Acadmica, 1958.
______. Fontica histrica do latim. 2. ed. Rio de Janeiro: Acadmica,
1970.
HAUY, Amini Boainain. Histria da lngua portuguesa. So Paulo: ti-
ca, 1989.
MATTOS E SILVA, Rosa Virgnia. O portugus arcaico: morfologia e
sintaxe. 2. ed. So Paulo: Contexto, 2001.
______. O portugus arcaico: fonologia. 4. ed. So Paulo: Contexto,
2001a.
MATTOS, Geraldo; BOTELHO, Jos Mario. Fundamentos histricos da
lngua portuguesa. Curitiba: IESDE, 2008. (Videoaulas)
MAURER JR., Theodoro Henrique. Gramtica do latim vulgar. Rio de
Janeiro: Livraria Acadmica, 1959.
NASCENTES, Antenor. Elementos de filologia romnica. Organizado
por Jos Pereira da Silva. Rio de Janeiro: Botelho, 2009.
NETO, Serafim da Silva. Histria do latim vulgar. Apresentao de Ro-
salvo do Valle. Rio de Janeiro: Ao Livro Tcnico, 1977.
NUNES, Jos Joaquim. Compndio de gramtica histrica portuguesa.
7. ed. Lisboa: Clssica, [1969?].
SILVA, Jos Pereira da. Gramtica histrica da lngua portuguesa. Rio
de Janeiro: Edio do Autor, 2010.
-
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingustico155
Cadernos do CNLF, Vol. XVII, N 09. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013.
SILVA NETO, Serafim da. Histria do latim vulgar. Rio de Janeiro: Ao
Livro tcnico, 1977.
SILVEIRA, Sousa da. Lies de portugus. 10. ed., Rio de Janeiro: Pre-
sena, 1988.
TARALLO, Fernando. Tempos lingusticos. So Paulo: tica, 1990.
TEYSSIER, Paul. Histria da lngua portuguesa. Trad.: Celso Cunha. 2.
ed. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
VASCONCELOS, Leite. Lies de filologia portuguesa. Lisboa: [s.n.],
1926.