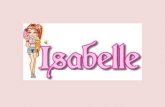Artigo Isabelle Carvalho de Oliveira Lima
-
Upload
rodrigovitral -
Category
Documents
-
view
41 -
download
1
Transcript of Artigo Isabelle Carvalho de Oliveira Lima

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 49
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS DIREITOS MORAIS DO AUTOR E A
INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO ART. 24º, § 1º DA LEI Nº 9.610/98
Isabelle Carvalho de Oliveira Lima1
RESUMO
Estudo acerca da (in)correção do art. 24, § 1º, da Lei nº 9.610/98, ao tratar da transmissão de direitos autorais, por morte do autor. Parte da análise da natureza dos direitos autorais, com ênfase nos chamados direitos morais do autor, enquanto direitos de personalidade. Observa-se que esses direitos morais, por sua própria natureza, são insuscetíveis de se vincularem a outra pessoa que não o autor, embora isso não impeça a sucessão nos direitos patrimoniais do autor, nem o surgimento de novos direitos morais próprios do cônjuge ou parentes do falecido.
Palavras-chave: Direitos autorais. Personalidade. Intransmissibilidade. ABSTRACT Scientific article about the accuracy or not of the art. 24, § 1º, from Federal Act nº 9.610/98, wich regulate the author's moral rights transmission by the time of its death. Starting from a moral rights' nature analyses, as being personality rights, one can notes that those rights are unable to be related to anyone but the author itself, although this is not an obstacle for the patrimonial copyrights' succession nor the successor's own moral rights acquirence.
Keywords: Moral rights. Personality. Intransmissibility.
INTRODUÇÃO
O homem está sempre a interferir na ordem natural das coisas, marcando o mundo
com seus objetos culturais. E, assim como quem executa algum serviço tem direitos relativos
à atividade desempenhada, ou quem manufatura bens tem direitos sobre o que produziu, quem
cria algo novo também passa a ter direitos sobre esse bem imaterial.
A propriedade intelectual, que se divide em industrial e autoral, conforme se preste à
reprodução comercial ou se destine exclusivamente à apreciação, tem, contudo, características
peculiares, que exigem ser estudadas separadamente da propriedade material.
Especificamente em relação à propriedade intelectual autoral, vê-se que o bem
imaterial é diretamente ligado ao autor, e esta circunstância traz implicações inclusive no
regime patrimonial a que esse bem se submete. Diante disso, passa-se a uma breve exposição
1 Mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, professora da Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste – SEUNE e Defensora Pública Federal. Email: [email protected].

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 50
acerca da tutela jurídica que se dá à ligação pessoal entre a obra e o autor (direitos morais), e
como essa circunstância interfere nos direitos sobre o bem imaterial após a morte do autor.
1 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS MORAIS
Independentemente das expressões adotadas (direito de autor, direito moral, direito de
paternidade, direito da propriedade intelectual, entre outras) é preciso esclarecer que são
vários os direitos ligados ao pensamento criativo humano, depois de exteriorizado (mas não
necessariamente divulgado), e não um só. De consequência, não há uma única natureza, como
já observou Pontes de Miranda (1974, tomo XVI, p. 10):
Os direitos autorais são um feixe de direitos. Se se põem a atenção e o interesse de pesquisa num dêles e se discute com outras pessoas, que atentam noutro e se interessam por outro, a natureza “do” direito autoral, nunca se chega a qualquer resultado aproveitável; e foi isso o que se fêz, quase sempre, durante mais de um século.
Identificam-se: (i)o direito autoral de personalidade, com suas características de
irrenunciabilidade, imprescritibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade; (ii) o direito
autoral de nominação, ou de ligar o nome à obra, que no Código Civil de 1916, art. 667, era
direito patrimonial, porque cedível, mas segundo Sílvio Rodrigues e Bevilácqua
(RODRIGUES, 1999, p. 239-240), com a revisão em Roma do art. 6º bis da Convenção de
Berna, a transimissibilidade estaria revogada, como também se vê, posteriormente, na Lei nº
9.610/98, art. 27; (iii) o direito autoral de exploração, expressão maior do direito patrimonial,
historicamente o primeiro a ter proteção legal.
Nenhum desses direitos se confunde com o direito de propriedade material, que recai
sobre a coisa corpórea em que se encontra inserido ou manifestado o bem imaterial.
Encontra-se o termo direito de autor, ou direito autoral, aplicado indistintamente a
qualquer um dos três direitos, ou aos três, ou só aos dois primeiros, daí surgindo a discussão
acerca da natureza jurídica do “direito de autor”. Mas de um modo geral, usa-se “direito de
paternidade” para o direito autoral de personalidade, direito moral para o direito autoral de
personalidade e para o de nominação (quando o sistema jurídico não lhe conferir
patrimonialidade), e direito de autor para o direito autoral de exploração, equivalente ao
copyright dos países da Common Law.
Segundo Pontes de Miranda (1974, tomo XVI, p. 30), os doutrinadores alemães
reservam a expressão Urheberecht (cuja tradução literal é direito de autor) para o direito de

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 51
nominação, e a expressão Verlagsrecht (cuja tradução literal é direito de edição) para o direito
de exploração, deixando de tratar do direito autoral de personalidade, também dito moral.
Há autores que não vislumbram a divisibilidade do feixe de direitos que constitui os
direitos autorais, qualificando o todo como direito individual, não desprendido da
personalidade, como Bluntschili, Lange, Dahn e Tobias Barreto. Outros, como Gerber e
Coelho Rodrigues, vêem o direito autoral como mero privilégio temporariamente concedido,
para aumento e progresso das letras, das artes e das ciências.2
2 HISTÓRICO
O direito autoral, tal como se vê hoje, foi delimitado internacionalmente em 1886, com
a Convenção de Berna. Antes, porém, já se reconhecia o direito de ligar o nome à obra,
necessidade que se percebeu após o surgimento da imprensa, meio facilitador da reprodução
de obras literárias e científicas.
Aponta-se a origem do direito do autor ainda no direito romano. Entretanto, a proteção
idealizada à época não distinguia o bem imaterial, verdadeiro objeto do direito autoral, e o
bem material em que a ideia estava metida3. Assim, para os romanos, com o objeto corpóreo
se transmitiam os direitos sobre a criação, remunerando-se o autor pelo material e pelo
imaterial, no momento da alienação onerosa.
O reconhecimento do direito de autor na Antiguidade era, pois, preponderantemente
patrimonial. Tal aspecto se acentuou durante a Idade Média, quando toda a produção
científica, artística e literária era realizada anonimamente sob o domínio da Igreja. Somente
durante o Renascimento é que houve uma revalorização do autor, do artista, do cientista, ao
menos na Europa continental.
Com a facilitação dos meios de reprodução das obras, surgiu a preocupação com a
tutela dos interesses patrimoniais dos editores, questão resolvida através de outorga, pelos
governos, de privilégios de monopólio. A legislação passou a proteger o direito patrimonial de
exploração, tutelando em primeiro plano os direitos do editor, e só secundariamente os do
autor4.
2 A referência a essas correntes e seus defensores foi extraída de Pedro Orlando. Direitos autorais. 3 Como os princípios da propriedade só eram aplicáveis aos bens materiais, no caso da obra artística eles recaíam tão somente sobre o denominado “corpus mechanicum”, ou seja, sobre a “res” corpórea em que se consubstanciava o conteúdo etéreo e incorpóreo da obra. (EBOLI, 2007, p. 3). 4 Assim destaca Ascensão (1980, p. 1): Mas a proteção estabeleceu-se não em proveito dos autores, mas em proveito dos editores. Tendo estes, feito investimentos que necessitavam ser protegidos de atividades concorrentes, foram-lhes atribuídos privilégios de impressão, que se subsumiam, portanto, na categoria de monopólio. Foi esta a primeira conceituação jurídica dos direitos resultantes de criação intelectual.

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 52
Somente com o Statute of Ana, em 1710, a tutela foi redirecionada do editor para o
autor, porém ainda guardando o caráter eminentemente patrimonial. Mas o grande marco do
fim dos privilégios foi o Decreto da França Revolucionária, de 19 – 24 de julho de 1793
(SOUZA, 1998).
Inúmeras legislações surgiram pelo mundo, a exemplo do citado decreto francês, mas
de um modo geral os governos só protegiam os autores nacionais, e excepcionalmente os
estrangeiros residentes no território nacional (EBOLI, 2007, p. 7). Foi quando começou a
surgir a necessidade de proteção internacional, inaugurada com o tratado de comércio franco-
sardo, de 1843, e consolidada com a convenção de Berna de 1886.
No Brasil, Pedro Orlando e João Carlos de Camargo Eboli apontam a Lei da Fundação
dos Cursos Jurídicos em São Paulo e Olinda, de 11 de agosto de 1827, como a primeira
previsão legal acerca de direitos autorais, pois ela estabeleceu o privilégio exclusivo, por dez
anos, dos compêndios preparados pelos professores, quando aprovados pelas respectivas
congregações. Vê-se que a proteção abrangia apenas o conteúdo patrimonial dos direitos de
autor.
Seguiram-se a essa lei previsões penais quanto a infrações a direitos de autor, primeiro
no art. 261, do Código Criminal de 1830, e depois nos arts. 342 a 350, do Código Criminal de
1890 (Decreto nº 847, de 11.10.1890). Entretanto, mais uma vez, esses dispositivos não
consideravam os direitos morais, mas tão somente os patrimoniais.
A Lei nº 496, de 1898, tratou dos aspectos não criminais do direito autoral, e começou
a tutelar os direitos morais5, embora não tenha reconhecido expressamente a existência de tais
direitos como direitos autônomos e não patrimoniais. Seguiu a mesma linha o Código Civil de
1916, nos arts. 649 a 673, sob o título “da propriedade literária, artística e científica”. O
disposto no antigo Código Civil foi revogado pela Lei nº 5.988/73, que pela primeira vez no
ordenamento jurídico brasileiro reconheceu expressamente a existência de direitos morais ao
lado dos direitos patrimoniais de autor. A Lei nº 5.988/73 foi revogada pela Lei nº 9.610/98,
que regula atualmente a matéria.
5 Art. 4º. § 2º Fica sempre salvo ao autor, por occasião de cada nova edição, emendar ou reformar sua obra, ou rehaver seus direitos sobre ella, comtanto que restitua ao cessionario o que delle houver recebido em pagamento, metade do valor liquido da edição anterior. Art. 5º A cessão ou herança, quer dos direitos de autor, quer do objecto que materialisa a obra de arte, litteratura ou sciencia, não dá o direito de a modificar, seja para vende-la, seja para explora-la por qualquer fórma. Art. 7º Os credores do autor não podem durante a vida delle apprehender os seus direitos; mas tão sómente os rendimentos que dahi lhe possam advir. Art. 15. Toda execução ou representação publica total ou parcial de uma obra musical não póde ter logar sem consentimento do autor, quer ella seja gratuita, quer tenha um fim de beneficencia ou exploração. Todavia, si ella for publicada e posta á venda, considera-se que o autor consente na sua execução em todo o logar onde não se exija retribuição alguma.

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 53
Em nível constitucional, os direitos autorais (mais claramente os patrimoniais) estão
protegidos desde a Constituição de 18916, excetuando-se a Constituição de 1937.
3 (IN)TRANSMISSIBILIDADE DOS DIREITOS MORAIS
A Lei nº 9.610/98, que atualmente regula a matéria no Brasil, divide os direitos
autorais em morais e patrimoniais, incluindo nos primeiros o de reivindicar a autoria da obra,
o de ligação do nome (ou pseudônimo ou sinal convencional) na utilização da obra, o de
conservá-la inédita, o de assegurar a integridade da obra e o de modificá-la (inclusive depois
de utilizada), o de retirar a obra de circulação, e o direito de acesso. Já entre os direitos
patrimoniais de autor, a mencionada Lei inclui os de utilizar, fruir e dispor da obra, de
maneira exclusiva, facultando-se ao autor a cessão de tais direitos, ou a autorização prévia e
expressa para que terceiro os exerça.
Quanto aos direitos morais, a Lei impõe serem intransmissíveis e irrenunciáveis, o que
faz concluir que os chamados direitos morais do autor têm natureza de direitos de
personalidade natos7. Isso porque: (i) são destacados dos direitos patrimoniais, donde ressalta
a ausência de conteúdo econômico; (ii) são intransmissíveis, donde se vê a ligação íntima e
necessária com a personalidade do titular, de modo que não se admite, a nenhum título, a
ligação desses direitos a pessoa diversa do autor; (iii) são irrenunciáveis, donde se vê que,
além de não poderem ser ligados a outrem, não pode o autor se desvincular deles, sendo
direitos que acompanham eternamente o seu titular, da mesma forma que o direito à vida, o
direito de ter nome, o direito à integridade física, à dignidade, entre outros.
Por fim, ainda que a Lei assim não dispusesse, tais direitos, por sua própria natureza,
jamais poderiam ser titularizados por terceiros: só pode reivindicar a autoria de uma obra
quem a tenha; só pode exigir a abstenção de modificações na obra, atentatórias a sua
reputação ou honra, o sujeito da reputação ou honra. O que os terceiros podem ter são direitos
correlatos, mas próprios, de natureza diversa, como, por exemplo, o direito à verdade, ou o
6 Até a Constituição de 1946, inclusive, falava-se de direito exclusivo do autor (e de seus herdeiros pelo tempo que a lei fixasse) reproduzir suas obras, acentuando assim a porção patrimonial dos direitos autorais – Constituição de 1891: art. 72, § 26; Constituição 1934: art. 113, n. 20; Constituição de 1946: art. 141, § 19; a partir da Constituição de 1967, passou-se a tratar do direito do autor utilizar a suas obras, conceito bem mais amplo, no qual pode ser divisado, além do aspecto patrimonial, o moral ou pessoal – Constituição de 1967: art. 150, § 25; Emenda Constitucional n. 1/69: art. 153, § 25; Constituição de 1988: art. 5º, XXVII. 7 Nem todos os direitos de personalidade têm como cerne do suporte fático a personalidade ou o fato de ser humano. Além dos direito inatos de personalidade, há aqueles, como os morais de autor, que dependem de fato posterior ao nascimento, e se originam, assim, de um exercício do direito de liberdade, como explica Pontes de Miranda (1974, tomo VII, 4. ed. 1974, p. 123-124).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 54
direito à incolumidade de seu bem imaterial (aí desvinculada de qualquer atentado a reputação
ou honra).
3.1 Contradição entre os textos do artigo 27 e do § 1º do artigo 24 da Lei nº 9.610/98
A despeito do que se expôs no item anterior, isto é, da clara atribuição de natureza
jurídica de direito de personalidade aos direitos morais do autor, marcados pela
intransmissibilidade e pela irrenunciabilidade, a mesma Lei nº 9.610/98 dispõe em seu art. 24,
§ 1º, o seguinte:
Art. 24. São direitos morais do autor: I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra inédita; III – o de conservar a obra inédita; IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; [...] § 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.8
O texto acima reproduzido está em patente contradição com o que dispõe o art. 27 da
mesma Lei: os direitos autorais morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.
A grande maioria da doutrina (inclusive internacional) concorda que os direitos morais
de autor são direitos de personalidade, intransmissíveis e irrenunciáveis9. Não obstante,
disposição semelhante à do art. 24, § 1º, da Lei nº 9.610/98 pode ser vista na legislação de
diversos outros países, como na França e na Alemanha, e mesmo na Convenção de Berna, da
qual o Brasil é signatário:
8 O texto deste artigo constitui reprodução exata do art. 25, com seus incisos e § 1º da Lei nº 5.988/73, que tratava dos direitos autorais, antes da Lei nº 9.610/98 entrar em vigor. 9 Le droit moral est inaliénable entre vifs, ce qui est la conséquence de son caractère personnel. Ce principe se retrouve dans toutes les législations étudiées. Ainsi, cette affirmation figure à l’alinéa 3 de l’article L 121-1 CPI: « Il [le droit au respect de la paternité et de l’intégrité de l’œuvre] est perpétuel, inaliénable et imprescriptible». Au Royaume Uni, l’article 94 du CPDA dispose: « The rights conferred by Chapter IV (moral rights) are not assignable”. De même, l’article106A (e) du VARA prévoit que: « The rights conferred by subsection (a) may not be transferred” Enfin, l’article 29 de la loi allemande stipule que: « (1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. (2) Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte."” LEBATARD, François-René. De Rome à Rome? Perspectives du droit moral. Master course in european intellectual property law, Stockholm University, Department of law, setembro de 2003. Disponível em: <http://www.gitton.net/dtmoralweb.htm>. Acesso em: 21.out. 2007.

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 55
Artigo 6-BIS [...] 2) Os direitos reconhecidos ao autor em virtude da alínea 1) supra10 são, após a sua morte, mantidos pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e exercidos pelas pessoas ou instituições às quais a legislação nacional do país em que a protecção é reclamada dá legitimidade. Todavia, os países cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Acto ou da adesão a este, não contenha disposições assegurando a protecção após a morte do autor de todos os direitos reconhecidos por virtude da alínea 1) supra têm a faculdade de prever que alguns desses direitos não se mantêm após a morte do autor.
Infelizmente, a técnica legislativa nem sempre corresponde ao apuro e precisão que o
Direito requer. Em tais situações, cabe ao jurista extrair do texto, às vezes imperfeito ou
contraditório, um sentido harmônico e lógico.
Pois bem. Os direitos morais de autor são direitos de personalidade. E os direitos de
personalidade são, entre outros, intransmissíveis. A intransmissibilidade dos direitos de
personalidade não diz respeito apenas à alienação em vida, como se fosse mera limitação da
autonomia da vontade de seu titular, que a despeito de tal “intransmissibilidade” poderia ver
seu direito transferir-se a outrem, por ocasião da morte. Se assim fosse, não haveria de se falar
em intransmissibilidade, mas tão somente em indisponibilidade, como se faz com os bens
gravados com cláusula de inalienabilidade (intransmissíveis apenas por negócio inter vivos).
A tutela dos direitos autorais pode ser justificada de duas formas: (i) pela valorização
do indivíduo, que, num ato de criatividade, de trabalho intelectual, criou algo novo, e que por
isso mesmo lhe pertence, podendo dispor dessa obra (bem imaterial) da maneira que lhe
aprouver – neste caso, o valor cultural contido na criação ou o interesse social que ela possa
encerrar são secundários, porque decorrentes do ato de liberdade individual do autor11; (ii) ou
pode-se justificar a tutela jurídica dos direitos autorais como uma retribuição que a sociedade
dá àquele que mais diretamente se envolveu com a criação do bem cultural.
Na primeira hipótese, tem-se uma visão liberal ou individualista da natureza da
propriedade intelectual, e como consequência disto, como a morte do autor, a maior porção
possível dos direitos autorais (não só os claramente patrimoniais) deveria subsistir, passando
ao patrimônio dos sucessores do autor, conservando-se assim a natureza privatística do bem
imaterial.
10 1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão dos referidos direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da obra ou a qualquer outro atentado contra a mesma obra, prejudicial à sua honra ou à sua reputação. (artigo 6-BIS,1, da Convenção de Berna). 11 Os seres humanos são produtivos de obras, em que se insere o seu engenho, a sua aptidão artística, literária, científica, ou industrial. Não é todo o grupo que se empenha na mesma obra. A divisão de trabalho, entre homens, faz-se de tal maneira que algo fica a cada indivíduo, ou a alguns indivíduos, pela relevância do valor individual. (PONTES DE MIRANDA, 1974, tomo VII, p.139).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 56
Na segunda hipótese, tem-se uma visão socialista da propriedade intelectual, marcada
pela crença de que, sendo o homem produto do meio, os traços de personalidade que o autor
depositou na obra foram apenas reflexo dos talhos que a sociedade insculpiu no homem.
Como consequência, a proteção dos direitos autorais seria apenas instrumental, enquanto o
interesse social no bem cultural seria o principal objeto juridicamente tutelado. Devidamente
retribuído o autor, com a tutela de seus direitos em vida, nada mais era devido pela sociedade
aos sucessores, que não foram a causa imediata do surgimento da obra. Em razão disto, os
direitos autorais morais durariam apenas o tempo da vida do autor.
Mas dessa visão socialista pode surgir uma justificativa para a transmissão dos direitos
morais de autor, por sucessão causa mortis, desde que se entenda que a finalidade precípua da
tutela desses direitos é de incentivo, e não de retribuição. Limitar a tutela dos direitos morais
do autor apenas ao tempo em que este vivesse desatenderia aos interesses sociais, na medida
em que o autor não se sentiria seguro para criar livremente, uma vez que as obras expostas
não estariam salvas de futuras deturpações, de usurpação ou omissão da autoria, entre outros,
e as obras que o autor reputasse de menor qualidade, ou que por outro motivo de foro íntimo
desejasse manter afastadas do público, poderiam ser divulgadas após sua morte sem que nada
pudesse ser oposto a isso.
Chaves (1985), numa visão extremamente individualista da natureza dos direitos
morais de autor, entende que o direito de conservar a obra inédita, correlato do direito de
divulgação, poderia ser exercido mesmo por meio de disposição de última vontade, devendo
ser assim respeitado:
Enquanto a obra não for publicada, ninguém, além do autor, tem direito sobre ela, reconhecendo-se àquele até mesmo a possibilidade de, embora com ato de última vontade, impedir a sua divulgação. [...] O autor é o árbitro absoluto da conveniência, da ocasião, do modo e do lugar da divulgação da obra. Enquanto isso não ocorrer, ninguém, a não ser ele, tem qualquer direito sobre a mesma, reconhecendo-se-lhe até mesmo a possibilidade, embora por ato de última vontade, de impedir sua divulgação. (CHAVES, 1985, p. 80 e 82).
Esta tese não merece guarida. Mesmo para os que seguiam a corrente individualista,
esta deve servir para justificar o fundamento dos direitos morais enquanto eles existam. Já a
pretensão de que sejam eternos, ou de que ultrapassem a vida do autor, não pode ser
juridicamente sustentada.
A afirmação de que os direitos morais seriam direitos de personalidade sui generis, e
que por essa singularidade poderiam, diferentemente dos demais direitos de personalidade, ser
transmitidos a causa de morte não convence, pois é fato que a todo direito corresponde um
dever, e que os direitos e deveres devem ter por titulares algum sujeito. A capacidade de ser

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 57
sujeito é a personalidade, que, no que se refere às pessoas físicas, se adquire com o
nascimento com vida, e dura até o instante imediatamente anterior à morte. Mesmo a
salvaguarda dos direitos do nascituro só se aperfeiçoa caso este venha a nascer com vida, isto
é, o que se salvaguarda é o direito de alguém dotado de personalidade. Não se pode falar em
interesses ou direitos de um morto, pois este não tem personalidade, nem virá a ter.
Pois bem. Os direitos morais são do autor, e com a extinção da personalidade deste
não podem subsistir destitularizados, nem se pode pretender que permaneçam ligados a quem
já não existe. Em nenhum outro ramo do direito se admite que o morto seja sujeito ativo ou
passivo de qualquer direito que seja.
Poder-se-ia, apressadamente, tomar o exemplo dos crimes contra o respeito aos mortos
(arts. 209 a 212, do CP), ou o de calúnia contra os mortos (art. 138, § 2º, do CP e art. 24 da
Lei de Imprensa). Ocorre que o bem jurídico tutelado não é a honra do morto (que por já não
ser, também nada tem, nem mesmo a honra), mas sim a honra de seus parentes, que é passível
de ser atingida por alguma agressão à memória do parente falecido.
Nos termos do art. 138, § 1º, “é punível a calúnia contra os mortos”. Evidentemente, o morto não pode ser sujeito passivo do crime, já que, não sendo titular de direitos, não tem mais o atributo da honra, que não sobrevive a seu titular. A ofensa é feita, portanto, não à pessoa do morto, mas à sua memória, e os sujeitos passivos serão os parentes, interessados na preservação do bom nome do morto pelo reflexo que podem sofrer pela ofensa. (MIRABETE, 2000, p. 155, aspas no original).
Ou o bem tutelado pode ser o sentimento dos parentes e amigos, ou demais integrantes
da comunidade, que não podem ser desrespeitos12. Hungria (1981), ao tratar do crime de
vilipêndio de cadáver, deixa muito claro que o sentimento ou honra dos parentes e amigos não
é uma extensão ou continuação dos sentimentos e honra do morto, chegando a afirmar, com
propriedade, que o fato de o morto haver permitido, ainda em vida, a prática do ato desonroso,
não afastará a ilicitude penal. Afirma o autor: “O crime não é excluído ainda quando tenha
sido autorizado pelo de cujus, em disposição de última vontade, pois está em jogo interesse de
ordem pública, qual a preservação do sentimento de respeito aos mortos. (HUNGRIA, 1981,
p. 75).
12 A realidade é que no homem existe respeito para os que morreram, para os que se foram desta vida em demanda a um estado que importa uma ordem sobrenatural e que se acha acima da razão humana. Mas mesmo para os que não crêem, para os materialistas e agnósticos, existe sempre respeito aos mortos, seja pela piedade, seja porque a dignidade da criatura humana a acompanha ao túmulo. É esse o objeto jurídico tutelado. É o sentimento de respeito para com os mortos, direito do qual é titular a pessoa viva. Interessa também à coletividade sua defesa, pois dito sentimento se apóia na ética e condiz com a civilização, motivo por que o Estado não se pode mostrar indiferente às infrações contra ele. (NORONHA, 1971, p. 73)

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 58
Ora, se a consideração da vontade do morto não é juridicamente relevante nem mesmo
para excluir a ilicitude penal de uma conduta, quanto mais para privar a sociedade de um bem
que pode ter valor cultural significativo.
3.2 Impossibilidade de se ligar o direito moral a outra pessoa que não o autor
Pelos motivos acima expostos, vê-se que os direitos morais não resistem incólumes à
morte do autor. Resta saber se eles são transmitidos aos herdeiros, como textualmente diz a
Lei nº 9.610/98, ou se a interpretação do §1º, do art. 24 da Lei nº 9.610/98 deve ser outra,
menos literal e mais em conformidade com o art. 27 do mesmo diploma legal.
Suceder a outrem significa colocar-se no lugar do sucedido. O direito há de
permanecer o mesmo, com a mesma extensão, a mesma natureza, o mesmo sujeito passivo (se
a sucessão diz respeito a um direito, pois se disser respeito a um dever, dá-se o oposto), porém
com sujeito ativo diverso.
Ocorre que os direitos morais, por sua própria natureza, são insucessíveis. Observe-se
o direito de reivindicar a autoria da obra (art. 24, I, da Lei nº 9.610/98), por exemplo.
Titularizado pelo autor, este tem a faculdade de exigir que se faça menção ao fato de que ele,
titular do direito, é o autor do bem imaterial. Quando “transmitido” aos herdeiros, a estes não
é dado exigir que se faça menção de serem eles os autores do bem imaterial, mas sim o de
cujus.
O caso é outro quando se trata do direito patrimonial do autor. Enquanto titularizado
pelo autor, a este cabe explorar economicamente a obra, seja diretamente, seja indiretamente.
Depois de transmitido aos herdeiros, estes podem, em nome próprio, explorar
economicamente a obra, de maneira direta ou não. Os poderes que o autor tinha são
exatamente os mesmos que os herdeiros passam a ter, de maneira derivada. A diferença em
relação aos direitos morais ressalta.
O que se percebe é que os herdeiros sucedem o autor nos direitos patrimoniais, mas
não nos direitos morais, que são de personalidade, muito embora incorporem em seus
patrimônios direitos novos, como o de exigir que se faça menção ao de cujus como sendo o
autor da obra, inclusive de ver o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor indicado
ou anunciado na utilização do bem (direitos diversos dos previstos no art. 24, I e II, da Lei nº
9.610/98), o de assegurar a integridade da criação (que não se confunde com o previsto no art.
24, IV, porque aqui a defesa é da propriedade do bem imaterial, que é a obra, e não da
reputação ou honra do herdeiro, que é impassível de ser atingida por modificações de obra

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 59
que não criou) e o de conservar a obra inédita. Este último não tem o condão de impedir o
surgimento dos direitos patrimoniais sobre o bem imaterial.
O direito de conservar a obra inédita, que os herdeiros têm, nada mais é do que
decorrência de seu direito de liberdade, no qual está contida a faculdade de divulgá-la ou não.
É diferente do direito previsto no art. 24, III, da Lei nº 9.610/98, porque este decorre do fato
de a obra estar intimamente ligada a seu criador, tendo sua divulgação repercussão direta na
reputação, moral e imagem do autor. O direito do art. 24, III, da Lei nº 9.610/98 chega mesmo
a encobrir os direitos patrimoniais, tão forte é a proteção à esfera moral do autor. Mas não é a
esse direito, como se viu, que fazem jus os herdeiros do autor.
A conclusão a que se chega não pode ser outra que não esta:
Nasçam com a pessoa, ou se adquiram depois, os direitos de personalidade são intransmissíveis. [...] Toda transmissão pressupõe que uma pessoa se ponha no lugar de outra; se a transmissão se pudesse dar, o direito não seria de personalidade. Não há, portanto, qualquer subrogação pessoal; nem poderes contidos em cada direito de personalidade, ou seu exercício, são suscetíveis de ser transmitidos ou por outra maneira outorgados. (PONTES DE MIRANDA, 1974, p. 7-8).
Assim, não seria juridicamente aceitável a solução tradicionalmente adotada pelo
direito alemão, que admite a transmissibilidade dos direitos morais do autor a seus herdeiros
enquanto durar o direito patrimonial. A transmissibilidade dos direitos morais, nesse caso, é
consequência da teoria monista, que entende o direito autoral como uma unidade composta de
poderes ou faculdades patrimoniais e poderes e faculdades morais13. Não sendo possível
desconstituir tal unidade, na transmissibilidade dos direitos patrimoniais estaria contida a dos
direitos morais.
Ocorre que mesmo os monistas reconhecem que a morte do autor acarreta a extinção
de alguns dos aspectos morais do direito de autor, como o direito de modificação da obra.
Haveria aí impossibilidade de tal direito se ligar a outra pessoa que não o autor. O que alguns
deixam de perceber é que nenhum dos direitos morais pode ser ligado a outrem. Os que
puderem, como já dito acima, não serão direitos morais.
13 [...] Somos da corrente que entende que o direito moral não pode ser concebido como um direito distinto do direito patrimonial de autor. O direito moral e o direito patrimonial são dois aspectos de um mesmo direito de autor. Esta teoria monista é seguida atualmente pela quase unanimidade dos doutrinadores alemães e a lei autoral de 9 de setembro de 1965 tirou as consequências, estruturando um direito de autor como um todo intransferível entre vivos. (HAMMES, 1978, p. 149).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 60
3.3 Dependência dos direitos patrimoniais em relação direitos morais
Partindo-se do pressuposto de que existe certa autonomia entre os direitos morais e os
direitos patrimoniais do autor (teoria francesa ou dualista14), pode se considerar que eles,
embora estejam ligados ao mesmo fato (da criação intelectual), não surgem no mesmo
instante.
La conséquence de cette distinction est que les deux types de droits ont un régime différent. Le droit moral apparaît dès la première étape de la création alors que les droits patrimoniaux ne naissent qu’après l’exercice du droit de divulgation. Les droits patrimoniaux sont cessibles et limités dans le temps alors que le droit moral est inaliénable et perpétuel. (LEBATARD, 2003).
Com o ato de materialização da obra, tem-se o surgimento do bem intelectual. Antes
disso, os pensamentos do autor, por mais criativos e detalhados que sejam, não podem ser
considerados bens, porque o Direito só cuida daquilo que tenha relevância intersubjetiva.
A obra, desde quando surge, já traz em si a marca da personalidade do autor. Criador e
criatura desde o início estão ligados, e por esta razão, os direitos morais do autor são
diretamente irradiados do fato (ato-fato jurídico) da criação.
Mas nem toda obra é destinada à mercancia, ou a alguma outra forma de exploração
econômica. A mera decisão de publicar a obra, possibilitando sua utilização econômica, já
repercute na porção personalíssima da esfera jurídica do autor, interferindo positiva ou
negativamente em sua reputação. Se os direitos patrimoniais surgissem no mesmo instante dos
morais, e independentemente deles, argumenta-se que seria possível que o credor de um autor
indicasse à penhora o direito patrimonial de exploração de alguma obra deste, ainda que não
tivesse sido publicada. Mesmo que a criação não tivesse sido tencionada à exposição pública.
O direito patrimonial se colocaria à frente do moral, e não é o que ocorre15.
É por esta razão que alguns, como Chaves (1985), entendem que o exercício do direito
de publicação é um requisito para a patrimonialização da obra, isto é, uma vez exercido o
direito de publicação, são gerados os direitos patrimoniais sobre o bem imaterial.
Do exercício, pelo autor, do seu direito exclusivo de divulgar sua obra, surge então, em virtude da lei positiva, um direito diferente: o de impedir publicações feitas por outrem, que o defraudariam da justa retribuição do seu trabalho. Este direito tem natureza eminentemente patrimonial, cuja idéia [sic] fundamental pode ser simplificada para a de um monopólio econômico. (CHAVES, 1985, p. 79).
14 Pode-se dizer que a teoria dualista foi a adotada pela Declaração Universal do Homem, de 1948, que em seu art. 27, item 2, reconhece que os autores têm direitos morais e patrimoniais. 15 “L’œuvre non divulguée est insaisissable, les créanciers de l’auteur ne peuvent forcer l’auteur à divulguer une œuvre afin de récupérer les fruits de son exploitation”. (LEBATARD, 2003).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 61
O inconveniente em defender que os direitos patrimoniais só surgem depois do
exercício do direito de divulgação é que, sendo este último personalíssimo, caso o autor
morresse antes de exercê-lo, ou declarando expressamente sua vontade de não divulgar a obra,
esta jamais poderia ser explorada economicamente, porque os direitos patrimoniais não teriam
surgido, nem jamais surgiriam. O não exercício do direito de divulgação, pelo autor,
condicionaria a conduta de todos mesmo após a sua morte, e já se viu que não se pode aceitar
tal situação, em que continue a existir direito cujo titular não mais existe.
Mas, ainda que superada a ideia de que o respeito ao autor sobrevivesse a este mesmo,
vê-se buscar no Direito algum meio de proteção transcendental aos anseios do autor, já não
como respeito à vontade de quem um dia foi pessoa, mas como proteção dos que ficam,
autores em potencial.
O progresso técnico levou o Direito a criar mecanismos de defesa e proteção para a inteligência humana (editores e impressores). Aos poucos desenvolveu-se a consciência de que o criador dos conteúdos impressos deveria ser protegido. Ele é o promotor da cultura que capacita o homem a descobrir e desenvolver o seu ser numa dimensão a mais ampla possível, inclusive a dimensão transcendental. O progresso da cultura está historicamente condicionado ao respeito, ao estímulo e ao lugar de destaque que a comunidade humana confere ao criador da obra intelectual. O reconhecimento do Direito de Autor tem-se mostrado um fator de progresso cultural. (HAMMES, 1983, p. 1).
Quer dizer, quem entende, como Hammes (1983), que a tutela jurídica dos direitos
autorais se faz como incentivo à atividade criadora, para que assim as pessoas produzam mais,
dotando a sociedade de arte e progresso, a previsão de um direito mais longo que a vida do
autor faria com que os autores em potencial, confiantes na possibilidade de preservarem
inéditas suas obras conforme sua conveniência, ou enquanto seus próximos puderem ser
atingidos (não diretamente, por algo infamante a eles mesmos, mas por algo revelador ou
desconcertante), produzissem à vontade, sem pudores, sem receios. Conquanto, no primeiro
momento, a sociedade ficasse privada daquelas obras, passado um certo tempo, o legado
cultural amealhado seria muito maior do que se, por medo da divulgação de seus trabalhos
imediatamente à sua morte, os autores em potencial destruíssem suas criações, ou mesmo
evitassem materializá-las.
E não se diga que toda criação intelectual é feita com o intuito de um dia ser tornada
pública16-17. O que move alguém a pintar um quadro, criar uma escultura, compor um verso
16 A criação artística, literária e científica é, na verdade, essencialmente comunicativa, no sentido que nenhum escritor, nenhum artista, nenhum sábio dedica-se anos a fio à sua atividade para seu uso exclusivo, e sim com a finalidade de transmitir a outrem, através da sua divulgação, o resultado de seus esforços. (CHAVES, 1985, p. 77). 17 O escritor de uma obra de carácter técnico científico, por outro lado, tem interesse em ser citado em obras de outros autores e, longe de desejar impedir que outros fruam de suas idéias [sic] , sente-se honrado com a menção que fazem a seu trabalho. (VIANNA, 2006, p. 445).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 62
ou escrever um livro nem sempre é a necessidade de aclamação, a busca de fama. Muitas
vezes o é. Porém não se pode rejeitar a possibilidade de que se crie para deleite próprio, ou
como terapia, como forma de se livrar de inquietações. O autor nem sempre tem a
preocupação com o legado cultural que seu trabalho pode oferecer ao mundo (por vezes até
tem preocupação com o desserviço que certa obra sua, auto-avaliada como menor, possa
prestar ao público, ou à sua própria reputação artística). Aos homens é dada essa atitude
individualista ou mesquinha, e o Direito a protege, enquanto expressão da liberdade do autor
(os motivos que ele tenha para tornar a obra inédita são irrelevantes, ou podem mesmo não
existir).
A pergunta que se põe é se seria juridicamente sustentável uma defesa dessa opção,
que leva em consideração apenas o interesse imediato do autor em detrimento do interesse
mediato da comunidade, mesmo depois da morte daquele, ou se a proteção ao direito autoral,
assim, seria um meio de realizar um interesse social, de acesso à cultura, e de realização plena
da dignidade humana, em sentido coletivo, muito mais do que um respeito exacerbado à
dignidade privada, e às vezes egoísta, daquele que só foi capaz de criar porque a comunidade
lhe proveu de ambiente e oportunidade adequados.
Na resposta a esse questionamento, deve-se ponderar que os benefícios mediatos ou
indiretos trazidos à coletividade pela proteção estendida dos direitos morais seriam
fundamentos para que se considerasse justa ou útil a proteção, mas não para torná-la
juridicamente viável. É que, como já dito antes, o prolongamento temporal dos direitos
morais, mesmo que socialmente justificável de um lado, implicaria a situação teratológica de
se impor um dever sem que houvesse direito correlato, ou de se identificar o direito, mas sem
lhe atribuir algum titular.
3.4 Interpretação adequada do § 1º, do art. 24 da Lei nº 9.610/98
A correta interpretação do § 1º, do art. 24 da Lei nº 9.610/98, que respeita a natureza
dos direitos morais do autor e se encontra em harmonia com o art. 27 da mesma Lei é de que
não ocorre verdadeira transmissão dos direitos morais previstas nos incisos de I a IV do art.
24, mas sim que os herdeiros passam a ser titulares, originariamente, de quatro direitos
próprios, assemelhados aos previstos naqueles incisos, mas diferentes.
Os direitos de personalidade cessam com a morte do titular; todavia, os titulares do direito à defesa da verdade, ou da honra dos mortos, bem como os titulares do direito patrimonial de autor são legitimados às respectivas ações e à questão prejudicial da identificação pessoal da obra. (PONTES DE MIRANDA, 1974, tomo VII, 149).

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 63
Mesmo quando parecem ser transmitidos aos herdeiros alguns direitos de
personalidade, o que se tem é a extinção dos direitos do de cujus e o reconhecimento de
direitos próprios dos sucessores. É o caso, por exemplo, do direito ao segredo, à intimidade e
outros, que são de personalidade, e por isso mesmo se extinguem com a personalidade, com a
morte. O que resta ao cônjuge, descendentes, ascendentes e irmãos é direito à honra (à própria
honra, direito próprio), que pode ser atingido pela divulgação de certos segredos ou
intimidades.
Mas o direito autoral de personalidade é direito diverso do segredo e da intimidade.
Pode ser que a obra não contenha nada de infamante ou desabonador, não havendo aí que se
falar em ofensa à honra do cônjuge, irmãos, ascendentes e descendentes. Esses poderiam
herdar os direitos patrimoniais de autor (como ressalva a CF/88, art. 5º, XXVII).
Ocorre que, se os direitos patrimoniais de autor têm como pressuposto o direito autoral
de personalidade, que teria como um de seus feixes o direito formativo gerador de
edição/publicação, como afirmam alguns, durante a vida do autor, só com o exercício desse
direito formativo gerador (de personalidade) é que surgiriam os direitos autorais patrimoniais.
Caso o autor morresse sem ter exercido o direito de divulgação, ou a) o direito patrimonial
passaria a existir, tendo como pressuposto aí a morte do autor, libertando-se da condição
suspensiva que era o exercício do direito de divulgação; ou b) jamais surgiria o direito
patrimonial de autor, passando o bem imaterial à categoria de res nullius, apta a ser ocupada
por quem quer que fosse (a hipótese b fica de pronto descartada porque inconciliável a
concorrência entre todos os possíveis ocupantes do bem e a proteção especial dada aos
familiares pela na Lei nº 9.610/98); ou c) teria de se admitir o absurdo de que o bem imaterial
se exaurisse na dimensão autoral, sendo insuscetível de ser diretamente objeto de direitos
patrimoniais não vinculados ao autoral.
O que ocorre, porém, não é nem a, nem b, nem c, mas uma quarta hipótese, que passa
a ser exposta em seguida.
3.5 A existência de bem imaterial, contido na obra, mas desligado do autor
É bem imaterial não só a criatividade humana expressada, mas também o valor
cultural que se dá a qualquer bem material. O valor estético, histórico e outros, atribuídos a
uma coisa, constituem bens imateriais não necessariamente autorais18. Com o falecimento do
autor, extingue-se o bem imaterial autoral (aquela porção da personalidade de alguém, que
18 O direito ambiental, e sua proteção a um parque, uma paisagem natural, uma pedra, uma cratera, por seus valores estéticos, históricos, etc, que vão além do material em si, ilustra bem essa afirmação.

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 64
deste se destacou por um momento, tornando-se um bem autônomo), mas permanece o valor
literário, artístico, musical, que é imaterial e que não se confunde com o bem físico, material,
no qual está expresso o imaterial (a folha de papel, a argila, a fita magnética).
O autor é proprietário do bem imaterial autoral (a criatividade e pessoalidade
manifestadas), dos demais bens imateriais inseridos no primeiro (a arte, a beleza) e, algumas
vezes, do bem material em que o imaterial está metido (o papel, a tela, o mármore).
Ocorre que, durante a vida do autor, o bem imaterial autoral se coloca à frente dos
outros bens imateriais, que ficam condicionados àquele, assim como o direito patrimonial fica
encoberto pelo direito de deixar a obra inédita (direito de personalidade). Mas, com a
caducidade do direito autoral de personalidade, fica descoberto o direito sobre o outro bem
imaterial. Tal direito, por não ser de personalidade, é transmitido aos sucessores do autor, e
dele é que vai depender a exploração dos direitos patrimoniais. Não há mais direito ao inédito,
que era direito autoral de personalidade. Há, tão somente, exercício do direito de liberdade,
por parte do atual proprietário do bem imaterial (não autoral), de fazer ou não uso desse bem.
A tutela da ligação daquele bem à personalidade só se sustenta enquanto houver a
pessoa. Com a morte do autor, resta o bem imaterial desligado de qualquer causa pessoal. A
obra se assemelha, a partir de então, ao bem paisagístico, histórico ou arqueológico, que é
considerado pelo Direito mais pelo valor que manifesta do que pelo meio material de que se
reveste (tanto que o prédio histórico pode ser restaurado – muda-se parte da matéria por outra
– desde que se conserve intacto seu valor cultural), ou pela sua causa ou criação. A causa
humana, depois que o homem deixa de existir, passa a ser causa natural, qualquer, e com isso
perece a ligação entre o bem imaterial e o ente criador, personalizado.
CONCLUSÃO
Os chamados direitos morais do autor têm todas as características de direito de
personalidade, inclusive a intransmissibilidade. E por intransmissibilidade se entende a
impossibilidade de transferência não só entre vivos, mas também por sucessão.
O que as leis tradicionalmente vêm assegurando como direitos dos sucessores, embora
sob o termo transferência, são direitos adquiridos originalmente, e não de maneira derivada.
Os direitos morais do autor se extinguem juntamente com a personalidade porque sua própria
natureza não permite que se liguem a outra pessoa. E não há que se falar, como alternativa
para salvar o texto do § 1º, do art. 24 da Lei nº 9.610/98, de transmissão apenas do exercício

OLHARES PLURAIS – Revista Eletrônica Multidisciplinar, Vol. 1, Nº. 6, Ano 2012 ISSN 2176-9249
OLHARES PLURAIS - Artigos 65
dos direitos morais, ou de sua defesa, pois só se exerce ou defende direito que existe, e aí se
estaria de volta ao problema inicial.
REFERÊNCIAS
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980. CHAVES, Antônio. Publicação, reprodução, execução: direitos autorais. In: Revista Forense – v. 289, jan.-mar. 1985. p. 77-84. EBOLI, João Carlos de Camargo. Direitos intelectuais – noções gerais – histórico. I Ciclo de debates de direito do autor “de Gutemberg a Bill Gates”. Instituto dos advogados brasileiros. Comissão permanente de direito de propriedade intelectual. In: IAB Nacional. Disponível em: <www.iabnacional.org.br/comm/PALESTRA_CICLO_DEBATES_IAB.doc>. Acesso em: 17.abr.2007. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Autor e os países em desenvolvimento. In: Revista Estudos Jurídicos, n. 37, 1983, p. 1-79. ______. O Direito moral do autor. In: Revista Estudos Jurídicos, n. 18, 1978, p. 149-175. LEBATARD, François-René. De Rome à Rome? Perspectives du droit moral. Máster course in european intellectual property law, Stockholm University, Department of law, setembro de 2003. Gitton. Disponível em: <http://www.gitton.net/dtmoralweb.htm>. Acesso em: 21.out.2007. ORLANDO, Pedro. Direitos autorais: seu conceito, sua prática e respectivas garantias em face das convenções internacionais, da legislação federal e da jurisprudência dos tribunais. Brasília: Senado Federal, 2004. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de direito privado. 4.ed. Tomos VII e XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 25 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 5. SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Direito autoral. Brasília: Brasília jurídica, 1998. VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor. Revista dos Tribunais, n. 845, v. 95, São Paulo: RT, mar. 2006, p. 443-456.