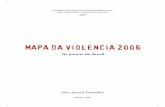Epidemiologia do envelhecimento. Condições de vida e saúde ...
As condições de Saúde no Brasil
-
Upload
gabriela-loureiro-barcelos -
Category
Documents
-
view
42 -
download
0
Transcript of As condições de Saúde no Brasil
-
2 As CONDIES DE SADE NO BRASIL
Joo Baptista Risi Junior Roberto Passos Nogueira
Coordenadores
Adelemara Mattoso Allonzi _ Andr Monteiro Alves Pontes Antonio Carlos Silveira _ Carlos Antonio Pontes Celso Cardoso Simes Eduardo Hage Carmo Fernando Ribeiro de Barros Germano Gerhardt Filho _ Gerson Fernando Mendes Pereira Ines Lessa Jarbas Barbosa da Silva Junior Larcio Joel Franco Marceli de Oliveira Santos Marcelo Medeiros Marcia Regina Dias Alves Maria Ceclia de Souza Minayo Maria Goretti P. Fonseca Maria Helena P. de Mello Jorge Maurcio Barreto Mauro da Rosa Elkhoury Ruy Laurenti Sabina La Davidson Gotlieb _ Valeska Carvalho Figueiredo Zuleica Portela Albuquerque
-
Populao, sade e desenvolvimento A sade emergiu como efetiva prioridade de governo no Brasil
no comeo do sculo XX, com a implantao da economia exportadora de caf, na regio Sudeste. A melhoria das condies sanitrias, entendi-da ento como dependente basicamente do controle das endemias e do saneamento dos portos e do meio urbano, tornou-se uma efetiva poltica de Estado, embora essas aes estivessem bastante concentradas no eixo agrrio-exportador e administrativo formado pelos estados do Rio de Janeiro e So Paulo.
A economia exportadora de caf compunha-se de dois segmentos: um ncleo agrrio - produtor de caf e de alimentos - e um ncleo urbano - que abrangia as atividades de financiamento, comercializao, transpor-tes, administrao e indstrias. Com importncia crescente desde as primei-ras dcadas do sculo XIX, a exportao de caf, entre 1924 e 1928, chegou a representar 72,5% das receitas de exportao do Brasil, superando em muito o valor de exportao de outros produtos tradicionais, tais como o algodo, a borracha e as peles e couros. Esse perodo corresponde ao da formao de um verdadeiro mercado de trabalho no Brasil, envolvendo uma massa considervel de trabalhadores, com integrao produtiva entre os setores urbano e rural. Para a formao desse mercado, houve uma contri-buio fundamental dos imigrantes de pases estrangeiros, que constituam uma fora de trabalho de nvel educacional diferenciado. Entre 1901 e 1920, entraram no pas nada menos que 1,5 milhes de estrangeiros, dos quais aproximadamente 60% se fixaram nas reas urbanas e rurais de So Paulo.
Melhores condies sanitrias, de um lado, significavam, uma ga-rantia para o sucesso da poltica governamental de atrao de fora de tra-balho estrangeira e, de outro, impunham-se como uma necessidade de pre-servao do contingente ativo de trabalhadores, em um contexto de relativa escassez de oferta de trabalho. O destaque em matria de ateno sade ficava, assim, por conta do controle de enfermidades, tais como a febre
-
amarela, a peste bubnica, a varola e outras, para as quais o governo fede-ral imps medidas de higiene, vacinao, notificao de casos, isolamento de enfermos e eliminao de vetores.
Mortalidade de migrantes no municpio de So Paulo h 100 anos
No final do sculo XIX e nas primeiras dcadas do sculo XX, o estado de So Paulo recebeu importante corrente de imigrantes italianos e, em bem menor escala, de outras nacionalidades. A partir de 1908, iniciou-se outra grande corrente imigratria, a dos japoneses. Os imigrantes italianos vie-ram principalmente para trabalhar na agricultura (caf), substituindo os escravos negros que haviam sido libertados em 1888. Aps alguns anos de trabalho nas plantaes de caf, os italianos, na grande maioria, mudaram-se para as cidades. O municpio de So Paulo recebeu muitos desses imi-grantes e, no registro de bito, como ainda atualmente, constava a naciona-lidade do falecido. Na Tabela 1, esto apresentados os bitos segundo a nacionalidade. Verifica-se que 74,6% eram brasileiros (nascidos na capital ou no estado de So Paulo ou em outros estados); 25,2% eram estrangeiros e 0,2% tinham nacionalidade ignorada. Entre os estrangeiros predomina-vam os italianos (62,1%). interessante observar que ocorreram 16 bi-tos de "africanos" e 1 "oriental", no tendo sido especificado o pas. Quan-to aos africanos, pode-se especular que poderiam ser ex-escravos no nascidos no Brasil, mas trazidos da frica.
-
Para o conjunto dos bitos, a taxa de natalidade verificada em 1902 foi de 33,3 nascimentos por mil habitantes; a taxa de natimortalidade foi de 55,4 por mil nascimentos. A mortalidade geral foi de 18,2 por mil habitantes, e a mortalidade infantil, 182,1 por mil nascidos-vivos.
Em 1901, Emlio Ribas adotou em Sorocaba, So Paulo, uma inicia-tiva pioneira de combate ao Aedes aegypti, que havia sido identificado no final do sculo anterior como o vetor da febre amarela. O exemplo de Ribas foi seguido por Oswaldo Cruz, que desencadeou a histrica campanha con-tra a febre amarela no Rio de Janeiro, entre 1903 e 1908. Em 1904, entra em vigor a lei de vacinao compulsria contra a varola.
No nvel central da federao, foi regulamentada em 1901 a Diretoria Geral de Sade Pblica. De um modo geral, a assistncia sade, prestada por este e pelos rgos federais que lhe sucederam, estava restrita s situaes de epidemia e aos casos de especial interesse para o controle das condies de sade pblica, no eixo central da economia, havendo de fato quase nenhu-ma capacidade de atuao do poder federal na assistncia individual sade. Com efeito, a assistncia mdico-hospitalar, nesse perodo, dependia em maior parte de entidades beneficentes e filantrpicas, como tambm das diversas mutualidades a que se filiavam os grupos de imigrantes de diversas nacionali-dades, mas principalmente os portugueses, os espanhis e os italianos.
Carlos Chagas, a partir de 1921, frente da Diretoria Geral de Sade Pblica, promoveu expanso dos servios de sade para alm do Rio de Janei-ro. Em muitas situaes, a autoridade sanitria se exercia de forma impositiva; por exemplo, no caso da lepra, poderia ser utilizada a fora policial para obrigar pessoas suspeitas a realizar o exame diagnstico ou para o isolamento compulsrio dos doentes. Tambm era proibida a viagem de portadores da doena sem autorizao prvia da autoridade sanitria do local de destino.
na transio de uma economia agrrio-exportadora para uma economia urbano-industrial, na dcada de 1930, que surgiu um sistema de assistncia sade e, de modo geral, um sistema tpico de proteo social no
-
Brasil. Com a consolidao da atuao do Estado na regulao das ativida des econmicas, essa mudana teve carter predominantemente produtivista, com proteo diferenciada aos trabalhadores assalariados dos setores mo-dernos da economia e se traduziu, em especial, na promulgao da legisla-o trabalhista e previdenciria.
A partir de 1930, com a depresso econmica mundial e a crise nos setores associados exportao do caf, o governo brasileiro comeou a dar maior prioridade e incentivo indstria. A produo industrial brasilei-ra, que crescera taxa mdia anual de 2,8, em 1920-29, passou a crescer taxa de 11,2%, em 1933-39 (ver Tabela 2).
As polticas sociais no perodo anterior Revoluo de 1930 eram fragmentadas e emergencialistas, embora existam algumas iniciativas de po-lticas sociais importantes na dcada de 1920, como a instituio por lei dos Departamentos Nacionais do Trabalho e da Sade, a promulgao, em 1923, do Cdigo Sanitrio e da Lei Eloy Chaves sobre assuntos previdencirios. Os conflitos entre capital e trabalho eram regulados por legislao esparsa, sendo tratados basicamente pelo aparato policial. Questes de sade pbli-ca eram tratadas pelas autoridades locais, no havendo por parte do gover-no central um programa de ao no sentido de atend-las. A atuao do Estado restringia-se, em grande parte, a situaes emergenciais, como as epidemias em centros urbanos.
Na dcada de 1940, ampliou-se bastante o mercado de trabalho urbano. Entre 1940 e 1950, o setor urbano aumentou em 1,5 milho a oferta de empregos, enquanto o rural crescia apenas em 0,5 milho. A inten
-
sificao da urbanizao que se processava fez o pas transitar de uma soci-edade rural para uma industrial, embora ainda concentrada nos espaos do Rio de Janeiro e So Paulo. A participao da populao urbana no total, que era de 31% em 1940, subiu para 36%, em 1950. Nesse esforo de urbanizao, o papel do capital nacional foi de fundamental importncia, assim como o do Estado, com seu enorme esforo na criao de infra-estru tura, especialmente de um novo sistema de transportes (rodovirio), de cunho eminentemente nacional e integrador.
No plano social, esse perodo caracterizou-se por mudanas impor-tantes introduzidas pelo governo autoritrio de Getlio Vargas, tais como a consolidao da legislao trabalhista e a estatizao da previdncia social. Esta passou a ser organizada por meio dos Institutos de Aposentadorias e Penses (IAPs), segundo grupos de categorias profissionais, com contribui-es obrigatrias por parte de empregadores e empregados. Tambm houve alteraes nas polticas de sade e educao, caracterizadas pelo elevado grau de centralizao de recursos e instrumentos institucionais/administra-tivos no governo federal, atravs do Ministrio dos Negcios de Educao e Sade Pblica.
Diversas reformas no aparelho de Estado contriburam para conso-lidar um Estado de Bem-Estar brasileiro baseado em polticas predominan-temente voltadas para trabalhadores urbanos. Foi criado o Ministrio do Trabalho e promulgada nova legislao trabalhista, formando as novas bases de uma poltica de regulamentao do trabalho e de uma organizao pol-tica dos trabalhadores. Com especial ateno aos trabalhadores comercirios e industriados, foram regulamentados o trabalho feminino, o trabalho de menores e a prpria jornada de trabalho. Questes de direitos, tais como frias, demisses e acidentes de trabalho, foram includas na nova legisla-o. Foi consagrada a interveno do Estado nos conflitos trabalhistas com a criao da justia do trabalho e a regulamentao explcita das formas de negociao salarial e organizao sindical.
-
No perodo compreendido entre 1945 e 1964, o Brasil viveu uma fase de democracia, mas muitas das estruturas corporativistas, construdas nos anos precedentes, permaneceram intactas, especialmente no campo das relaes de trabalho. Do ponto de vista dos marcos institucionais, esse perodo caracterizado pela criao de instrumentos legais voltados para o funcio-namento de um governo democrtico. Verifica-se a consolidao da inds-tria, com a implantao da indstria pesada e a expanso extraordinria da malha rodoviria, integrando mercados regionais, at ento excludos do processo comercial.
Com os novos segmentos, a estrutura industrial se alterou signi-ficativamente. Os bens de consumo no durveis, que, em 1919, per-faziam 76% da produo industrial, caram para 53%, em 1959, enquan-to os bens intermedirios passaram de 22% para 34%. Ampliou-se a cria-o de empregos urbanos, que j representavam 45% do total da popula-o, em 1960.
Com a instaurao do governo militar, em 1964, foram realizadas as principais reformas econmicas e institucionais, com uma perspectiva centralizadora. Alterou-se a legislao trabalhista, sendo criadas instituies para promover uma poltica habitacional. Nessa fase, a integrao de regies a um mercado de nvel nacional desencadeou o processo intenso de migra-es rurais com destino urbano, com consequncias negativas nas condi-es de vida das populaes residentes nas cidades, em decorrncia do desemprego e do baixo nvel salarial.
Do ponto de vista demogrfico, a populao brasileira vinha cres-cendo, desde incio da dcada de 1950, a taxas de 3% ao ano, em decorrn-cia da queda da taxa bruta de mortalidade e mantendo-se a fecundidade em patamares ainda elevados. Agregue-se, ainda, o aceleramento das correntes migratrias rurais-urbanas, que atinge o pice na dcada de 1960, contri-buindo, fortemente, para uma urbanizao descontrolada e concentradora, em perodo de tempo relativamente muito curto.
-
Os ajustes realizados na economia entre 1965 e 1970 produziram uma grande concentrao de renda. Inicia-se, ento, um processo de dis-cusso em torno do assunto, com as questes sociais voltando a ser motivo de preocupao, mesmo por parte dos principais gestores das polticas eco
nmicas e sociais. Esta foi uma dcada de reflexo crtica diante dos aos problemas mencionados. Houve uma ampla discusso poltica nacional, envolvendo os baixos salrios dos trabalhadores, o forte xodo rural e a no reforma agrria, o agravamento dos problemas urbanos e suas carncias sociais no atendidas, o problema das desigualdades regionais e os meca-nismos para enfrent-los etc.
Do ponto de vista da dinmica demogrfica, o perodo ps-1974 tambm considerado aquele em que ocorreram as mais profundas rupturas com a dinmica anterior, principalmente na rea da reproduo feminina. Comearam a declinar, de forma acentuada, os nveis de fecundidade da mulher brasileira, primeiramente nas regies mais desenvolvidas do Centro-Sul, depois, na dcada de 1980, tambm nas reas mais atrasadas social e economicamente, como o Nordeste. Esta queda ocorreu de forma generali-zada no territrio brasileiro, independentemente da situao social especfi-ca da mulher. Entretanto, o declnio da fecundidade passou a ter impactos positivos sobre as condies de sobrevivncia das crianas, no s pela elevada diminuio do nmero de filhos por casal, mas tambm pelo aumen-to do intervalo entre nascimentos.
No governo militar, o modelo de crescimento adotado pressupunha a necessidade de se acumular renda para garantir as bases do crescimento, redistribuindo-a posteriormente. A concentrao de renda, no entanto, tem custos sociais pesados. Para compens-los e garantir a estabilidade poltica necessria ao crescimento econmico, o governo implementou uma srie de polticas sociais de natureza assistencialista. Nesse perodo, so implementadas polticas de massa de cobertura relativamente ampla, atravs da organizao de sistemas nacionais pblicos, ou regulados pelo Estado, de proviso de servios sociais bsicos.
-
O modelo de Estado de Bem-Estar perdeu, ao longo dos governos militares, o carter populista que vinha do perodo getulista e assumiu duas linhas definidas. A primeira, de carter compensatrio, constituda de polti-cas assistencialistas que buscavam minorar os impactos das desigualdades crescentes provocadas pela acelerao do desenvolvimento capitalista. A segunda, de carter produtivista, formulava polticas sociais visando a con-tribuir com o processo de crescimento econmico. Foram elaboradas, por exemplo, as polticas de educao, com o objetivo de atender s demandas por trabalhadores qualificados e aumentar a produtividade da mo-de-obra semiqualificada.
Foi criado, em 1974, o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), diretamente ligado Presidncia da Repblica, com o objetivo principal de assessoramento na formulao da poltica social e na coordenao das ativi dades dos ministrios. Isto permitiu a implantao de polticas de massa, de cobertura sem precedentes na Amrica Latina, com reflexos altamente positi-vos nas condies gerais de vida daqueles segmentos sociais at ento os mais afetados pelo modelo econmico excludente. Entre essas iniciativas, desta cam-se: o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), que se propunha a financiar os programas e projetos na rea social (1974); a reformulao dos mecanismos financeiros do Sistema Financeiro de Habitao (1974), pelo qual o Banco Nacional de Habitao deveria priorizar o atendimento habitacional a populaes de baixa renda; a nova sistemtica do Plano Nacio-nal de Saneamento (1975), visando a ampliar o atendimento aos municpios mais carentes; o Programa Nacional de Alimentao e Nutrio (1976), con-centrado nas linhas de suplementao alimentar a gestantes, nutrizes e crian-as de 0 a 6 anos e escolares, para estimular o pequeno agricultor e o combate s carncias nutricionais; e o Programa de Interiorizao das Aes de Sade e Saneamento no Nordeste - PIASS - (1976), que tinha como objetivo dotar as comunidades do interior nordestino de estrutura bsica de sade pblica.
Esse elenco de programas, de um modo geral, contribuiu favoravel-mente para a melhoria geral dos indicadores de educao, saneamento bsi
-
co, difuso da rede bsica de sade e cobertura vacinai. Entretanto, no incio dos anos 1980, tais programas centralizados j apresentavam indcios de es-gotamento e crise em seus aspectos organizacionais, sociais e sobretudo finan-ceiros, levando a tentativas de mudanas dirigidas sua racionalizao.
At as reformas ocorridas na dcada de 1980, o Estado de Bem-Estar brasileiro era caracterizado por centralizao poltica e financeira em nvel federal, fragmentao institucional, tecnocratismo, auto-financia mento, privatizao e uso clientelstico das polticas sociais. Estas so caractersticas de um sistema de proteo social que no tem pretenses de funcionar como verdadeiro mecanismo redistributivo do produto da economia.
A partir de 1985 at 1988, com a Nova Repblica, foram introduzidas importantes modificaes nas polticas econmicas e sociais brasileiras: do ponto de vista econmico, um compromisso com o crescimento; do ponto de vista do social, os movimentos organizados da sociedade comeam a ter maior presena nos conselhos de gesto nacional, nas reas de sade, pre-vidncia, educao e trabalho. O que se observa nesse perodo so discus-ses amplas destinadas realizao de reformas dos sistemas tributrios, financeiro e administrativo, e de reformas na rea social (educao, previ-dncia social, habitao, assistncia social, alimentao e nutrio). No caso da sade, esse processo se d atravs do movimento de Reforma Sanitria, que levou criao do Sistema nico de Sade (SUS).
No plano estratgico, a interveno social do governo materializou-se, por um lado, por meio de programas emergenciais voltados para o com-bate fome, ao desemprego e misria. Ativaram-se os programas de ali-mentao j existentes, e novos foram criados (programa do leite para cri-anas carentes, programa de medicamentos e imunolgicos) e foram implementadas medidas nas reas de abastecimento, sade, educao, as-sentamentos agrrios, integrao da pequena produo de alimentos e am-pliao da proteo social para as camadas mais pobres da populao. Fica
-
evidenciada, nesta fase, a prioridade do social sobre o econmico, retirando a poltica social de sua posio tradicionalmente subordinada poltica eco nmica. Isto ter repercusses bastante positivas nas condies gerais de sade da populao, em especial a infantil.
As mudanas promovidas no perodo entre 1985 e 1988 esto ca-racterizadas pela crtica centralizao institucional e financeira do sistema. Os diversos planos de ao governamental institudos nesse perodo priorizam o resgate da 'dvida social', rejeitando a sujeio das polticas sociais s medidas de ajuste macroeconmico.
Os principais impulsos reformistas do Executivo federal, sobretudo no binio 1985-1986, foram o reforo dos programas emergenciais no cam-po da suplementao alimentar, a incorporao da reforma agrria e do seguro-desemprego na agenda governamental e a instituio de grupos de trabalho e comisses setoriais. No Legislativo, a principal medida foi a con-cluso de parte do processo constituinte com a promulgao da nova Cons-tituio em outubro de 1988.
Entretanto, esses impulsos foram seguidos, no perodo 1990-1992, por um esvaziamento da estratgia reformista, mediante uma 'contra-reforma', caracterizada pela ampliao do assistencialismo e do clientelismo, e pelo desmonte da capacidade oramentria e administrativa de interveno do Estado no campo social. A descentralizao passou a ocorrer de maneira acelerada e catica, provocando vazios institucionais em determinados seto res de poltica social e superposies em outros. Alm da superposio institucional e de programas, as polticas sociais, nesse perodo, foram ca-racterizadas por cortes drsticos de oramento, sob a justificativa de neces-sidade de descentralizao administrativa.
A partir de 1993, a descentralizao das polticas, a articulao de fato entre os diversos programas e a parceria entre governo e movimentos sociais foram inovaes que permitiram uma reduo das prticas clientelistas, o distanciamento das polticas assistenciais e a continuidade
-
dos programas. A introduo de critrios de delimitao territorial do pbli co-alvo, aliados aos de renda, permitiram uma melhor focalizao dos beneficirios.
A nova fase das polticas sociais brasileiras seria marcada pela focalizao com base em critrios mais amplos do que o da renda individual, o reforo da seletividade e da focalizao sem perda do universalismo (com distribuio de benefcios na proporo inversa das carncias), a reduo do estatismo (com preservao do carter pblico e gratuito dos servios atravs de parcerias com movimentos sociais e o setor privado) e a maior aceitao e apoio, no meio poltico, a programas de transferncia monetria direta, como os de renda mnima.
Natalidade e fecundidade Entre fins do sculo XIX e meados do sculo XX, o Brasil apresentou
um padro demogrfico relativamente estvel, com pequenas oscilaes dos nveis de fecundidade e de mortalidade. Estes nveis se mantiveram em pata-mares regularmente elevados, embora pequenos declnios da fecundidade possam ser observados. O comportamento reprodutivo da famlia brasileira durante todo esse perodo se caracterizava por uma concepo de famlia numerosa, tpica de sociedades agrrias e precariamente urbanizadas e in-dustrializadas. As grandes transformaes desse padro demogrfico come-am a ocorrer a partir da dcada de 1940, quando h consistente declnio dos nveis gerais de mortalidade, no acompanhado por um processo concomitante na natalidade.
A srie de censos demogrficos, que cobre um perodo de 128 anos a partir de 1872, mostra que a populao brasileira cresceu apro-ximadamente dez vezes ao longo do sculo XX, embora o ritmo do crescimento venha diminuindo progressivamente nas ltimas dcadas (Tabela 3).
-
A maior taxa de crescimento ocorreu durante a dcada de 1950, na mdia de 3,0% ao ano, o que corresponde a um acrscimo relativo de 34,9% no efetivo populacional. Naquela dcada, enquanto se acentuava o processo de declnio da mortalidade, a fecundidade manteve-se em patamares extre-mamente elevados.
O processo de desacelerao do crescimento teve incio na dcada de 1970, em funo de uma queda inicialmente tmida da fecundidade, o que fez com que a taxa de crescimento fosse inferior a 2,5% ao ano. Na dcada de 1980, em consonncia com a transio para nveis de fecundidade mais baixos, a taxa de crescimento declinou para 1,9% ao ano. No perodo mais recente, de 1991-2000, a taxa mdia geomtrica de crescimento anual
-
foi de apenas 1,63%. 0 declnio dessa taxa generalizado em todo o pas, exprimindo-se na queda relativa do nmero de nascimentos e, em diversos casos, na sua reduo absoluta.
Outro aspecto importante da evoluo da populao brasileira est relacionado ao processo de urbanizao. At 1960, a maioria da populao residia na rea rural, exceo da regio Sudeste, que nessa data j apre-sentava 57% de sua populao residente na rea urbana. Como sabido, o fenmeno da urbanizao no Brasil est associado a fluxos migratrios in-ternos, que se intensificaram a partir do incio dos anos 1960, tendo como principal rea de atrao a regio Sudeste, concentradora das principais atividades econmicas no pas. Em 1970, a taxa de urbanizao dessa regio chegou a 73%, enquanto nas demais foi inferior a 50%.
As regies Sul e Centro-Oeste tambm comearam a se urbanizar de forma intensa a partir de meados da dcada de 1970. De incio, o crescimen-to urbano coexistiu com uma atividade agrcola proporcionalmente muito forte, mas o processo mais recente de modernizao favoreceu a expulso populacional do campo, inclusive em reas que, at os anos 1960 e 1970, representavam espaos de expanso da fronteira agrcola. Nas regies Norte e Nordeste, onde os nveis de urbanizao ainda so relativamente baixos, quando comparados aos das regies Sudeste (90,5%), Centro-Oeste (86,7%) e Sul (81%), o incremento vem sendo gradual, chegando a 2000 com taxas de urbanizao similares (69%).
-
Em sntese, pode-se afirmar que o Brasil sofreu profundas altera-es durante as ltimas quatro dcadas, ao passar da situao de um pas essencialmente rural para outra, em que mais de 80% de sua populao (137 milhes) reside em reas urbanas. Mudaram as realidades e situaes vivenciadas pelas populaes. De um lado, aumentaram as demandas por servios pblicos (educao, saneamento bsico, servios de sade etc), insuficientes para atender ao contingente populacional que acorre constan-temente s grandes cidades. De outro lado, alterou-se a dinmica demogrfica, sobretudo no tocante ao comportamento reprodutivo, impondo a redefinio de polticas pblicas nas reas da sade, educao, mercado de trabalho e previdncia social.
O declnio da mortalidade acentuou-se e ganhou consistncia a par-tir de 1940, inicialmente na populao adulta e, mais tarde, nos segmentos infantil e infanto-juvenil (Grfico 1). Quanto natalidade, seu declnio con solidou-se somente na dcada de 1960, acompanhando grandes transfor-maes sociais e econmicas que ocorriam, principalmente nas regies do Centro-Sul, as quais recebiam grandes contingentes populacionais de outras reas e se urbanizavam rapidamente.
-
O auge do crescimento demogrfico brasileiro, alcanado na dca-da de 1950 (3% ao ano), correspondeu ao perodo em que foi mais elevada a diferena entre a natalidade e a mortalidade. Estimativas derivadas dos censos demogrficos de 1991 e de 2000 indicam, respectivamente, que a taxa bruta de natalidade reduziu-se de 26,7 por mil habitantes, na dcada de 1980, para 22,0 por mil, no ano 2000. Em paralelo, os nveis brutos de mortalidade decaram mais lentamente nas ltimas dcadas, visto que j se apresentavam em patamares relativamente baixos, oscilando apenas em funo de comportamentos especficos por idade (reduo da mortalidade infantil e infanto-juvenil, e novo perfil epidemiolgico marcado, por exem-plo, pelo aumento da mortalidade por causas externas).
Em suma, a componente natalidade e os padres correlatos de fecundidade so os principais agentes de mudanas no padro demogrfico brasileiro. O seu movimento de declnio que explica a razo pela qual a taxa de crescimento demogrfico registrado no Brasil , atualmente, infe-rior a 1,7% ao ano.
Expectativa de vida Durante os primeiros trinta anos do sculo XX, a populao brasi-
leira teve um aumento na sua sobrevivncia de aproximadamente trs anos, correspondente ao incremento de apenas 8%, que reflete a elevada incidn-cia de mortalidade no perodo. Santos (1978), utilizando o modelo de po-pulaes estveis, estimou a esperana de vida ao nascer da populao brasileira para os anos de 1900, 1910, 1920 e 1930, respectivamente, em 33,7 anos, 34,08 anos, 34,51 anos e 36,49 anos.
Para as dcadas seguintes, os valores desse indicador esto apre-sentados, por regies, na Tabela 5, mostrando significativa melhoria nos nveis de sobrevivncia da populao brasileira. Em 1930-40, a vida mdia passou a ser de 41,5 anos, o que corresponde a um ganho de cinco anos, superior ao observado durante os trinta anos anteriores. As diferenas
-
regionais j se refletiam nos nveis de sobrevivncia das populaes residen-tes nas regies brasileiras. O Nordeste apresentava, em 1940, os menores valores de esperana de vida ao nascer (36,7 anos), contra 49,2 anos no Sul, 47,9 no Centro-Oeste e 43,5 no Sudeste. De certa forma, essas diferen-as refletiam a prioridade de investimentos econmicos orientados para es-sas ltimas regies, que tambm se beneficiaram de iniciativas nos sistemas de sade pblica, previdncia social, infra-estrutura urbana e regulamenta-o do trabalho, a partir de 1930. Todos esses fatores concorreram para o controle e reduo das doenas infecto-contagiosas, at ento de elevada inci-dncia e letalidade, contribuindo para a elevao da vida mdia ao nascer.
Em meados da dcada de 1950, a esperana de vida ao nascer era de 51,6 anos, o que representou um aumento, em duas dcadas, de cerca de dez anos em mdia nacional (contra 41,5 anos em 1930/40). Na regio Nordeste, contudo, o incremento foi de apenas quatro anos, enquanto na Sudeste os ganhos alcanaram quatorze anos.
Entre 1955 e 1965 e, mais precisamente, at meados da dcada de 1970, a tendncia de aumento da expectativa de vida teve continuidade, porm de forma mais lenta. Nas regies Sudeste e Sul, os valores mantive ram-se praticamente inalterados, em torno de 57 anos e 60 anos, respectiva-mente. Tal constatao est relacionada s circunstncias de um perodo de
-
crise estrutural da economia, em que as condies de sade dos grupos mais vulnerveis da populao, sobretudo crianas, ficaram dependentes de polticas pblicas compensatrias. Como se ver mais adiante, essas circuns-tncias tiveram impacto sobre a mortalidade infantil, e as regies Sudeste e Sul foram as mais afetadas, exatamente por serem o ncleo hegemnico da economia nacional e, portanto, mais expostas aos efeitos das crises.
A partir de meados da dcada de 1970, a tendncia de queda da mortalidade retomou o seu curso, coincidente com a expanso da rede assistencial e escolar e com a ampliao acelerada da infra-estrutura de saneamento bsico, sobretudo da rede de abastecimento de gua. Observa-se, no pas, reduo significativa nos padres histricos da desigualdade regional diante da morte, tendo a regio Nordeste apresentado, durante o perodo de 1975 a 2000, os maiores ganhos da esperana de vida. Esse fato est associado reduo da mortalidade infantil, que teve a contribuio de programas nacionais de ateno sade materno-infantil dirigidos ao aten-dimento pr-natal, ao parto e ao puerprio, vacinao, ao aleitamento materno e reidratao oral, principalmente a partir de 1980.
Os diferenciais da sobrevivncia por sexo tambm passaram a ter maior significado a partir de ento, provavelmente associados ascenso da mortalidade por causas violentas, que afetou, de forma especial, os adultos jovens do sexo masculino. Em 1980, a diferena situava-se em 6,8 anos na mdia nacional, tendo aumentado, em 2000, para 7,8 anos. Na regio Sudeste, a vida mdia os homens cerca de 9 anos inferior das mulheres, seguida pelas regies Sul (7,8 anos) e Centro-Oeste (6,7 anos).
Mortalidade infantil Estima-se que, por volta de 1930, a taxa de mortalidade infantil para
a mdia da populao brasileira atingia valores acima de 160 bitos por 1000 nascidos-vivos. A partir desse ano, configuram-se, de forma incontes
-
tvel, trajetrias distintas para as regies brasileiras (Grfico 2). Enquanto as regies Centro-Oeste, Sudeste e Norte mostravam, j antes de 1940, ten-dncias lentas de declnio da mortalidade, a regio Sul e, principalmente a Nordeste, apresentavam nveis estveis. Observe-se que a regio Sul, diferen-temente da Nordeste, j vinha exibindo taxas significativamente menores, por razes histricas relacionadas colonizao, que recebeu a influncia de importantes fluxos de migrantes europeus. Na regio Nordeste, a morta-lidade infantil comeou a declinar somente ao final da dcada de 1940, mesmo assim mais lentamente do que nas demais regies.
No perodo 1955-70, o ritmo de reduo da mortalidade desacelerado, chegando-se inclusive a observar aumento das taxas nas regies Sudeste e Sul. Essas regies, conforme indicado anteriormente, sofreram mais intensamente os efeitos econmicos e institucionais da crise estrutural que ocorreu no perodo, entre eles: 1) substancial reduo do poder de
-
compra, tendo o valor do salrio mnimo diminudo cerca de 45% entre 1959 e 1974; 2) deteriorao de certos servios bsicos, a exemplo do saneamento; 3) enorme fluxo, para o Sudeste, de migrantes originrios de reas de alta mortalidade, principalmente o Nordeste.
Superado esse perodo crtico, e com o Estado j se reorganizando sob novas feies, a mortalidade infantil retomou o seu declnio em todas as regies. A melhoria geral dos indicadores de mortalidade, aps 1975, pare-ce no estar fortemente associada ao nvel de renda, mas sim a intervenes na rea de sade pblica. Nessa fase, foram implementadas importantes medidas governamentais, destinadas a fortalecer a infra-estrutura de sanea-mento, sade, habitao e assistncia materno-infantil, na perspectiva da integrao regional. Tal poltica certamente contribuiu para a reduo acen-tuada da mortalidade infantil, que se observa no ltimo qinqunio da dca-da de 1970 e durante toda a dcada seguinte.
Na regio Nordeste, a velocidade de queda da mortalidade infantil durante a dcada de 1980 foi inferior das demais regies. Essa situao modifica-se na dcada de 1990, quando a taxa de mortalidade infantil para a regio Nordeste sofreu uma reduo de quase 40% (de 72,9 bitos por mil nascidos-vivos, em 1990, para 44,2, em 2000), contra 35% no Norte e 31-32% nas demais regies. Esse fato confirma o efeito de intervenes sobre fatores ambientais, capazes de produzir maior impacto na mortalidade de cri-anas no perodo ps-neonatal, entre um e onze meses de vida completos.
O Brasil chegou ao final do sculo XX apresentando, na mdia naci-onal, taxa de mortalidade infantil em torno de 30%. Esse nmero, ainda elevado, reflete a persistncia de grandes disparidades inter-regionais, que impem a adoo de estratgias de interveno diferenciadas. Enquanto nas regies Norte e Nordeste predominam causas de mortalidade redutveis por aes bsicas de sade e de saneamento, nas regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde a mortalidade infantil j se encontra em patamar bem abaixo (cerca de 20%), o ritmo de declnio tender a ser mais lento, por ser depen
-
dente, cada vez mais, de investimentos na melhoria das condies qualitati-vas de assistncia pr-natal, ao parto e ao recm-nascido.
Estrutura etria da populao At o final da dcada de 1970, a populao brasileira apresentava
caractersticas que a identificavam como predominantemente jovem, o que decorria do longo perodo em que os nveis de fecundidade foram muito elevados. Uma das mais fortes evidncias encontradas na comparao tem-poral refere-se ao estreitamento progressivo da base da pirmide populacional, com redues significativas do nmero de crianas e jovens, no total da populao (Grfico 3).
As estruturas das pirmides revelam os efeitos de nascimentos de coortes originrias de perodos de fecundidade ainda elevada, percebendo-se nitidamente, a partir de 1980, o crescimento da populao em idade ativa,
-
representada pelos jovens e adultos jovens. Tambm se observa o aumento, principalmente relativo, do grupo etrio idoso, o que resulta da diminuio do nmero de nascimentos, como tambm da elevao tendencial da espe-rana de vida.
O impacto das mudanas no padro demogrfico sobre as estrutu-ras etrias complexo e extremamente relevante para a identificao das ca-ractersticas das distintas geraes e coortes populacionais no pas. As altera-es ocorridas, de forma gradativa, nos diversos grupos etrios, deslocam-se temporalmente e, assim, afetam a estrutura do conjunto. Nas ltimas dcadas, a transio demogrfica brasileira vem determinando novas questes e de-mandas sociedade, principalmente em relao aos distintos servios que devem ser prestados aos grupos especficos de crianas, jovens e idosos.
Determinantes bsicos das condies de sade
Saneamento Os primeiros sistemas e servios de abastecimento de gua e esgo-
tos no Brasil foram criados atravs de concesses iniciativa privada, feitas em geral pelos governos estaduais. No perodo que se estendeu de meados do sculo XIX ao incio do sculo XX, o Estado brasileiro, ainda incipiente, concedeu, a empresas privadas nas principais cidades, o direito de criar e explorar os principais servios pblicos, entre eles os de saneamento. Em geral, essas empresas eram estrangeiras e, em sua maioria, inglesas. No en-tanto, a experincia no obteve resultados satisfatrios, sobretudo pela difi-culdade de retorno, via tarifas, dos investimentos necessrios expanso das redes, ficando, por isso, restritas aos ncleos centrais inicialmente im-plantados. Esta precariedade na oferta dos servios gerou protestos e ali-mentou revoltas populares.
-
Em decorrncia da insatisfao com a qualidade dos servios pres-tados pela iniciativa privada, diversos governos estaduais passaram a rom-per os contratos, encampando os servios. Este processo deu-se majoritari amente de 1893 at a segunda metade do sculo XX. Dessa forma, foram constitudos, nos governos estaduais, rgos de administrao direta, na forma de reparties ou inspetorias. Com a Constituio de 1891, ficaram mais definidos os papis das diferentes esferas de poder, aumentando a capacidade executiva dos governos. Assim, tambm as prefeituras passaram a criar servios de gua e esgotos.
Este perodo, de criao de rgos da administrao direta, se es-tende at os anos 1940. Os investimentos para expanso eram feitos, em maior parte, com recursos oramentrios, sobretudo estaduais, e o custeio era parcialmente feito com as tarifas. Um aspecto importante deste perodo a construo de um saber nacional de engenharia sanitria, at ento muito dependente de tecnologia inglesa. Nesse sentido, h que ser destacada a fundamental contribuio de Saturnino de Brito, engenheiro que, atuando na implantao de obras de saneamento nas principais cidades brasileiras, desde a ltima dcada do sculo XIX at 1929, tem sido reconhecido como o pai da engenharia sanitria brasileira.
A partir de crticas burocracia, dependncia de recursos ora-mentrios e ao caixa nico, caracterstico da administrao direta, foram constitudas as primeiras autarquias de saneamento, objetivando maior au-tonomia desses servios. Assim, surge uma diretriz para o setor saneamento, que a auto-sustentao tarifria e o financiamento com recursos onerosos para a implantao de sistemas de gua no Brasil. Em 1952, foram institu-dos os servios autnomos de gua e esgotos, os SAAES, originalmente pro-posto pelo Servio Especial de Sade Pblica (SESP, rgo criado em 1942). Algumas reparties ou inspetorias passaram a ser chamadas de departa-mento, na forma de autarquias. Em 1953, foi criado o primeiro plano de financiamento federal para abastecimento de gua, que teve no SESP rgo tcnico assessor. Foram tambm criados outros rgos federais que de
-
senvolviam aes de saneamento, como o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), e, ainda, na rea da sade, o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu). Os rgos do setor sade - Sesp e DNERu (atuavam no controle de endemias e deram contribuies importantes, na implantao tanto de novos sistemas de abastecimento de gua e de esgotos, quanto de servios e desenvolvimento de tecnologias.
Na dcada de 1960, por induo da Sudene, no Nordeste, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em outras regies do pas, foram criadas empresas pblicas de economia mista, em sua maioria, no mbito estadual, com o intuito de prover maior racionalidade administrativa e autonomia aos servios de gua e esgotos. O Banco Nacional de Habitao (BNH), criado em 1964, teve, a partir de 1965, sua atuao ampliada para o financiamento de aes de saneamento, intensificada sobretudo a partir de 1968, com a instituio do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS). Esta foi a primeira linha regular de financiamento para sistemas de abastecimento de gua e esgotos no Brasil, abrangendo rgos pblicos estaduais e municipais.
Com a adoo de parmetros racionais, se buscava a eficincia com a alocao de recursos retornveis, via tarifas, viabilizando a expanso da oferta e superando as restries de recursos oramentrios. Esta era uma demanda dos tcnicos do setor que havia surgido j na I Conferncia Nacio-nal de Sade de 1941. Entre 1960 e 1970, houve uma expanso de 11% na cobertura da populao urbana por abastecimento de gua, atingindo (ape-nas) pouco mais da metade desta populao. Deu-se um aumento significa-tivo de servios autrquicos e empresariais, reduzindo a participao da administrao direta na gesto do saneamento no Brasil, que ficou circuns-crita, basicamente, a municpios de pequeno porte.
Em 1971, institudo o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que se constituiu em um divisor de guas na histria do saneamento brasilei-ro devido sua magnitude e reestruturao que acarretou no setor.
-
O PLANASA, como muitos afirmam, no surgiu do nada, foi um tributrio de valo-res que vinham se consolidando no setor, como a racionalidade na gesto, a autonomia dos servios, a aiocao de recursos retornveis, a no-dependn cia de recursos oramentrios, a auto-sustentao tarifria etc. Dois suportes foram centrais para a viabilidade deste plano: a existncia de um fundo pblico com recursos fartos, o Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), e a centralizao do financiamento e gesto nas companhias estaduais. Como o BNH apenas financiava empresas estaduais e os recursos oramentrios para saneamento foram fechados, os municpios se viram obrigados a conceder os servios s companhias estaduais, ficando tambm alijados como poder concedente, no participando em nenhuma etapa do processo decisrio.
A implantao do PLANASA, considerando os aspectos citados, aliados a uma poltica arrojada de formao de recursos humanos, que teve impor-tante participao da Opas, possibilitou uma expanso significativa da cober-tura de abastecimento de gua e, em menor escala, do esgotamento sanitrio nas dcadas de 1970-80. A cobertura de abastecimento de gua da popula-o urbana passou de pouco mais da metade, em 1970, para cerca de 90%, em 1990. Em 1986, o BNH foi extinto, e as suas funes foram incorporadas pela Caixa econmica Federal (CEF).
Nos anos de 1990, diante da conjuntura poltico-econmica mun-dial, retornaram - aps quase um sculo - as propostas privatizantes para o saneamento brasileiro. A partir de 1994, cerca de quarenta cidades privatizaram seus servios de gua ou esgotos. Emergia uma dupla polariza-o no setor: a gesto estadual versus a municipal, e a pblica versus a privada. Esta tnica permeou a dcada de 1990 e continua no sculo XXI. Com o processo de ampliao da democracia e da descentralizao das polticas pblicas a partir da Constituio de 1988, os municpios passaram a demandar poder decisrio na gesto do setor, havendo uma forte reao por parte das empresas estaduais. Entretanto, para viabilizar o processo de privatizao, seria necessrio modificar o marco legal, assunto que ainda continua em debate.
-
Conforme pode ser verificado na Tabela 6, a evoluo da cobertura de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio para a populao urbana no Brasil cresceu significativamente deste a dcada de 1960, quando os investimentos com recursos retornveis comearam a ter maior volume e regularidade. Considerando-se a populao urbana, nas ltimas quatro d-cadas, a que teve maior incremento na cobertura no abastecimento de gua foi a de 1970, ao passo que a de 1990 teve o pior desempenho. Com relao ao esgotamento sanitrio, os anos 1980 apresentaram melhor desempenho para o mesmo perodo. Levando em conta o grande crescimento da popula-o urbana nesse perodo, considera-se de significativa importncia a am-pliao da oferta desses servios. Entre os anos de 1970 e 1991, o abasteci-mento de gua teve um incremento de 62%, e o de esgotamento sanitrio de 100%. Na dcada de 1990, no que se refere ao abastecimento de gua, este crescimento foi mnimo, de 1,9%. Com relao ao esgotamento sanitrio, o cres-cimento foi maior, mas no se pode identificar com preciso o nmero.
Outros dados do Censo de 2000 tambm merecem destaque. Em relao s condies de moradia, 1,8 milhes dos domiclios urbanos aten-didos por rede geral de gua no tm canalizao interna. No tocante s instalaes sanitrias, h 3,7 milhes de domiclios que no dispem de sanitrios e 7,5 milhes que no dispem de banheiro.
H, portanto, neste incio de sculo XXI, um grande passivo social relativo ao no-acesso, ou a um deficiente acesso, a servios bsicos como o
-
abastecimento de gua e esgotos, que aliado a condies precrias de mora-dia, continua produzindo efeitos perversos no que diz respeito morbi mortalidade por Doenas Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inade-quado (DRSAI).
No incio da dcada de 1980, a taxa de mortalidade por DRSAI era de 30 bitos por 100.000 habitantes. Nos primeiros anos da dcada seguin-te, a taxa era de 11 bitos por 100.000 habitantes e, nos ltimos anos, a taxa era de 9 bitos por 100.000 habitantes. Em 1999, ocorreram mais de 13 mil bitos decorrentes das DRSAI e, em 2000, mais de meio milho de internaes hospitalares foram causadas por essas doenas.
Uma importante iniciativa destinada a ampliar a infra-estrutura de saneamento no pas foi o Projeto Alvorada, iniciado em 2001, pelo qual o governo federal pretendia investir recursos significativos em obras de abas-tecimento de gua, melhorias sanitrias domiciliares e esgotamento sanit-rio. Os investimentos estavam dirigidos aos municpios que apresentam ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor ou igual a 0,500, taxa de mortalidade infantil acima de 40,0 por mil e frequncia importante de doenas entricas de veiculao hdrica. De acordo com esses critrios, seriam beneficiados 1.847 municpios de 21 estados, predominantemente da regio Nordeste.
Diante da fragilidade legal-institucional e do passivo socioambiental que caracterizam o estgio atual, algumas urgncias se configuram no setor saneamento brasileiro neste incio de sculo XXI. Em primeiro lugar, o esta-belecimento de um marco legal claro, que defina nitidamente a titularidade dos servios de abastecimento de gua e esgotos e das competncias dos trs nveis de poder.
Em segundo lugar, a formulao de uma poltica nacional de sane-amento ambiental, na qual princpios e diretrizes j consagrados no SUS, como universalidade, equidade, integralidade, descentralizao e controle e participao social, sejam priorizados por meio de instrumentos polticos,
-
tcnico-operacionais claros. Em uma poltica nacional de saneamento, a intersetorialidade se constitui condio essencial para a integralidade das aes, envolvendo os setores de sade, meio ambiente, desenvolvimento urbano e habitao. A definio de papis de cada um desses setores, de acordo com a sua natureza, fundamental para superar a fragmentao e a superposio que caracterizam as polticas pblicas nacionais. O setor sa-de tem papel nuclear no desenvolvimento de polticas urbanas, pela maturi-dade com que vem implementando a descentralizao, o controle social e a territorializao de suas aes.
A permanncia de um grande passivo na rea de saneamento ambiental no Brasil est a exigir medidas ousadas e urgentes visando universalizao da oferta de sistemas populao, com qualidade de acesso e sem descuidar da recuperao, manuteno e operao des-ses sistemas.
Sade ambiental Embora diversos aspectos da dinmica e das relaes entre o
meio ambiente e a sade humana tenham sido incorporados ao arcabouo legal do setor, ainda est por ser definido um projeto estratgico para a rea de sade ambiental no Brasil, que expresse aes do governo e da sociedade, dando conta da complexidade de fatores sociais e econmi
cos envolvidos na causalidade das condies de risco para a sade da populao.
A partir da dcada de 1970, o desenvolvimento da sade ambiental no pas pode ser analisado em trs perodos distintos. O primeiro segue-se conferncia sobre meio ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, que marca a preocupao mundial com as questes ambientais e sua relao com a sade humana. Nesse perodo, as iniciativas brasileiras se expressa-ram no fortalecimento da capacidade institucional de rgos ambientais e em iniciativas do campo da sade e do meio ambiente, destacando-se a
-
criao do Centro de Sade do Trabalhador e Ecologia Humana, na Funda-o Oswaldo Cruz, e de organizaes governamentais de meio ambiente, no nvel estadual.
Entre os eixos estruturantes que concorreram para o incio de uma preocupao com a sade ambiental no Brasil, destacam-se o desenvolvi-mento da Secretaria Nacional de Meio Ambiente (SEMA) e a criao do Siste-ma Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). NO setor sade, foi criada a Diviso Nacional de Ecologia Humana e Sade Ambiental, no Ministrio da Sade, e tambm coordenaes estaduais de sade ambiental. Foram realizadas tam-bm as primeiras conferncias nacionais de sade do trabalhador e de sa-de ambiental, cujas teses so em parte asseguradas na Constituio de 1988.
A instituio de mecanismos de controle e proteo ambiental este-ve associada ao desenvolvimento de grandes plos industriais, especialmen-te o petroqumico, na dcada de 1970. A preocupao com riscos poten-ciais de exposio humana a esses produtos gerou a criao de centros de intoxicao e de laboratrios de toxicologia humana. Se, de um lado, a ex-panso da fronteira agrcola e o investimento na monocultura extensiva trou-xeram consigo a disseminao do uso de agrotxicos; de outro, a resposta ao controle e ao tratamento de seus efeitos adversos sade humana desen-cadeou o processo de registro de agrotxicos e de outros mecanismos de vigilncia sanitria e epidemiolgica.
Desse modo, as estruturas de sade ambiental se organizavam em torno de problemas, tais como saneamento ambiental, exposio humana a agrotxicos, mercrio, chumbo, fatores de risco relacionados qualidade da gua para consumo humano e sade do trabalhador. Os grupos de pres-so da sociedade, especialmente as organizaes no-governamentais (ONGs) e personalidades ambientalistas relacionadas proteo da biodiversidade e agenda verde, tambm exerceram importante papel no debate e na reivindicao de mecanismos de resposta a questes de sade relacionadas degradao ambiental.
-
Um outro aspecto tambm considerado estruturante poca foi o desenvolvimento de mecanismos de cooperao internacional nas reas de toxicologia, epidemiologia ambiental, metodologias de avaliao de risco sade pblica e competncia laboratorial, tendo como referncia a ao e as estratgias da Opas, em particular do Centro Pan-Americano de Ecologia Humana e Sade (ECO), visando especialmente formao de recursos hu-manos, elaborao de guias e manuais, ao desenvolvimento de bases de dados e de sistemas de informao e, no menos importante, ao apoio pol-tico para as iniciativas de desenvolvimento da sade ambiental no Brasil.
O perodo descrito pode ser identificado como o perodo de toma-da de conscincia, culminando com significativa participao do setor sa-de brasileiro na cpula Rio-92.
O segundo perodo, iniciado com a Conferncia do Rio em 1992 e que se estende at o final da dcada de 1990, pode ser identificado com o desmonte do processo anterior. A implantao do projeto poltico de conso-lidao do modelo neoliberal buscou reduzir o papel do Estado e da socie-dade civil organizada na definio e conduo das polticas pblicas estrat-gicas do pas. O SUS ento institudo voltou-se, no perodo inicial de implan-tao, principalmente para a adequao e universalizao do modelo de assistncia mdica individual, com pouca nfase na sade coletiva e, ainda em menor grau, na relao entre sade e ambiente.
O terceiro perodo, entre o final da dcada de 1990 e o momento atual, pode ser identificado com a retomada do desenvolvimento da rea de sade ambiental, expressando iniciativas de construo de uma poltica de sade ambiental, no mbito do Ministrio da Sade. Foram marcos desse perodo: 1) a estruturao da Agncia Nacional de Vigilncia Sanit-ria; 2) a reformulao da Fundao Nacional de Sade; 3) a definio de eixos agregadores na Fundao Oswaldo Cruz; 4) a intensificao da coo-perao tcnica com a OPAS, viabilizando parcerias com outros pases ame-ricanos. Mais recentemente, constituiu-se, no Ministrio da Sade, a Co
-
misso Permanente de Sade Ambiental, e celebrou-se termo de coopera-o entre os ministrios da Sade e do Meio Ambiente para construir a agenda federal de sade ambiental. O Ministrio da Sade tambm passou a ter maior atuao nos grandes fruns nacionais, como o Conselho Naci-onal de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hdricos e o Conselho Nacional de Defesa Civil.
Esse fenmeno de retomada mais recente representa, para o setor sade, o desafio de desenvolver um projeto que o habilite a atuar sobre os mltiplos fatores ambientais capazes de influenciar a sade da populao. Isso envolve a consolidao das bases tericas, filosficas e conceituais das polti-cas pblicas, a adequao de competncias institucionais, o fortalecimento de parcerias e compromissos nas trs esferas de governo, a participao do setoi privado, a produo de conhecimentos e de tecnologias apropriadas.
Nutrio A prevalncia da desnutrio em crianas de at cinco anos de ida-
de tem sido medida no Brasil por um conjunto de indicadores antropomtricos que relacionam altura com idade, peso com altura e peso com idade. Tais indicadores ajudam a acompanhar tendncias importantes das condies de sade da populao, particularmente as que esto associ-adas pobreza. Entre esses indicadores, destaca-se a avaliao do cresci-mento linear, que relaciona altura com idade e revela o efeito de agravos nutricionais crnicos, decorrentes de uma alimentao deficiente de longa durao e de episdios repetidos de doenas infecciosas que costumam ocorrer nesta condio.
Em 1996, a prevalncia de retardo de crescimento situava-se em 10,4%, no pas como um todo. As taxas eram especialmente elevadas nas regies Norte (16%) e Nordeste (18%), e existiam diferenas expressivas entre reas urbanas (8%) e rurais (19%). No entanto, apesar de ainda ele-vadas, essas taxas aparecem como resultado de uma tendncia declinante
-
que se acentuou nos anos 1990 (Tabela 7). No perodo entre 1989 e 1996, o declnio da prevalncia do retardo do crescimento alcanou uma mdia anual de 4,8%, comparada com 3,7% do perodo entre 1975-1989.
Na anlise desagregada por regies geogrficas e por reas urbano/ rural, foi observado na regio Nordeste um avano indito nesse indicador de desnutrio para o ltimo perodo em estudo. A prevalncia de desnutri-o decresceu a uma mdia anual de 6,5% nas reas urbanas do Nordeste, superando, pela primeira vez, o declnio ocorrido na regio Centro-Sul (5,5%). No entanto, o declnio foi bem menos acentuado nas reas rurais (2,6% no Nordeste contra 2,8% no Centro-Sul).
Essas anlises abrangem apenas dois anos da efetivao do pla-no de estabilizao da economia (Plano Real) e no permitem extrapolar tendncias para o perodo mais recente, posterior a 1996. Para explicar essa tendncia declinante da prevalncia do retardo do crescimento in-fantil, trs principais determinantes tm sido aventadas pelos pesquisa-dores: 1) a expanso do acesso a servios de sade, incluindo a maior cobertura por atividades de vacinao e acompanhamento do desenvol-vimento das crianas e melhor assistncia pr-natal e ao parto, no caso das mes; 2) a elevao do nvel de escolaridade das mes; 3) a amplia-o da rede pblica de abastecimento de gua. Portanto, as melhorias das condies nutricionais das crianas podem, em grande parte, ter sido alcanadas independentemente de incrementos na renda familiar total ou per capita.
-
Alguns indicadores que comprovam ter havido uma melhoria incontestvel das condies de assistncia s crianas entre 1986 e 1996, associada, provavelmente, ao estabelecimento do SUS, so mos-trados na Tabela 8.
Em relao obesidade, constata-se que a prevalncia do problema tem crescido em crianas e adultos de ambos os sexos, em todas as regies e classes de renda. De 1975 a 1996, entre mulheres em idade frtil que possuam crianas menores de cinco anos de idade, a proporo das que apresentavam ndice de massa corporal superior a 30kg/m2 pratica-mente dobrou, passando de 5,3% para 10,1%.
Entre as carncias nutricionais especficas, a mais importante a deficincia de ferro, distribuda em todas as regies e atingindo, sobretudo, crianas e gestantes de menor renda familiar. Os ndices de prevalncia em pr-escolares tm variado de 48% a 51%. Dados para 1996, sobre o consu-mo de alimentos em sete reas metropolitanas, indicam baixa adequao de ferro dieta (40-60%).
Com vistas reduo da anemia ferropriva e preveno de patolo-gias de desenvolvimento de tubo neural em bebs, o Ministrio da Sade est desenvolvendo um projeto para fortificao de farinhas de trigo e de milho com ferro e cido flico, financiado pela CIDA/Canad, e que conta com a parceria da OPAS e da EMBRAPA.
-
A deficincia de vitamina A tem sido demonstrada, desde a dcada de 1980, em crianas na regio Norte e em reas de pobreza da regio Sudeste. Com o objetivo de eliminar a hipovitaminose A e a xeroftalmia, fo-ram tomadas iniciativas de distribuio em massa de megadoses de vitamina A para crianas menores de cinco anos, bem como para purperas, por ocasio da alta na maternidade. Faltam, todavia, estudos de mbito nacional ou regional que permitam avaliar o impacto dessas medidas.
A prevalncia de bcio endmico foi significativamente reduzida com a iniciativa de iodatar o sal de consumo, mas persistem reas de deficincia de iodo nas regies Norte e Centro-Oeste, bem como em alguns estados das regies Sul, Sudeste e Nordeste. Um inqurito em escolares de seis a quatorze anos de idade revelou, em trs estados, nveis mdios baixos de excreo urinria de iodo. Em seis estados, os nveis de iodao do sal eram inferiores a l0mg/g. A OPAS tem apoiado o Ministrio da Sade nas aes de combate deficincia de iodo e na realizao de inquritos para determinar a prevalncia desta carncia nutricional.
Em 1999, foi aprovada a Poltica Nacional de Alimentao e Nutrio, que visa a garantir a qualidade dos alimentos colocados para consumo e promo-ver prticas alimentares saudveis, bem como prevenir e controlar distrbios nutricionais. Para suprir as necessidades calricas de gestantes, nutrizes e crian-as de at seis anos de idade, foi lanada em 2001 a "bolsa-alimentao", que consiste em apoio financeiro mensal a famlias pobres, condicionado ao com-promisso de cumprir uma agenda positiva em sade e nutrio, que inclui con-sultas de pr-natal e vacinao regular, acompanhada pelos servios de sade.
Mudanas nos padres de morbi-mortalidade As mudanas demogrficas ocorridas durante o sculo XX esto
relacionadas, por sua vez, a profundas modificaes nos padres epidemiolgicos brasileiros, sobretudo na composio da mortalidade por
-
grupos de causas. As doenas infecciosas e parasitrias (DIP), que repre-sentavam 45,7% do total de bitos informados no pas em 1930, passaram a constituir, no ano de 1999, apenas 5,9% das mortes com causas definidas. Enquanto isso, as doenas cardiovasculares (DCV) seguiram uma tendn-cia inversa, aumentando sua participao, de 11,8% para 31,3%, no total dos bitos ocorridos no mesmo perodo (Grfico 4). Analisando a evolu-o recente das taxas padronizadas de mortalidade (por 100.000 habitan-tes) para os principais grupos de causas definidas, observa-se que as DCV correspondiam, em 1999, taxa de 146,4, seguindo-se as causas externas (70,2) e as neoplasias (66,4). Cabe ressaltar, na srie histrica dos dados de mortalidade disponveis, certa discrepncia verificada para o ano de 1991, quando teria havido uma reduo importante das taxas, em todos os grupos de causas.
-
A partir da segunda metade da dcada de 1980, observa-se tendn-cia de declnio das taxas padronizadas de mortalidade para as DCV, enquan-to as neoplasias e as causas externas interrompem sua tendncia ascendente (Grfico 5), em funo da reduo das taxas para algumas causas especfi-cas. As doenas respiratrias, que em dcadas anteriores no tinham parti-cipao expressiva na composio da mortalidade, tm permanecido estveis na ltima dcada, figurando como a quarta causa de bito na populao total. A mortalidade por doenas infecciosas e parasitrias persiste com tendncia descendente, iniciada em dcadas anteriores, tendo apresentado taxa de 28,0 bitos por 100.000 habitantes, em 1999- Na anlise dos indicadores de morta-lidade, deve-se ressalvar a elevada proporo de bitos por causas mal defini-das, como um dos fatores limitantes da qualidade dos dados disponveis.
-
A situao epidemiolgica pode ser analisada tambm pelos dados de morbidade hospitalar, que so amplamente disponveis no Brasil e refle tem, em parte, a ocorrncia das formas clnicas mais severas das doenas. Quanto aos dados de morbidade de base no hospitalar, existe maior dispo-nibilidade para as DIP, em especial para as doenas de notificao obrigat-ria. Como se ver a seguir, as tendncias nos indicadores de morbidade apresentam semelhanas, mas tambm importantes diferenas, quando com-paradas com as tendncias observadas nos indicadores de mortalidade.
Utilizando-se a base de dados do sistema de informao hospitalar (SIH) do SUS, para o perodo de 1984 a 2001, foram analisadas as tendn-cias da participao relativa das hospitalizaes por grupos de doenas que tiveram destaque como causa de mortalidade, em relao ao total de hospitalizaes no pas. As doenas cardiovasculares, a primeira causa de mortalidade, representaram a segunda causa de internaes. interes-sante notar que as doenas cardiovasculares tm apresentado uma tendn-cia lenta, porm constante, de reduo da sua participao proporcional no total de internaes (Grfico 6), com um pequeno incremento nos ltimos trs anos. As neoplasias, com uma participao mdia anual de 3% do total das internaes, apresentaram tendncia estvel no perodo.
-
Quanto proporo de internaes por doenas infecciosas, em relao ao total de internaes, no se observa uma tendncia de reduo na mesma intensidade que a verificada para a mortalidade. Nos ltimos 15 anos, para o pas como um todo, as doenas classificadas no captulo das DIP tm apresentado valores prximos a 10% do total de internaes, sendo mais elevados nas regies Norte e Nordeste. Na composio das causas de internaes por DIP, para o ano de 2001, destacam-se as doenas infeccio-sas intestinais, que representaram 59,6% do total de internaes, no pas, e 69,5%, na regio Nordeste.
Para as doenas respiratrias e as causas externas, as tendncias observadas tm tambm pouca oscilao, em toda a srie analisada. En-quanto as doenas respiratrias so responsveis por aproximadamente 16% das internaes - metade destas representadas pelas pneumonias - as cau-sas externas contribuem com cerca de 5,5% desse total. Vale ressaltar que, entre todos os grupos de causas de internao, incluindo os que no foram analisados na discusso sobre mortalidade, a maior proporo deve-se a motivos relacionados gravidez, parto e puerprio (23,9%, em 2001).
Alguns contrastes emergem na compatibilizao das informaes nas categorias de morbidade ou mortalidade, quanto ordem de frequncia na participao dos diversos grupos de causas. Tal quadro justifica-se pelo fato de que a ocorrncia do bito uma expresso bem definida da gravida-de da doena, ao passo que a hospitalizao no segue necessariamente esta ordem de determinao. Como exemplo, tem-se a grande proporo de internaes pelo grupo de causas relacionadas gravidez, parto e puerprio, que, com raras excees, no configuram no seu conjunto nenhuma situa-o de gravidade. Porm, aqui deve-se chamar a ateno para a questo da mortalidade materna, a qual, apesar de sua aparentemente baixa magnitude, apresenta, no Brasil, taxas muito altas quando comparadas a outros pases, refletindo deficincias na assistncia pr e ps-natal. Entretanto, alguns agra-vos podem evoluir com quadros severos, porm, na medida em que tenham baixa letalidade ou sejam potencialmente reversveis pela ao dos servios
-
de assistncia sade, apresentam baixa mortalidade. Esse fenmeno acon-tece, por exemplo, com relao s doenas respiratrias, explicando as dife-renas observadas, na ordem de frequncia, entre seus indicadores de morbidade e de mortalidade.
Apesar da reduo significativa da participao das doenas transmissveis no perfil da mortalidade, elas ainda tm impacto importante sobre a morbidade no pas, como foi visto nos indicadores de morbidade hospitalar. Para algumas dessas doenas, ainda no h medidas eficazes de preveno e controle. No entanto, a perda de importncia relativa das doenas transmissveis, principalmente no ltimo quarto do sculo XX, criou, na opi-nio pblica, uma falsa expectativa de que todo esse grupo de doenas estaria prximo extino. Esse quadro no verdadeiro para o Brasil, e nem mesmo para os pases desenvolvidos, como demonstrado pelos movimentos de emer-gncia de novas doenas transmissveis, como a Aids; de ressurgimento, em novas condies, de doenas 'antigas', como a clera ou a dengue; de persis-tncia de endemias importantes, como a tuberculose, e de ocorrncia de sur-tos inusitados de doenas, como a febre do oeste do Nilo, nos Estados Unidos.
A situao atual das doenas transmissveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que compreende quatro categorias de tendncias: de erradicao, de declnio, de persistncia e de emergncia ou reemergncia. Os tpicos seguintes contm um resumo da evoluo histrica de algumas doenas que compem cada um desses grupos, e das iniciativas governa-mentais que, ao longo do sculo XX, foram adotadas para combat-las.
Doenas transmissveis erradicadas
Varola At a dcada de 1950, o Brasil, ao contrrio de outros pases das
Amricas, ainda no havia iniciado campanhas de vacinao em massa con-tra a varola. O nmero de casos oficialmente registrados nesse perodo era
-
bastante reduzido: variou entre 749, em 1950, a 6.561, em 1960. Esses nmeros, provenientes sobretudo da Fundao Sesp e da rede pblica de centros de sade e hospitais, nitidamente subestimava a incidncia real des-sa enfermidade, tendo em conta a dimenso populacional do pas. Outro fator importante foi a predominncia de uma forma clnica branda da doen-a - a varola minor, mais conhecida por alastrim - que, dcadas antes, havia substitudo a forma major, mais grave e facilmente reconhecida. Por volta de 1960, o Brasil era praticamente o nico pas do continente america-no em que a varola ainda era endmica.
Em 1958, o Brasil juntou-se a outros pases-membros da Opas no esforo de erradicar a varola nas Amricas. Logo aps o Instituto Oswaldo Cruz ter inaugurado sua linha de produo da vacina, foi lanada, em 1962, a primeira grande campanha contra a varola no pas, feita em forma descen-tralizada pelas secretarias de sade dos estados. Devido insuficiente moti-vao das autoridades locais e falta de superviso central, a campanha alcanou aplicar somente 24 milhes de doses, para uma populao de 80 milhes de habitantes.
Atendendo a disposio da XVIII assemblia Mundial de Sade, o Ministrio da Sade instituiu, em 1966, a Campanha de Erradicao da Va-rola (CEV), subordinada diretamente ao Ministro. A CEV recebeu substancial assistncia tcnica e logstica da OPAS/OMS, com recursos do Programa Inten-sificado de Erradicao da Varola, estabelecido em 1967. A estratgia de erradicao baseou-se na vacinao de pelo menos 90% da populao bra-sileira e na implementao de aes intensivas de vigilncia epidemiolgica. A fase de vacinao em massa foi conduzida diretamente pelo Ministrio da Sade, em articulao com os governos estaduais, valendo-se do emprego da pistola de injeo automtica, introduzida em 1965.
Na fase de vigilncia epidemiolgica, foi organizado em todo o pas um sistema de notificao e investigao imediata de casos suspeitos de varola, que permitiu rpido e efetivo controle da transmisso da doena.
-
O grande xito dessa estratgia foi comprovado, de forma inequvoca, em trabalhos pioneiros realizados nos estados do Paran, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tendo servido de base para a instituio do Sistema Naci-onal de Vigilncia Epidemiolgica, em 1975.
No Grfico 7, observa-se a incidncia notificada de casos de varola no perodo 1967-1971, em comparao com o nmero acumulado de doses de vacina aplicadas. O significativo aumento entre 1968 e 1969, de 4.372 para 7.407 casos, reflete o resultado de investigaes de campo, que chegaram a detectar, para cada caso notificado, cerca de 40 a 50 outros, antes desconhe-cidos. Ao final de 1970, j se acreditava que a varola havida sido eliminada do pas. Em maro de 1971, contudo, foi descoberto um novo surto localizado em favela da cidade do Rio de Janeiro, durante operao de rastreamento realiza-da de casa em casa. Do total de vinte casos ento detectados, os dois ltimos resultaram de transmisso intra-hospitalar, em abril de 1971. Foram estes os ltimos casos de varola conhecidos no continente americano.
-
O programa manteve-se em funcionamento durante os dois anos seguintes, para consolidar o sistema de vigilncia epidemiolgica implanta-do e intensificar a vacinao em reas de menor cobertura. Em 1973, uma comisso internacional enviada pela Organizao Mundial da Sade (OMS), aps examinar toda a documentao disponvel e inspecionar atividades em campo, declarou a varola erradicada no territrio brasileiro. Em janeiro de 1980, o Ministrio da Sade suspendeu a produo da vacina antivarilica e a sua aplicao em todo o pas.
Poliomielite Embora a ocorrncia de casos espordicos de poliomielite no
Brasil seja referida s ltimas dcadas do sculo XIX, h evidncias de que a doena se tornou mais frequente a partir do incio sculo XX, conforme relatos no Rio de Janeiro (1909-1911) e em So Paulo (1918). A partir da dcada de 1930, foram observados surtos de certa magnitude em Porto Alegre (1935), Santos (1937), So Paulo e Rio de Janeiro (1939). Na dcada de 1940, vrias capitais foram acometidas, como Belm (1943), Florianpolis (1943 e 1947), Recife (1946) e Porto Ale-gre (1945). A partir da dcada de 1950, tornou-se ntida a disperso da doena para o interior do pas. Em 1953, houve no Rio de Janeiro a maior epidemia registrada na cidade, que atingiu a taxa de 21,5 casos por 100 mil habitantes.
Essa evoluo crescente da doena, mesmo que evidenciada a par-tir de relatos isolados e de informaes incompletas, similar observada em outras partes do mundo. No decorrer da primeira metade do sculo XX, a melhoria das condies sanitrias restringiu a transmisso natural do vrus da poliomielite em certas camadas da populao brasileira, condicionando a formao de maiores contingentes de suscetveis doena, em faixas etrias mais propensas forma paraltica. Tal comportamento foi caracterizado em inqurito sorolgico realizado em 1956, no Rio de Janeiro, que mostrou
-
menor imunidade natural poliomielite nos grupos populacionais de condi-o socioeconmica mais elevada, aos quais correspondiam 60 a 70% dos casos paralticos conhecidos.
O advento da imunizao ativa contra a poliomielite, principalmente a oral de vrus vivos atenuados, no incio da dcada de 1960, modificou o perfil epidemiolgico da doena. Nas reas onde a vacinao passou a ser sistematicamente realizada, como as trabalhadas pela Fundao Sesp, a po-liomielite ficou restrita a casos espordicos. De maneira geral, porm, os esforos foram espordicos e insuficientes, faltando um programa de con-trole integrado e de abrangncia nacional, que assegurasse o suprimento permanente de vacinas e coberturas elevadas em todo o pas. A poliomielite passou a apresentar, ento, um padro de comportamento condicionado pela desigualdade de acesso a servios de vacinao. Estando desprotegida grande parcela da populao infantil, sobretudo nas classes sociais de me-nor renda, manteve-se a circulao contnua de poliovrus selvagens, sobre-tudo a do tipo 1.
Em 1971, houve um importante esforo para debelar a doena, com a instituio, pelo Ministrio da Sade, do Plano Nacional de Controle da Poliomielite. O Plano baseava-se na realizao de campanhas sistemticas de vacinao no mbito de cada estado, executadas em um s dia, mediante ampla mobilizao da sociedade. O Ministrio provia assistncia tcnica aos estados e supria os quantitativos de vacina necessrios. At 1973, o Plano foi implementado em 14 estados, mostrando-se operacionalmente vivel, mas faltaram aes de vigilncia epidemiolgica que permitissem evidenciar o seu impacto.
Em 1974, as atividades do Plano" foram absorvidas pelo Programa Nacional de Imunizaes (PNI), cuja orientao passou a dar nfase vaci-nao de rotina na rede de servios, e no mais estratgia de campanha. Contudo, em funo dos baixos resultados de cobertura alcanados, epide-mias de poliomielite continuaram a ocorrer, at o final da dcada, em todos
-
os estados brasileiros. No obstante, a Fundao SESP instituiu, nesse pero-do, um sistema nacional de vigilncia que passou a acumular informao epidemiolgica consistente, com base em investigao clnica, epidemiolgica e laboratorial dos casos notificados de paralisias flcidas agudas. Com o apoio da Fundao Oswaldo Cruz, outros centros de virologia no pas passa-ram a identificar os tipos de poliovrus circulantes.
Finalmente, em 1980, foi estabelecido um processo decisivo de con-trole da doena, que consolidou a experincia adquirida nos servios de sade do pas durante vrios anos, em distintas iniciativas. Tal processo fun damentou-se na estratgia de "dias nacionais de vacinao contra a poliomi-elite" e teve xito extraordinrio, apesar de certo ceticismo internacional e das crticas que recebeu inicialmente de sanitaristas brasileiros. No apenas produziu impacto imediato, como mostrou-se sustentvel por mais de vinte anos consecutivos, passando a absorver, de forma seletiva, outras vacinas do PNI. No modelo adotado, as aes so planejadas e executadas descen-tralizadamente nos nveis estadual e municipal, porm segundo diretrizes nacionais. Por meio de ampla mobilizao social e de instituies pblicas, em todos os nveis, tem sido assegurado pleno acesso da populao a uma rede de postos de vacinao organizada especialmente, em dias agendados duas vezes ao ano.
Os resultados alcanados no Brasil estimularam a iniciativa da OPAS, em 1985, de erradicar a poliomielite do continente americano. A partir de ento, a instituio promoveu eficientes mecanismos de articulao das ini-ciativas nacionais, com base na adoo de critrios tcnicos comuns, o que logrou interromper a transmisso da poliomielite no continente, declarada em 1994 por uma comisso cientfica internacional.
No Grfico 8, apresenta-se a evoluo do nmero de casos de poli-omielite conhecidos no Brasil de 1968 a 1994, indicando-se as medidas de interveno que conduziram eliminao da doena. Em destaque, o pico epidmico em 1975 (cerca de 3.600 casos) - quando se iniciam aes
-
intensificadas de vigilncia - e a reduo drstica do nmero de casos, que seguiu introduo dos dias nacionais de vacinao, em 1980. Outro mo-mento marcante da evoluo do processo, foi o surto ocorrido em meados da dcada de 1980 (612 casos em 1986), na regio Nordeste, causado pelo poliovrus tipo 3 e que acometeu crianas com esquema bsico de vacina-o completo. Uma investigao conduzida com apoio da OPAS e do Centro de Controle de Doenas, dos Estados Unidos, demonstrou a necessidade de duplicar a concentrao do componente tipo 3 da vacina, o que passou a ser recomendado para todo o continente. Os dois ltimos casos de poliomielite no Brasil foram registrados em abril de 1989, no estado da Paraba.
Atualmente, as aes de vigilncia esto voltadas para a ocorrn-cia de paralisias flcidas agudas (PFA), com o objetivo de detectar, o mais rapidamente possvel, situaes que possam sugerir a presena de poliovrus selvagens circulantes na regio das Amricas. A OPAS vem apoiando os pases do continente na utilizao de indicadores padroniza-dos de PFA e na identificao das caractersticas antignicas de poliovrus de origem vacinal, isolados a partir dos casos investigados. A OPAS tambm
-
apoia o Brasil no desenvolvimento do Plano Nacional de Conteno de Poliovrus em Laboratrios, como parte do processo que antecede a erradicao global da poliomielite.
Doenas transmissveis com tendncia declinante
Resultados expressivos tm sido alcanados com relao a vrias doenas transmissveis para as quais se dispe de instrumentos eficazes de preveno e controle. Muitos desses resultados devem-se ao eficiente de-sempenho do PNI, para o qual a OPAS colabora estreitamente, inclusive por intermdio do Fundo Rotativo para a aquisio de vacinas no produzidas no Brasil.
A transmisso do sarampo est interrompida desde o final de 2000, e a taxa de incidncia do ttano neonatal encontra-se muito abaixo do pata-mar estabelecido para a sua eliminao como problema de sade pblica (um caso por 1000 nascidos vivos). A raiva humana transmitida por animais domsticos tambm teve muito reduzida a sua incidncia e concentrao de casos, podendo-se prever que seja eliminada em futuro prximo. Outras doenas que integram esse grupo so as seguintes: 1) difteria, coqueluche e ttano acidental, tambm evitveis por imunizao; 2) doena de Chagas e hansenase, objeto de intensas aes de controle nos ltimos anos; 3) febre tifide, doena que pode ser reduzida por meio de melhorias sani-trias; 4) oncocercose, filariose e peste, de ocorrncia focalizada.
Para o conjunto de algumas doenas imunoprevenveis (sarampo, ttano acidental e neonatal, coqueluche e difteria), o impacto das aes pode ser visualizado com clareza. Em 1980, ocorreram 153.128 casos des-sas doenas, incidncia essa que, vinte anos depois, havia sido reduzida para apenas 3.124 casos. Ainda mais relevante foi o impacto sobre o nmero de bitos, reduzidos de 5.495 para 277, no mesmo perodo. Anlise similar
-
poderia ser feita para as demais doenas do grupo, que tambm apresenta-ram redues na incidncia, na mortalidade e na ocorrncia de sequelas, com impacto significativo na qualidade de vida.
Sarampo Historicamente, o sarampo, associado desnutrio, representou
importante causa de mortalidade em crianas no Brasil. O estudo multicntrico realizado pela OPAS na dcada de 1960, em cidades da Amrica Latina - entre elas So Paulo, Recife e Ribeiro Preto - mostrou que o sarampo era a principal causa de morte entre um e quatro anos de idade, nas trs cidades brasileiras includas na pesquisa. At a primeira metade da dcada de 1980, ocorreram no Brasil repetidas epidemias de sarampo, com centenas de milhares de casos registrados, que causaram 11.354 mortes, somente entre 1980 e 1984.
A vacinao sistemtica contra o sarampo, em mbito nacional, foi introduzida no Brasil em 1973, no mbito do ento institudo Progra-ma Nacional de Imunizao. Os esforos realizados nas dcadas de 1970 e 1980, utilizando as estratgias de rotina e de campanha, foram insufi-cientes para manter a doena sob controle, em funo da dificuldade de alcanar e de manter coberturas de vacinao elevadas e homogneas no pas. Alm disso, houve de incio certa controvrsia na definio da idade mnima para iniciar a vacinao, devido variabilidade na persis-tncia de anticorpos maternos que neutralizam a resposta sorolgica vacina. Essa questo foi em parte resolvida no incio da dcada de 1980, por meio de um estudo multicntrico conduzido pela OPAS, que fixou tal idade em nove meses.
Uma abordagem mais agressiva para controlar o sarampo no Brasil foi estabelecida em 1992, baseada na vacinao em massa, por campanha nacional, de toda a populao brasileira entre 9 meses e 14 anos de idade, independente de estado vacinai prvio. Pretendeu-se, assim, interromper
-
bruscamente a transmisso da doena, considerando que, fora dessa faixa etria, no haveria um contingente de suscetveis suficiente para manter a cadeia de transmisso. Dessa forma, a doena poderia ser eliminada at o ano de 2000, mediante a vacinao sistemtica das novas coortes infantis, complementada por rpidas operaes de bloqueio de surtos, identificados por atividades de vigilncia epidemiolgica ativa. A campanha realizada em 1992 atingiu mais de 48 milhes de crianas na faixa etria alvo, equivalente cobertura de 96%. Nos quatro anos seguintes, de fato, a incidncia do sarampo foi drasticamente reduzida (Grfico 9).
Por vrios motivos, porm, o xito inicial alcanado no foi acom-panhado, em escala correspondente, pelas outras aes previstas, entre elas a elevao da homogeneidade na cobertura vacinai de rotina e a realizao de uma campanha de 'seguimento' em 1995, que contribuiria para evitar a acumulao de susceptveis. Essa campanha no atingiu resultados satisfatrios, o que condicionou a ecloso, em 1997, de uma epidemia inici-
-
ada em So Paulo e que se expandiu para outros 18 estados, perfazendo 53.664 casos confirmados e 61 bitos. Uma nova campanha de seguimento foi realizada ainda em 1997, tendo sido tambm revisadas as estratgias referentes meta de eliminao.
Neste mesmo ano, a vigilncia da rubola foi integrada vigilncia do sarampo, a fim de tornar o sistema mais sensvel. A integrao passou a ocorrer de forma plena em 1999, com notificao imediata, coleta de amos-tras e investigao de todos os casos suspeitos de rubola e sarampo. Em 1999, uma fora-tarefa foi criada com o objetivo de garantir a execuo, em cada estado, das aes de vigilncia epidemiolgica e de vacinao preconizadas no programa. Apoiado pela OPAS, esse grupo formado por 27 tcnicos realizando trabalho de campo em todos os estados brasileiros. Como resultado desses esforos, desde 2000 no h registro de casos autctones de sarampo no Brasil, o que sugere tenha sido interrompida a circulao viral. O ltimo surto ocorreu no estado do Acre, em fevereiro de 2000, totalizando 15 casos. Houve ainda um caso confirmado, no Mato Grosso do Sul, em novembro do mesmo ano. O sistema de vigilncia detec-tou dois casos importados em So Paulo, em janeiro de 2001 e maro de 2002, ambos procedentes do Japo, o que desencadeou medidas imedia-tas e eficazes de controle.
A situao epidemiolgica atual do sarampo no Brasil requer aes eficientes de vigilncia e controle de condies favorveis reintroduo da transmisso da doena. Recomenda-se a vacinao de todas as pessoas, entre um e 39 anos de idade, que se dirijam a pases onde houve recente circulao do vrus do sarampo. Devem estar vacinados, tambm, os profissionais que mantm contato com viajantes oriundos dessas reas, tais como agentes de turismo, motoristas de txi, agentes da polcia federal, aerovirios e profissio-nais de sade. Com relao vigilncia epidemiolgica, a prioridade atual assegurar a deteco precoce e a investigao de casos importados para que as aes de controle sejam institudas de forma imediata e eficaz.
-
Raiva humana At o ano de 1973, atividades sistematizadas de preveno e contro-
le da raiva eram realizadas apenas em algumas cidades brasileiras, como So Paulo e Rio de Janeiro. Nesse ano, foi criado o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR), mediante convnio firmado entre os ministrios da Sade e da Agricultura, a Central de Medicamentos e a OPAS. Seu objetivo geral era eliminar a raiva humana, controlando a doena nos animais do-msticos e assegurando o tratamento profiltico das pessoas expostas a ani-mais raivosos.
O programa instituiu normas tcnicas nacionais para controlar a doena, padronizou a produo, o controle e o suprimento dos imunobiolgicos utilizados, instituiu campanhas anuais de vacinao de ani-mais domsticos, ampliou a rede de laboratrios, promoveu a capacitao de profissionais e estabeleceu um sistema de vigilncia epidemiolgica que previa o fluxo mensal de informaes padronizadas, do nvel estadual para o nacional. Essas atividades foram implantadas gradualmente, inicialmente nas reas urbanas das capitais e regies metropolitanas, para ento se estender s cidades do interior e zona rural. Em 1977, o programa estava atuando em todos os estados.
As aes do PNPR reduziram o nmero de casos de raiva humana, sobretudo nas regies Sudeste e Sul, onde existia melhor estrutura tcnica e operacional. Em 1980, foram registrados no pas 173 casos de raiva huma-na e, em 2001, o nmero de casos confirmados estava reduzido a 21 (Gr-fico 10). Na mdia dos ltimos cinco anos (1997-2001), 71% dos casos ocorreram nas regies Norte e Nordeste, e os restantes 29% nas regies Sudeste e Centro Oeste. Na regio Sul, desde 1987 no h registro de casos de raiva humana.
-
No que se refere incidncia em animais transmissores, foram notificados 1.320 casos de raiva no perodo de 1980 a 2000, dos quais 1.222 (92,6%) corresponderam a 13 espcies diferentes de animais iden-tificados. Predominaram os casos diagnosticados em ces (79,6%), mor-cegos (6,2%) e gatos (3,6%). Nos ltimos cinco anos, aumentou a participa-o dos casos de raiva diagnosticados em macacos, que nos anos de 2000 e 2001 passaram a ocupar a segunda posio. O ciclo urbano de transmisso permanece o mais importante (83,2% dos casos), seguindo-se o ciclo silvestre (9,1%), que inclui a transmisso por morcegos, e o ciclo rural (0,3%).
O Ministrio da Sade instituiu um plano de eliminao da raiva humana transmitida por ces, que vem sendo implementado segundo obje tivos e metas estabelecidas nos nveis federal, estadual e municipal. Esse plano consiste na intensificao e reorientao das atividades componentes das grandes linhas de ao tradicionais do PNPR, incluindo a vacinao sistemtica de ces, o tratamento padronizado de pessoas expostas, o diag-nstico laboratorial, a captura e eliminao de ces errantes, a vigilncia epidemiolgica e a educao em sade.
-
Doena de Chagas Deve-se ao cientista brasileiro Carlos Chagas, em 1909, a descrio
completa dessa doena, incluindo o agente causal, o mecanismo natural de transmisso, o quadro clnico e sua evoluo. O mesmo autor indicou, ain-da, os determinantes primrios da enfermidade, "todos eles relacionados s precrias condies de vida, e particularmente de habitao, das popula-es sob risco",1 com o que apontava possveis solues.
O controle fsico pela melhoria da habitao era ento a nica alter-nativa, mas a extenso da rea infestada tornava invivel sua adoo em larga escala, pelo alto custo e dificuldade de superar questes fundirias, ligadas posse da terra. Em 1945, foi introduzido no pas o inseticida DDT, mas os ensaios iniciais logo frustraram a expectativa de sua possvel eficcia no com-bate aos vetores da doena de Chagas. No ano de 1947, um novo inseticida clorado, o ismero gama do hexaclorociclohexano-HCH, mostrou em labora-trio sua alta ao txica para triatomneos. No ano seguinte, Dias e Pellegrino, no Brasil, e Romana e Abalos, na Argentina, comprovaram, em condies de campo, a eficcia do HCH no combate aos vetores da doena de Chagas.
Em funo desses resultados, o governo federal instituiu, em 1950, a Campanha contra a Doena de Chagas, sob a responsabilidade do Servio Nacional de Malria. As primeiras aes se desenvolveram ao longo do vale do Rio Grande, na divisa dos estados de Minas Gerais e So Paulo, porm as etapas seguintes no tiveram a continuidade e a contiguidade espacial neces-srias. Por um longo perodo, a doena no foi reconhecida como prioridade, pois os esforos se concentravam no combate malria, doena aguda que limitava o projeto de desenvolvimento do pas, dificultando a ocupao de novos espaos e a expanso das fronteiras agrcolas. A doena de Chagas, ao contrrio, manifestava-se de forma insidiosa, em reas rurais de menor ex-presso econmica, afetando grupos sociais sem poder reivindicatrio.
1 Chagas, C. Nova espcie mrbida do homem produzida por um Trypanozoma (Schizotripanum cruzi).
Nota prvia. Brazil-md., 23(16): 161, 1909-
-
Em 1975, tendo sido erradicada a malria nas regies Nordeste, Sudeste e em parte da Centro-Oeste, maior ateno e recursos voltaram-se doena de Chagas. O programa de controle foi ento revisto, normalizado e redimensionado para ter alcance nacional, sendo estruturado a partir do modelo de operaes de campo contra a malria. A informao epidemiolgica at ento produzida era dispersa, e os dados pouco unifor-mes e comparveis, o que justificou a realizao de dois amplos inquritos nacionais, um de soroprevalncia da infeco humana e outro entomolgico, para delimitar a rea de risco de transmisso vetorial da doena.
O inqurito sorolgico foi concludo apenas em 1980, tendo abran-gido todos os municpios, exceto os do estado de So Paulo. A soroprevalncia na populao rural brasileira foi estimada em 4,2 %, com taxas mximas nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais (8,8%). A distribuio por idade mostrou importante transmisso ativa, revelada pela soroprevalncia de 2,2 % no grupo at 2 anos de idade e de 10,6 % na populao de 5 a 14 anos, alm de altas taxas entre os 15 e 49 anos de idade, que correspondiam ao perfil esperado.
O inqurito vetorial, completado em 1983 j durante as operaes de rotina do programa, compreendeu a captura de triatomneos em domic-lios de mais de 2.200 municpios, em 18 estados brasileiros. Foram encon-tradas, no domiclio ou no peridomicilio, 17 espcies do vetor, com distinta importncia e participao na transmisso da doena. Pela frequncia das capturas e das taxas de infeco natural por Trypanosoma cruzi, cinco espcies foram consideradas, poca, responsveis pela veiculao da do-ena no ambiente domiciliar. Uma delas - Triatoma infestans - merecia ateno especial, por suas caractersticas de antropofilia, capacidade vetorial e larga distribuio.
Os resultados desses dois estudos fundamentaram um desenho de rea endmica ou com risco de transmisso vetorial, que exclua, a rigor, apenas a Regio Amaznica e o estado de Santa Catarina. O inseticida empre
-
gado de incio foi o mesmo HCH usado por Dias e Pellegrino, mas em con-centrao maior de ingrediente ativo (30% de ismero gama). A partir de 1982, foram introduzidos os piretrides de sntese, que, por sua ao desalojante, ofereciam muito maior eficcia, alm de menor toxicidade para o homem.
As caractersticas epidemiolgicas prprias da doena de Chagas e a tecnologia disponvel para combat-la fazem do vetor o nico elo na cadeia de transmisso natural em que se pode intervir. Assim, tende-se a julgar que seja baixa a vulnerabilidade da doena de Chagas a aes de controle. No entanto,