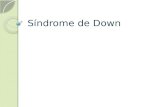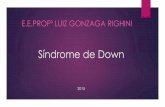AS RELAÇÕES SOCIAIS DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA ... · da implementação do projeto de...
-
Upload
nguyenhuong -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of AS RELAÇÕES SOCIAIS DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA ... · da implementação do projeto de...
AS RELAÇÕES SOCIAIS DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA
PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL
Silvânia dos Santos Zeschotko1 Valéria Lüders 2
RESUMO Com base nos pensamentos de Vygotsky, propusemo-nos a fazer algumas considerações, análise e reflexão acerca da teoria sócio-histórica, da atual política educacional, do papel do educador na formação do indivíduo que integre uma sociedade real e que reconheça qualquer indivíduo, com deficiência ou não, como sujeito histórico capaz de atuar de maneira plena e efetiva em seu meio. Com isso, poderá influenciar a transformação e consolidação de uma sociedade que respeite a diversidade humana, onde nenhum ser humano seja excluído com base na sua condição. O presente artigo tem como objetivos centrais identificar e discutir a orientação histórico-cultural de Vygotsky e de seguidores, com foco nas relações sociais da pessoa com síndrome de Down; analisar de forma reflexiva os aportes teóricos histórico-culturais e sua relevância no atendimento à pessoa com deficiência; compreender as interações sociais como elemento indispensável de integração do indivíduo especial ao mesmo tempo em que propõe refletir sobre o papel do mediador e suas atitudes no tocante aos princípios e diretrizes que alicerçarão a metodologia relacionada com o papel atual da escola inclusiva. Palavras-chave: Lev S. Vygotsky; Teoria sócio-histórica; Interação social; Deficiência intelectual; Síndrome de Down. ABSTRACT Based on Vygotsky' thoughts we decided to make some considerations, analysis and reflection on the socio-historical theory, the current educational politic, the educator's role in shaping the individual forming part of a real society and to recognize anyone with disability or not, as a historical subject able to act fully and effectively in their midst, influencing the transformation and consolidation of a society that respects human diversity, where no human being is excluded based on their condition. This article aims to identify and discuss the central historical and cultural orientation of Vygotsky and followers, with 0a focus on social relations of people with Down syndrome; give an opportunity to have a reflective analysis regarding historical and cultural theoretical approaches and their relevance in meeting the disabled person, to present the importance of understanding social interactions as an essential element
1 Graduada em Letras, Pós-Graduada em Educação Especial – Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (SEED-PR). Professora na Escola de Educação Especial Nilza Tartuce – Curitiba-PR. Email: [email protected]. 2 Doutora em Educação (UNICAMP). Graduação em Psicologia (PUC/Campinas). Graduação em
Pedagogia(UNICAMP). Professora da Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação, Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, nas disciplinas de Psicologia de Educação e Fundamentos da Educação Especial.
2
of integration of the individual special while proposing a reflection on the role of mediator and their attitudes regarding the principles and guidelines that will support the methodology that relates to the current role of the inclusive school. Keywords: Vygotsky sociohistorical theory, social interactions, mental impairment, Down Syndrome.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo é requisito para conclusão do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) e baseia-se em aprofundamento
teórico/metodológico a ser apresentado à Coordenação Geral do PDE/SEED.
Resulta dos estudos com base no tema: Rede de apoio à inclusão de alunos com
necessidades especiais e tem como título: “As Interações Sociais da Criança com
Síndrome de Down e suas implicações no Âmbito Escolar Inclusivo”. O Plano
Integrado de Formação Continuada compreende: Projeto de Pesquisa, Produção
Didático-Pedagógica, implementação do projeto de pesquisa na escola, tutoria em
plataforma MOODLE através do GTR - Grupo de Trabalho em Rede e Artigo Final.
Este estudo teve como pano de fundo a seguinte questão e nela se
fundamentou: Como entender o desenvolvimento das relações sociais da pessoa
com síndrome de Down a partir de uma perspectiva histórico-cultural? Concebendo
a pessoa com síndrome de Down como um sujeito simbólico, cultural e histórico.
Tem como objetivos: Contribuir para o trabalho pedagógico, no sentido de apontar
na dimensão epistemológica a real importância do desenvolvimento das relações
sociais no cotidiano da pessoa com síndrome de Down. Aprofundar–se em aportes
teóricos e metodológicos, interrogando sobre as práticas e os desafios enfrentados
pelas políticas inclusivas, provocando e motivando o profissional da educação a
movimentar-se no sentido de refletir e reinventar sua prática, na busca de novas
possibilidades, ampliando perspectivas para uma educação inclusiva na qual a
escola, espaço que representa a sociedade como um todo, promova o encontro
entre as diferenças e seja, por excelência, um ambiente para a apropriação pelo
aluno dos elementos e processos culturais e não apenas ambiente de socialização.
Como o fracasso ou êxito se constituem na concretude das relações nos
mais variados contextos, o resultado das reflexões aqui apresentadas busca ampliar
e sinalizar complexas questões acerca do deficiente intelectual, apoiado no
resultado de minha experiência em Educação Especial no Paraná e da singular
3
oportunidade nesse momento de investigação teórica e metodológica através do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
Espera-se que essa pesquisa na área de interações sociais da criança com
síndrome de Down seja relevante e cumpra seu objetivo, caindo em solo fértil, o qual
acredito ser as mãos de todos aqueles que trabalham com crianças e jovens com
deficiência intelectual, em especial a pessoa com síndrome de Down. Esta pesquisa
é resultado também de uma aproximação, ou melhor, de um menor distanciamento
entre o que vem sendo discutido, analisado e produzido na academia e o realizado
nas escolas da rede pública de ensino.
Importante ressaltar que nos debruçaremos sobre a teoria sócio-histórica,
sem descartar outras teorias até então adotadas, mas buscando conhecer e então
identificar o que a teoria e os estudos de Lev Seminovitch Vygotsky, acerca da
dimensão histórico-cultural do desenvolvimento humano, contribuem e propõem
para a educação especial.
A deficiência intelectual, vista como diferença estabelecida na relação com o
outro, vem permeada pelos aspectos sociais, culturais e históricos. Entende-se que
é pertinente refletir sobre o cenário atual no referente às práticas inclusivas, os
desafios enfrentados pela educação especial em nosso país e a importância da
pesquisa como suporte para construção de novos caminhos que contribuirão para
consolidação de uma educação e uma sociedade mais coerente, justa e
democrática.
A necessidade de se aprofundar no tema As Relações Sociais da pessoa
com síndrome de Down surge da intenção de propor ao profissional da Educação
Especial lançar um novo olhar, uma nova reflexão acerca de uma educação que
proporcione ao indivíduo com síndrome de Down condições de atuar em sua própria
transformação e da realidade que o circunda; materializando-se a partir do momento
no qual o consideramos um ser ativo e capaz de desenvolver-se plenamente. Afinal,
as pessoas com deficiência para desenvolverem-se plenamente buscam "igualdade"
ou desejam preservar suas "diferenças"? Não é na diferença que encontramos sua
subjetividade? As diferenças experimentadas no contexto das relações são
completamente distintas. As experiências vividas por um indivíduo são únicas,
independentemente se com deficiência ou não. A proposta deste estudo é analisar a
deficiência concebida socialmente para esse sujeito concreto, real e único - que é
4
histórico e experimenta em seu contexto, mediante a interação, as oportunidades e
limitações impostas.
Esta pesquisa, durante a sua elaboração, contou com a riquíssima
contribuição de artigos, teses, estudos e experiências de profissionais na área
educacional e da psicologia comprometidos com o desenvolvimento humano.
Importante destacar que a maior parte dos estudos envolvendo as
habilidades sociais da pessoa com deficiência intelectual está fundamentada em
uma perspectiva comportamentalista, isto é, a ação do sujeito depende de um
estímulo vindo de fora e resulta em uma resposta positiva ou negativa. A pesquisa
em questão tem como foco de sua atenção as experiências concretas do indivíduo
em seu contexto real/social, com destaque à mediação das interações humanas,
que influenciam e são influenciadas pelas relações sociais. Este estudo foi
fundamentado e compreendido a partir do pressuposto teórico da Psicologia Sócio-
Histórica de Lev Seminovitch Vygotsky. Desse modo, os textos a seguir são
“recortes” acerca dos estudos e dos pressupostos teóricos norteadores deste
trabalho a respeito das relações sociais da criança com Síndrome de Down e suas
implicações no âmbito escolar inclusivo.
Ao se refletir e conceituar comportamentos, no que consiste o
desenvolvimento e os traços definidores da criança com síndrome de Down, tem-se
como respostas nada mais do que traços genéricos, os quais favorecem sua
identificação e caracterização. A pessoa com essa síndrome, como qualquer outra,
tem sua experiência marcada por práticas culturais que lhe permitirão se construírem
na condição de sujeitos. Portanto, vale lembrar não serem as limitações as mesmas
para todos os indivíduos com a mesma síndrome; não é, portanto, o conhecimento
das limitações impostas pela síndrome um fim em si mesmo. Não é a capacidade de
conhecermos teoricamente as especificidades dessa síndrome e suas limitações
que contribuirão para o desenvolvimento desse indivíduo, de sua formação, mas um
meio de conhecimento necessário e de apoio para se oportunizar desenvolvimento
por meio de suas experiências individuais e únicas vividas no contexto social e
familiar.
Reconhecê-lo como sujeito real, erradicarmos a exclusão, integrá-lo na
sociedade é um avanço e um reconhecimento dos direitos da pessoa com síndrome
de Down. Contudo, não deixa de ser um desafio que compete não somente ao
Estado e às instituições de ensino, mas a cada um de nós. Possibilitarmos às
5
pessoas com síndrome de Down, por serem sujeitos socialmente capazes, o pleno
desenvolvimento de suas relações sociais, como condição de aceitar e ser aceito,
relacionar-se e conviver em sociedade exige compromisso coletivo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A conscientização de que a sociedade e a educação excluem, como excluem, por que excluem e a quem excluem pressupõe o "anúncio" de um projeto de transformação da sociedade, de cujo processo a educação faz parte, e de um processo de luta ético-política pela libertação dos oprimidos. A conscientização da exclusão aponta para a necessidade de a sociedade e a escola serem transformadas (OLIVEIRA, 2003, p.60).
A história registra que a sociedade sempre teve dificuldades em lidar com a
deficiência, mormente com as características inerentes à deficiência intelectual. Ao
fazermos uma análise histórica da Educação Especial em nosso país, observamos
concomitantemente um resgate e uma reflexão a respeito do processo histórico da
política educacional voltada à pessoa com deficiência, dos diferentes momentos
vividos, do compromisso público dos governos, do conjunto de ações direcionadas à
garantia dos direitos, dos movimentos nacionais e internacionais, com foco principal
na educação de qualidade para todos.
Com essa observação, iniciou-se, no período de setembro a outubro/2011,
análise e reflexão das cinco temáticas componentes do Material Didático: “Eu e
Você construindo relações, valorizando diferenças”, com os dezesseis (16)
professores da Escola de Educação Especial Nilza Tartuce convidados a participar
da implementação do projeto de intervenção na Escola (a maioria graduada em
Pedagogia e com Pós-Graduação em Educação Especial), e seis (6) terapeutas nas
áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia.
Esse “momento de estudo” realizou-se em oito encontros, lembrando que as
discussões ancoraram-se na abordagem histórico-cultural, valendo-se das
contribuições e experiências vividas por cada profissional envolvido, uma vez que a
própria pesquisa apoia-se e privilegia a questão das interações sociais.
Apresentou-se o tema de estudo, linha de pesquisa e da proposta vinculada
ao Projeto e ao Material Didático, intitulados: “As relações sociais da criança com
síndrome de Down e suas implicações no âmbito escolar inclusivo” e “Eu e você
construindo relações, valorizando diferenças”. Houve a apresentação da
6
contribuição pretendida com essas produções, levando em conta os aportes teóricos
e metodológicos, práticas e desafios enfrentados pelas políticas inclusivas.
Iniciou-se com a leitura, análise e reflexão do texto: “Um pouco da história da
Educação Especial em nosso país”, que compõe o material didático, e em mesa
redonda discutiram-se os temas: cultura, valores e comunidade inclusivos; papel
cabível a cada um de nós como educadores para efetivação da inclusão e que
barreiras devemos transpor a fim de se consolidar esse conceito.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948,
em seu Artigo 1° diz que "todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos
outros com respeito de fraternidade" (BRASIL 1948). Assim, fica assegurado a todos
os mesmos direitos à educação fundamental, à dignidade e à liberdade de participar
na sociedade.
Ao se fazer uma retrospectiva histórica da Educação Especial não se pode
deixar de observar, de maneira contextualizada, tanto nas práticas quanto nas
metodologias, a luta pela democratização do espaço escolar e a busca pela
superação da exclusão da pessoa com deficiência.
A educação inclusiva, segundo Oliveira (2004, p.81), desenvolve uma
espécie de "Revolução Copernicana", ao transferir "o foco vigente das relações entre
os indivíduos com necessidades especiais e a escola: do indivíduo para as
instituições, da incapacidade para as potencialidades individuais, do indivíduo para a
coletividade". Ainda, conforme Oliveira (2004), é importante antes de tudo refletirmos
sobre o processo de implementação das políticas públicas inclusivas do Governo
Federal, o qual perpassa pelas secretarias estaduais e municipais de educação até
chegar a nossas escolas, e nessa trajetória nos defrontamos ainda com alguns
conflitos que refletem na prática da educação inclusiva no cotidiano escolar.
Para Carvalho (2010, p. 41) as políticas de educação, como políticas sociais,
devem ser entendidas como modalidades de política pública, ou seja, como conjunto
de ações de governo com objetivos específicos e, ainda de acordo com o autor,
devemos nos conscientizar que um documento de política não se encerra em si
mesmo, cabe planejamento, previsões e provisões de recursos de toda natureza,
para se garantir sua efetividade na prática.
Foi proposto ao grupo de professores e terapeutas refletirem sobre a política
inclusiva, que vem se consolidando em suas bases legais, sendo praticada,
7
discutida, socializada e problematizada não somente pelos docentes da educação
especial, mas instituída no cenário educacional brasileiro mediante ações mais
concretas.
Durante as discussões foi muito difícil manter o foco da temática central, pois
os professores tendiam sempre a desviar a atenção para as situações cotidianas,
para problemas pontuais observados em sala de aula. A discussão não podia
naquele momento se desviar dos movimentos sociais inspirados nas conquistas dos
direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, excluída socialmente e que
vem alcançando ideias e ideais de educação com orientação inclusiva, como prática
democrática voltada para realização da pessoa com deficiência.
Apresentou-se aos participantes um recorte na história da educação especial
no Brasil para análise e ponto de vista pessoal, sobre o princípio de normalização.
Esse princípio tinha como ideia central a "condição normal" de vida das pessoas
com deficiência, isto é, surge uma nova orientação com proposta para a integração
das pessoas com deficiência, mediante mudanças nas atitudes, melhor definindo,
todas deveriam ser tratadas de maneira "igual" e "conviver junto" às demais.
Reconhecia-se, dessa forma, que todas as pessoas tinham direito a conviver
socialmente, uma vez que fossem ajustadas, ou melhor, normalizadas para não se
distanciarem do que se considerava normal em uma sociedade. Essa pessoa seria
trabalhada para se encaixar o mais próximo possível do padrão imposto pela
sociedade.
Comentou-se sobre as organizações não governamentais como: clínicas
especializadas, centros de reabilitação, classes especiais e, por conseguinte, as leis
que legalizam e organizam esses serviços prestados pelas escolas especiais.
Lembrou-se que o compromisso maior dessas instituições passou a ser a
normalização das pessoas com deficiência, e para isso contavam com o apoio da
área terapêutica, a qual, em parceria com a área educacional, tinham como objetivo
maior, normalizar a pessoa com deficiência para integrá-la na sociedade.
Ao se falar da “normalização”, o interesse era contagiar o grupo a fazer uma
análise crítica das ações desencadeadas oferecidas àqueles que recebiam o
diagnóstico de deficiência intelectual, considerados como patologias sociais, que se
transformavam em objetos de vigilância, aos quais eram impostos inúmeros
exercícios repetidos com o intuito do aprendizado e do letramento.
8
A fim de promover medidas necessárias para educação e assistência, em
1957 o Governo Federal criou campanhas voltadas às pessoas com deficiências. O
número de escolas especiais cresceu muito e no fim da década de 60 a APAE já
contava com dezesseis instituições, criando-se nesse mesmo ano a Federação
Nacional das APAES. Com essas organizações ofertando a educação especial, o
Estado isenta-se de assumir as pessoas com deficiências na rede pública.
Notou-se, entre os profissionais, após comentários sobre a “normalização”,
certa movimentação contrária à ideia, até mesmo uma certa intolerância quanto às
ações por ela desencadeadas. Ressaltou-se que, apesar de se considerar
atualmente a normalização como algo excludente, ela foi um grande avanço para a
sociedade de então. Um exemplo disso foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) n° 4.024/61, que assegura educação aos "excepcionais"
preferencialmente no sistema geral de ensino. Quando reformulada em 1971, com a
Lei n°. 5.692/71, sustentou-se a ideia de inserir alunos com deficiência em classes e
escolas especiais, como o mesmo enfoque assistencialista, contemplando a
temática da educação especial com apenas um artigo:
Art. 9º - Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971)
Conforme Miranda (2008, p.35), um dos pontos que gerou polêmica entre as
pessoas que lutavam a favor da pessoa com deficiência foi que, ao citar as
deficiências, omitiram-se os deficientes visuais, auditivos e também, aqueles
indivíduos com condutas típicas das síndromes neurológicas e psicológicas.
Retomou-se com o grupo a proposta de contextualização histórica,
lembrando que na década de 70 iniciou-se de maneira mais efetiva o combate às
práticas discriminatórias e passou-se a considerar o fim do modelo segregacionista.
Em 1973, criou-se o Centro Nacional de Educação Especial e a institucionalização
da educação especial quanto aos planejamentos e às políticas públicas. O impulso
maior para prática da integração social aconteceu a partir dos anos 80. Os
movimentos voltados à integração que aconteceram nas décadas de 70 e 80 foram
historicamente um divisor de águas de extrema importância, pois romperam com a
ideia já cristalizada da incapacidade das pessoas com deficiência.
9
A efetivação na prática da integração social no cenário mundial teve seu
maior impulso a partir dos anos 1980, reflexo dos movimentos de luta pelos direitos
dos deficientes. No Brasil, essa década representou também um tempo marcado por
muitas lutas sociais empreendidas pela população marginalizada (MIRANDA, 2008).
O “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, em 1981, consistiu em
acentuada mobilização para conscientização dos diversos setores e segmentos da
sociedade em relação aos direitos da pessoa com deficiência.
A gratuidade e a obrigatoriedade da Educação Especial nas Escolas
Públicas ganharam legitimidade através da Lei n°.7 853/89, prevendo penalidades e
sansões nos casos em que haja recusa, suspensão ou cancelamento de matrículas
em estabelecimento de ensino público ou privado em razão de deficiência.
Novos paradigmas educacionais na década de 90 compreendem a
diversidade como elemento constituidor das diferenças sociais e culturais. Há um
maior combate à segregação, passa-se a exigir tratamento mais humanitário e a
disponibilidade de maior suporte social, físico e econômico para a inclusão social se
efetivar. Iniciam-se no Brasil discussões em torno do novo modelo educacional
denominado inclusão escolar. Este novo paradigma surgiu como uma reação
contrária ao processo de integração, e sua efetivação prática gerou muitas
controvérsias e discussões, pois não se podia garantir um espaço inclusivo apenas
colocando o deficiente na rede regular de ensino, mas sim por meio de preparação
para dar conta de trabalhar de maneira democrática a diversidade que se
encontrava em seu interior (URBANEK; ROSS, 2010, p.39).
Ao se fazer uma retrospectiva da história da Educação Especial, até a
década de 90, constatam-se muitas conquistas em relação à educação da pessoa
com deficiência intelectual. Partimos de uma quase completa inexistência de
atendimento a uma proposição e efetivação de políticas de integração social
(MIRANDA, 2008).
Na opinião de Glat e Pletsch (1999), criou-se uma falsa dicotomia entre
educação inclusiva e educação especial, como se o advento de uma representasse
a descontinuidade da outra. Na realidade, ocorre justamente o contrário. Em um
sistema educacional inclusivo torna-se fundamental a especificidade de experiência
em processos diferenciais de aprendizagem da educação especial, tanto no campo
de conhecimento, quanto como na área de atuação aplicada.
10
Entre os importantes documentos norteadores de políticas públicas, temos
como instrumento jurídico precursor da inclusão no Brasil a Constituição Federal de
1988, que deixa claro que o atendimento educacional especializado aos alunos com
deficiência deverá ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. São
estabelecidas diretrizes para tratar a Educação Especial como modalidade da
educação escolar obrigatória e gratuita e são integradas as escolas especiais aos
sistemas de ensino.
De acordo com Bueno (1999, p. 9):
Não podemos deixar de considerar que a implementação da educação inclusiva demanda, por um lado, ousadia e coragem, mas, por outro, prudência e sensatez, quer seja na ação educativa concreta (de acesso e permanência qualificada, de organização escolar e do trabalho pedagógico e da ação docente) ou nos estudos e investigações que procurem descrever, explicar, equacionar, criticar e propor alternativas para a educação especial.
A segregação social, e a marginalização dos indivíduos com supostas
deficiências têm raízes históricas profundas, e a sua inclusão escolar não pode ser
vista apenas como um problema de políticas públicas, pois envolve, sobretudo, “o
significado ou a representação que as pessoas têm sobre o deficiente, e como esse
significado determina o tipo de relação que se estabelece com ele” (GLAT, 1998,
p.17).
Ficou claro para o grupo de professores da Escola onde foi realizado o
projeto de implementação, existir o desafio, serem as mudanças fundamentais, a
inclusão um processo, e nesse processo não podemos deixar de analisar seus
diversos aspectos. A resistência é um desses aspectos e é uma realidade que surge
com a proposta de educação inclusiva. Quando se observa a resistência por parte
dos educadores, não significa que os mesmos concordem com a segregação, mas
por outro lado partilham da ideia de a presença física da pessoa com deficiência na
classe comum não garantir seu sucesso nem transformar-se essa ação em ação
excludente. A falta de formação dos educadores para enfrentar esse desafio é uma
realidade, e essa formação, como tem acontecido, não deve se resumir a uma
palestra ou curso de curta duração e sim a um acompanhamento contínuo (GLAT,
1998), porque ações isoladas são consideradas paliativas e não resolvem o
problema em questão.
11
Durante a apresentação dessa temática observou-se continuar sendo a
formação e preparo dos profissionais um tema de interesse comum a ser explorado,
abordados e discutidos no âmbito escolar ainda gerador de muitos questionamentos
acerca de em que consiste a garantia e de um ensino de qualidade para todos. Isso
exige da escola um novo posicionamento e é um motivo a mais para o ensino se
modernizar e para os professores aperfeiçoarem suas práticas. É momento para
atualização, inovação e reestruturação das condições atuais da maioria de nossas
escolas.
O fracasso ou o sucesso da aprendizagem do aluno sempre recaem sobre o professor. Em nenhum momento a equipe escolar se sente responsável. Isso eu venho observando há anos, principalmente na Educação Especial. (P7-AP)
3.
Segundo Mantoan (1988), a inclusão se concilia com uma Educação para
Todos e com um ensino especializado no aluno, mas não se consegue implantar
uma opção de inserção tão revolucionária sem enfrentar um desafio ainda maior: o
que recai sobre o fator humano.
O desafio imposto pela inclusão vem desestabilizando todo um processo de
fragmentação do ensino. Hoje o papel que cabe à educação, aos profissionais e à
sociedade é o de abandonar toda e qualquer ação que se mostre excludente, injusta
e discriminatória. Contudo, problematizar os vários aspectos da inclusão de ordem
social, política, econômica, pedagógica e cultural não caracteriza nesse momento
uma ação contrária, nem uma oposição às novas orientações. Trata-se, sim, de
interagirmos de forma clara, cortando as arestas, sem romantismo como nos coloca
Rosita Edler Carvalho, com os pés no chão, com os pingos nos "is", para que
aconteça e se concretize em bases sólidas, enfim para que dê certo.
2.1 CONTEXTUALIZANDO A DEFICIÊNCIA
Somos nós que definimos o outro (...). E a alteridade do outro permanece como que reabsorvida em nossa identidade e a reforça ainda mais (...). A partir deste ponto de vista, o louco confirma a nossa razão (...); a criança, a nossa maturidade; o selvagem, a nossa civilização; o marginalizado, a nossa integração; o estrangeiro, o nosso país; e o deficiente, a nossa normalidade (LARROSA; LARA, 1998; p.8).
3 Sigla que equivale à identificação dos participantes; P: Professor; AP: Área Pedagógica; T:
Terapeuta; AT: Área Terapêutica. Cada profissional recebeu uma numeração.
12
Iniciou-se essa temática com o questionamento da palavra “alteridade”, que
significa: estado, qualidade daquilo que é outro, a forma como o sujeito se
caracteriza. Para Vygotsky (1984) o ser humano ao estabelecer uma relação com a
realidade que o circunda apropria-se da cultura e ao mesmo tempo nela se objeta.
Portanto, alteridade é a dimensão do outro, é a relação que estabeleço com o outro.
Como nos coloca Ross4 (2011) “Eu sou o que você reconhece em mim. O que você
reconhece em mim me constitui”.
A concepção do termo alteridade, parte do pressuposto básico de que todo o
homem social interage e interdepende de outros indivíduos. Assim, a existência do
"eu - individual" só é permitida mediante um contato com o outro.
Em meio à equipe formada por professores, e nesse momento também de
alguns terapeutas, surge o seguinte questionamento:
“Falando em alteridade, o autismo, por exemplo, significa a ausência da ponte
entre o mesmo e o outro?” (P1-AP).
Ao considerar-se que alteridade é tudo aquilo que é de ordem exterior a nós,
que é também o reconhecer, a consciência da diferença, para o autista sempre
haverá essa falta, essa inacessibilidade, esse viver na incomunicabilidade, não
fazendo pontes com as pessoas que o cercam, com a sociedade onde está inserido,
entre o mesmo e o outro.
Estamos em constante diálogo com tudo que nos cerca de forma consciente e, diante disso, tomamos decisões o tempo todo em relação à metodologia, às técnicas e objetivos. Observo que poucas são as vezes em que nos permitimos questionar o que para nós não é coerente. Não estamos apenas reproduzindo uma prática já pré-estabelecida e dada como positiva? (P5-AP)
Para Vygotsky (1984), é pela atividade humana que o ser humano
transforma o contexto social no qual está inserido e é nesse mesmo processo que
se constitui como sujeito. Para Padilha (2007), fazemos pouca análise da outra face
da moeda – o sim e o não; o que não é. Para Vygotsky (2000, p. 33), “cada pessoa é
um agregado de relações sociais encarnadas num indivíduo”.
4Paulo Ross é Doutor em Educação Inclusiva pela Universidade de São Paulo (USP). Atua como
professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
13
Somos a constituição do outro, e reconhecer esse outro concreto é para nós
um espelho que nos torna real e, ao mesmo tempo, resultado das ações concretas
que, por sermos seres humanos, organizamos coletivamente concepções, análises e
infinitas possibilidades de vir a ser no contexto social.
A fala que se segue ilustra um momento de participação:
“Os encaminhamentos em sala de aula que se ancoram na abordagem
histórico-cultural devem levar em conta o quê?” (P9-AP).
Devem levar em conta as experiências concretas da pessoa com deficiência
ou não diante das relações sociais. Reconhecer nosso aluno como sujeito histórico
que é capaz de se inserir de forma atuante em sua realidade histórica e ao mesmo
tempo crítica, sendo oportunizado a ele recriar sua existência.
“Quem garante que nossa boa intenção não produza experiências
desastrosas?” (P7-AP).
Na condição de coordenadora do grupo, e com meu estudo focado na teoria
Vygotskyana, coloco que os questionamentos são válidos, contudo os fatos devem
ser encarados historicamente. Quanto mais nos conscientizamos, mais nos
tornamos capazes de sermos anunciadores e denunciadores no que consiste o
compromisso de transformação por nós assumidos (FREIRE, 2000, p.28).
“É possível vislumbrarmos uma educação inclusiva para „todos‟ na rede
pública de ensino? E quanto à educação sem preconceitos quando se trata da
pessoa com deficiência intelectual?”(T4-AT).
Questiona-se a inclusão, enquanto o fracasso escolar e a evasão constituem
um problema instalado nas escolas da rede pública de ensino, o pouco ou quase
nada reconhecimento do profissional da educação, espaços físicos inadequados e
muitas vezes sem acessibilidade. A Educação Especial nas academias é tema de
congressos, pesquisas, teses, artigos, enfim, de análises de propostas que contam
com um número considerável de estudiosos e educadores que apontam hoje
metodologias e teorias para - porque não - a participação de “todos” na sociedade
que para nós é a participação na vida cultural e também social.
Segundo Anache e Martinez (2005), para os profissionais da educação a
deficiência mental se expressa nas dificuldades de aprendizagem e adaptação
social. Para os profissionais da saúde, ela decorre de uma patologia que acarreta
prejuízos em quase todas as áreas, o que justifica o atendimento desses alunos por
uma equipe multiprofissional. Os profissionais adotam o mesmo conceito adotado
14
pelo Ministério da Educação: são educandos com necessidades especiais aqueles
que necessitam de programas e recursos individualizados como condição de
aprendizagem.
As referidas autoras citam em seu artigo que, no Brasil, são considerados
educandos com necessidades especiais aqueles que no decorrer do processo
educacional apresentam:
Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo do
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades
curriculares compreendidas em dois grupos:
a) Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou
deficiências;
Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais
alunos demandando a utilização de linguagem e códigos aplicáveis;
Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que
os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes
(Resolução CNE/CEB N. 02 de set/2001).
De nada vale questionarmos o papel das escolas especiais, das instituições
e dos atendimentos clínicos oferecidos hoje às pessoas com deficiência, se não
analisarmos as relações que intermedeiam esse contexto, as interações. Afinal,
como cita Padilha (2000, p.206) “O deficiente não é deficiente por si só, o tempo
todo, como uma entidade abstrata e deslocada. A deficiência está contextualizada e
marcada pelas condições concretas de vida social.”
Para Vygotsky (1989), não é o defeito que decide o destino das pessoas,
mas, sim, as consequências sociais desse defeito.
Segundo Marques (2007), o conceito de ser humano não pode, em hipótese
alguma, ser tomado como um conceito unívoco, ou seja, não existe, de fato, uma
unidade de manifestações emocionais, intelectuais ou físicas que possa reduzir os
habitantes dos diversos recantos do planeta a um único conjunto de intenções e
manifestações. As crianças com síndrome de Down, como qualquer outra criança,
desenvolvem-se, crescem, interagem, progridem e aprendem, entretanto o fazem
com algumas particulares diferenciações.
Depois de muitos anos e muitos esforços, as pessoas com deficiência têm
demonstrado que podem aprender, superando um estado de abandono secular. Não
15
podemos perder os frutos de tantos esforços, temos de confiar em suas
possibilidades e capacidade (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SÍNDROME DE
DOWN, 2010).
Oportunizar às pessoas com deficiência intelectual, sujeitos socialmente
capazes, o desenvolvimento das suas relações sociais, como condição de aceitar e
ser aceito, relacionar-se e conviver em sociedade exige compromisso coletivo.
“Ouvimos o tempo todo que a escola deve atender as necessidades de
todos sem discriminação. Como fazer isso se a ideia primária do professor é corrigir
comportamentos considerados desviantes?” (P10-AP).
Constata-se aí um equivoco nas concepções de escola e de educação;
lembremos da tão falada educação bancária que não possibilita o direito
fundamental de todo indivíduo de agir em sua própria história. O professor deve
abolir toda e qualquer ação que se mostre excludente, de desvalorização, que não
conceba o indivíduo em suas diferenças e que essa diferença não se constitua
marco ou critério de hierarquização.
Nesse sentido, as interações sociais são a base da estrutura social,
conforme a psicologia sócio-histórica, traz em sua essência a concepção de que
todo Homem se constitui como ser humano pelas interações sociais que estabelece.
Desde que nasce, o indivíduo é socialmente dependente dos outros e se envolve em
um processo histórico que, de um lado, oferece dados para compreensão de mundo
e visões sobre ele e, de outro, permite a construção de uma visão pessoal, sobre
este mesmo mundo (MARTINS, 1997, p. 111).
Uma vez que esse estudo fundamenta-se na teoria sócio-histórica de
Vygotsky (1984), vale ressaltar que nos seus estudos a noção de desenvolvimento
está atrelada a um contínuo de evolução, no qual caminharíamos ao longo de todo o
ciclo vital. Essa evolução, nem sempre linear, dar-se-á em diversos campos da
existência, nas seguintes áreas: afetiva, cognitiva, motora e social.
Parafraseando Anache (1997), a deficiência possui etiologias diversas e
pode ser vista como uma via comum de vários processos patológicos que afetam o
funcionamento do sistema nervoso central. Segundo a referida autora, esse conceito
é oficialmente assumido no Brasil e apresenta uma concepção de aprendizagem da
pessoa com deficiência fundamentada em uma visão adaptativa e naturalista sobre
os processos de aprendizagem. A perspectiva histórico-cultural nos oportuniza
problematizar essa visão, uma vez que a deficiência é entendida como uma
16
construção social e o sujeito considerado na sua singularidade, o que justifica se
constituírem as funções psicológicas superiores por intermédio das atividades
humanas no contexto cultural.
Enquanto professora e com uma experiência de vinte cinco anos no magistério, observo que nos últimos anos a inclusão tem mostrado quase que como uma “ansiedade geral” entre os educadores. Há uma fórmula mágica pedagógica de inclusão? Se há, qual é?(P9-AP)
Não há. Temos, sim, uma tentativa de mediante as metodologias e as
práticas de ensino oportunizar uma melhor adaptação da pessoa com deficiência
intelectual nas escolas de ensino regular. Devemos nos questionar na condição de
educadores, nosso envolvimento conjunto na elaboração de estratégias que
favoreçam a inclusão. Como educadores, precisamos ter bem claro o que queremos,
o que buscamos e pelo que lutamos; caso contrário, farão essa escolha por nós e
teremos que arcar com o que a nós for imposto, mesmo que nos pareça incerto e
inviável. Fazer valer os princípios de respeito à dignidade e às diferenças, à
igualdade de oportunidades, impedir práticas que constituem discriminação e
exclusão, garantindo, assim, a toda pessoa com deficiência, desfrutar dos direitos
humanos e da liberdade, eliminando os empecilhos de sua plena participação na
sociedade.
Em relação à inclusão, o que houve no Brasil foi a inversão de fatores,
diferentemente de outros países, cuja legislação que a garante antecedeu a história
de inclusão. Não houve uma preparação, por isso essa “dificuldade” em se fazer
cumprir a lei, por isso tanto temor, tanta ansiedade, tanta frustração.
2.2 A TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA
Apresentou-se aos professores e terapeutas que a escolha pela teoria sócio-
histórica surgiu como proposta teórica que leva em conta o sujeito histórico, o sujeito
em sua concretude, aprofundando-se principalmente no tema da relação entre
pensamento e linguagem, pois temos a linguagem como instrumento primordial para
interação social de qualquer indivíduo, seja ele deficiente ou não. Surgiu também
como possibilitador de análise e questionamento da teoria em questão, focada na
psicologia cognitiva que abrange a percepção, a memória, a atenção, a resolução de
17
problemas, a fala e a coordenação motora, tendo como eixo norteador um sujeito
real e inserido, não desconectado de seu tempo, mas concreto, histórico e social.
Durante a discussão dessa temática observou-se que as expectativas dos
professores crescia à medida que a teoria sócio-histórica era apresentada e que
para alguns estava sendo encarada como tábua de salvação, pois questionavam a
prática da teoria.
“Podemos sonhar com uma nova metodologia que surja e resgate uma nova
pedagogia, um novo olhar, que fuja totalmente dessa visão terapeutizada da
educação especial que muitos profissionais leigos ainda têm?” (P15-AP).
Estamos diante de uma situação priorizada em lei e já participamos da
construção do projeto político–pedagógico inclusivo, e isso nos possibilita vislumbrar
esse intercâmbio entre escolas especiais e regulares visando a ações pedagógicas
que correspondam às particularidades de aluno e garantam a esses sujeitos a
efetiva inclusão.
“Devo esquecer as outras teorias e considerá-las fracassadas, uma vez que
posiciona a teoria Vygotskyana como exemplo de perfeição? Essa teoria não está
em nenhum material didático. Como posso colocá-lo em prática?” (P7-AP).
Buscaram-se estratégias para lidar com a ansiedade instalada de alguns
professores e da estagnação de outros. Isso era desafiador e ao mesmo tempo
positivo, pois conseguir desestabilizar toda uma postura metodológica e observar
que os professores conseguiram se distanciar da prática e refletiam sobre a mesma
com a posição de questionadores à luz de uma outra teoria.
Um gesto de indignação, algo que inquieta e até mesmo incomoda, funciona
para o educador como um despertar para uma mudança de olhar, uma ação
reflexiva diante do seu cotidiano, oportunizando a abertura de novos horizontes.
A teoria sócio-histórica nos permite estudar a relação entre funcionamento
intelectual e a cultura na qual se insere a pessoa com deficiência. Contudo, vale
ressaltar que uma teoria não pode ser vista como tábua de salvação e que não é
somente por meio da teoria que vamos resolver o problema da prática na Educação.
Torna-se necessário, um estudo mais profundo, trabalhar a partir da prática concreta
da nossa realidade, tentando um movimento de transformação de mentalidades.
Colocou-se para o grupo de professores e terapeutas que a teoria em
questão diferencia-se de outras porque ao se analisar a criança com deficiência,
suas potencialidades e limites, concentra-se nas habilidades e potencialidades que
18
essas possuem e que se tornarão a base primordial para o desenvolvimento de suas
capacidades integrais. Vygotsky (1989), direciona seu olhar bem mais para o que
representa força do que pelo que representa deficiência, rejeitando os testes que
medem capacidade como objeto quantificador das capacidades.
Questionou-se diante do olhar atento de cada professor.
“Estamos em momento de mudança de paradigma? Como colocar em
prática as teorias sócio-históricas no cotidiano da sala de aula? Por que ainda
dividimos em estágios o desenvolvimento da criança?”
Observa-se que há hesitação diante de alguns questionamentos que põem
em evidência práticas materialistas e mecanicistas. O estudo em questão traz um
contraponto teórico sobre a educação pautada nessas concepções. Pautar o
desenvolvimento da criança numa visão desenvolvimentista, que classifica e divide
em estágios, distancia o educador desse educando, descontextualiza o
desenvolvimento e descortina a hierarquização desse profissional que considera
previamente conhecer tão bem o individuo sob seus cuidados. Definir exatamente o
que esse educando conhece, porque conhece, o que detém e o que não detém,
nada mais é que um encaixe em estágios pré-definidos. O educador deve ter como
foco, ao observar o educando, a dimensão histórica que o mesmo está inserido
social e culturalmente. Parafraseando Bakhtin (1980), o homem não nasce só, como
um organismo abstrato, nasce também socialmente.
Vygotsky (1997), concluiu que o ser humano é um ser ativo que influencia
nesse meio, ou melhor, na criação desse meio. É quando o elemento histórico
mistura-se e funde-se ao cultural. Essa constante mediação da criança com os
adultos faz com que esse novo ser incorpore-se à cultura acumulada historicamente.
Inicialmente, as reações desse novo ser são biológicas, pois suas respostas são
dominadas pelos processos naturais. Porém, pela mediação os processos
instrumentais mais complexos (inter psíquicos) surgem com maior definição e forma.
A abordagem histórico-cultural de Vygotsky (1989), concebe o
desenvolvimento humano como processo que transcorre nas condições concretas
de vida na cultura e, assim, atribui às práticas sociais e às instâncias institucionais,
um papel efetivamente formativo do sujeito. As noções centrais de mediação social e
internalização traduzem em tese que o ser humano é social desde o início e se faz
indivíduo nas relações sociais, assimilando a cultura e sendo por ela assimilado
(GÓES, 2009).
19
Para Vygotsky (1997), há necessidade de que os processos educativos
recaiam principalmente na riqueza de um ensino, no qual as funções psicológicas
superiores tenham sua gênese. Significa que devemos ficar atentos à reconstituição
desse educando nas relações com outro, na relação com o social de maneira que as
representações e as compreensões tenham significado, pois estão permitindo outras
possibilidades educativas no contexto educacional. Todas as atividades cognitivas
básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história social e acabam se
constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade.
Portanto, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do
indivíduo não são determinadas por fatores congênitos. São, isto sim, resultado das
atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o
indivíduo se desenvolve.
Conforme a teoria histórico-cultural o aprendizado não se subordina
totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se
alimenta do outro, provocando saltos de nível de conhecimento. É a isso que se
refere um de seus principais conceitos - o de zona de desenvolvimento proximal
(ZDP) - que seria a distância entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo
que ela tem como potencial de aprender – potencial que é demonstrado pela
capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um adulto.
Segundo Rego (2004), o aprendizado é o responsável por criar a zona de
desenvolvimento proximal, na medida em que, em interação com outras pessoas, a
criança é capaz de colocar em movimento vários processos de desenvolvimento
que, sem a ajuda externa, seria impossível ocorrer. É por isso que Vygotsky (1984,
p. 98) afirma que: “‟aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível
de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com
assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”.
Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho entre
o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer
sozinha. Saber identificar essas duas capacidades, e trabalhar o percurso de cada
aluno entre ambas, são as duas principais habilidades que um professor precisa ter.
É importante nesse momento destacar a abordagem em tom de
questionamento de uma das professoras participantes:
20
Alguns colegas que atuam na rede regular de ensino, por temerem não o deficiente, mas o desconhecido. Por também temerem não dar conta de ensinar, pois não sabem de fato o que, e como ensinar experimentando, assim, um sentimento de impotência diante da pessoa com deficiência, preferem posicionarem-se contra a inclusão. Se questionamos o porquê da sua posição, pouco nos convencem. Temos muitos profissionais que preferem se esconder em sua covardia, do que lançarem ao desafio de enxergar a criança, suas dificuldades e potencialidades (P8-AP).
Para Vygotsky (1997), a deficiência, seja ela em que grau for, causa impacto
no ambiente, e poderá ser fonte geradora de possibilidades ou limitações, portanto,
todo trabalho seria para evitar que o defeito primário se constituísse em defeitos
secundários. Vygotsky (1997) define o defeito primário como sendo de origem
biológica, e o secundário como sendo construído na relação social. Afirma que ao
relacionar-se com outras pessoas, o ser humano acaba relacionando-se consigo
mesmo; ele enfatiza a ideia proposta pelo materialismo histórico dialético, que
propõe o homem como ser social em constante mudança pelo meio no qual está
inserido. Dessa maneira, a criança, com deficiência intelectual, relacionar-se-á
consigo mesma de acordo com o seu ambiente. Se esse ambiente for acolhedor e
produtivo, ela tenderá a se sentir acolhida e produtiva; em contrapartida, se esse
ambiente for discriminatório e improdutivo, ela tenderá a se sentir discriminada e
incapaz.
Para a pessoa com deficiência intelectual, estabelecer e manter vínculos
sociais, antes de tudo, implica capacidade de organizar sentimentos, pensamentos e
emoções no contexto de seu ambiente como casa, escola, trabalho, fazendo uso da
linguagem verbal ou não verbal de maneira articulada e efetiva. Quando se
relacionam habilidades sociais a um determinado grupo, leva-se em conta sua
cultura, seu contexto, a função que desenvolve, a idade, os valores, as expectativas
de sua realidade atual, e isso tudo definirá o repertório de habilidades esperados e
os padrões a serem seguidos, e até mesmo valorizados.
Ao assumir o papel de educador, é inerente o comprometer-se com uma
educação que contemple o sujeito em sua complexidade. Vale ressaltar, que nos
estudos de Vygotsky (1997), a noção de desenvolvimento está atrelada a um
contínuo de evolução, em que caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital. Essa
evolução, nem sempre linear, dar-se-á em diversos campos da existência, tais como
afetivo, cognitivo, social e motor.
21
Parafraseando Anache (1997), a deficiência possui etiologias diversas e
pode ser visto como uma via comum de vários processos patológicos que afetam o
funcionamento do sistema nervoso central. Segundo a referida autora, esse conceito
é oficialmente assumido no Brasil e apresenta uma concepção de aprendizagem da
pessoa com deficiência, fundamentada em uma visão adaptativa e naturalista sobre
os processos de aprendizagem. A perspectiva histórico-cultural nos oportuniza
problematizar essa visão, já que a deficiência é entendida como uma construção
social e o sujeito considerado na sua singularidade, o que justifica que as funções
psicológicas superiores se constituem por intermédio das atividades humanas no
contexto cultural. Por conseguinte, para a sociedade, o indivíduo especial é visto
„naturalmente‟ como inferior e incapaz, porque isso foi construído socialmente e
dessa maneira justifica-se uma exclusão natural e até então muito bem aceita.
Afinal, o que nos determina na condição de sujeitos? Alguns
questionamentos foram muito importantes durante a discussão da temática para
uma retomada do tema, pois as vozes dos profissionais nesse momento tinham
extremo valor para a construção final do artigo em questão.
“Não sei muito bem o que nos determina, mas que estamos sempre nos
adaptando, estamos (...) ao contexto, ao sistema, ao ambiente (...). Para Vygotsky
deve ser mais ou menos isso, não é?” (T6-AT).
Complementando o pensamento da professora, somos um conjunto de
possibilidades e as condições sociais nos determinam. O ser biológico, essa
entidade humana, enquanto conjunto de possibilidades desenvolve durante seu
percurso algumas habilidades e outras não. Ganhamos e perdemos, adaptamo-nos
biológica e socialmente durante toda nossa vida.
Vygotsky (2004), foi um grande pesquisador e tratarmos sua teoria de modo
dogmático contraria a maneira como conduziu seus estudos e pesquisas. Ele
aprofundou-se em diversas áreas do conhecimento e, se quisermos ser coerentes
com a sua teoria, devemos tê-la como ponto de partida e não como ponto de
chegada.
22
2.3 INTERAÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:
SUJEITO NA DIFERENÇA
Iniciou-se essa temática buscando definir com o grupo o que é interação
social. Importante destacar que não somos diferentes de nosso tempo e não há
troca humana no contexto de uma sociedade que não seja considerada social. E
quando nesse social coletivo questionamos a exclusão e o preconceito, não há
como interpretá-los, senão, vinculando-o ao que se passa pela interpretação do
coletivo. Foi lançado ao grupo de professores o seguinte questionamento: Podemos
considerar a consciência humana como um produto social? Com certeza. A
interpretação do coletivo nada mais é que a consciência, muitas vezes herdada de
gerações anteriores que se cristalizaram. Não houve, de quem a reproduz hoje,
participação direta de sua construção, contudo nós a repetimos e a reproduzimos na
maioria das vezes de forma inconsciente. Conhecemos pouco ou quase nada da
construção social que nos move, o que nos guiou e guia até mesmo nas pequenas
ações cotidianas.
Depois dessa consideração, os professores foram convidados a fazerem
uma análise reflexiva de suas próprias trocas, das trocas de seu aluno no contexto
social e o que isso simboliza para a pessoa com deficiência que carrega a marca da
“diferença”. Observou-se que essa experiência, esse diálogo com os professores,
oportunizou reflexão sobre a ação.
Segundo Carvalho (2010), as relações sociais ocorrem em todos os lugares
de uma formação social e, na prática, a experiência vivida e as decorrentes das
relações sociais não ocorrem em espaços mutuamente exclusivos. Quando se trata
da pessoa com deficiência, suas diferenças no contexto social ganham outra
dimensão e conotação.
O desenvolvimento humano está intrinsecamente relacionado à evolução, ao
ciclo que se tece durante toda a vida. Quando se trata do desenvolvimento da
pessoa com deficiência intelectual, suas diferenças no contexto social ganham nova
dimensão com outra conotação, tem sua potencialidade muitas vezes desvalorizada,
destacando-se somente o que nele é ineficiente e busca-se, sobremaneira, repor
essa ineficiência de forma assistencialista muitas vezes maquiada e intitulada
'inserção social'.
23
Trabalho também em uma Escola do Ensino Regular e lá ouço os professores dizerem que quando tem um aluno especial na sala não o tratam com diferença. Para esses profissionais todos são iguais. É correto agir de maneira a não reconhecer o deficiente enquanto um aluno que precisa de um atendimento diferenciado? (P3-AP)
Deve-se ter muito cuidado com a afirmação de "são diferentes, mas são
tratados como iguais". Diferentes em quê? Iguais em quê? Não é negando a
diferença que conquistaremos o respeito político e social, mas de como essa
diferença vem sendo analisada e entendida no contexto atual.
A maturação pela qual passa qualquer indivíduo, em todo seu processo de
desenvolvimento, recebe uma gama de influências e estímulos externos que
podemos considerar o meio onde essa criança está inserida, que envolve vários
aspectos como: sociedade, cultura, aspectos socioeconômicos, ambiente familiar,
entre outros.
O desenvolvimento somente pode acontecer de forma saudável, se este
puder experimentar uma interação humana que lhe forneça os instrumentos para
lidar com o mundo. Ao interagir com o meio, o ser humano se desenvolve criando
ferramentas para lidar com o mundo que o cerca (FEUERSTEIN, 1994).
Ao tratar-se do desenvolvimento das interações sociais da pessoa com
síndrome de Down, não podemos deixar de fazer referência à inclusão/exclusão
social desse indivíduo e à identidade que ele constrói sob influência dessa interação.
As causas de exclusão na sociedade hoje são as desigualdades de oportunidades,
não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas principalmente para aqueles
com diferenças econômicas, étnicas e culturais numa sociedade que valoriza o
padrão "normalidade", e aqueles que não se encaixam, ou melhor, não se
enquadram nesse padrão, encontram-se em grande desvantagem e fora do padrão
estabelecido como ideal. A desigualdade, essa diferença, foi construída
historicamente; portanto, nenhum decreto, nem as lutas travadas em favor de
políticas sociais que buscam equidade podem mudar repentinamente esse fato.
Observo que não só eu, mas muitos outros colegas agem de forma a sempre apontar ao aluno “especial” indicando o que fazer, quando fazer, como fazer (...). Não oportunizamos, muitas vezes, que o mesmo faça escolhas. Não damos muitas vezes autonomia para que o mesmo se desenvolva. (P14-AP).
24
Quando buscamos desenvolver, oportunizar interações sociais, temos
garantir a esses indivíduos seu direito às escolhas, atitudes e ações. Quando lhes é
negado o direito à interação, à decisão, à escolha, oportunizamos-lhes apenas o
isolamento e a compaixão aos olhos de quem os vê, validando o estigma, a
exclusão, a discriminação, a inferiorização e a diferença.
Para Carvalho (2010), a questão da diferença como relação social pode ser
resumida nas seguintes indagações: nas relações sociais, a percepção das
diferenças atua como meio de valorizar a diversidade ou como prática excludente?
Após um significativo silêncio e troca de olhares, uma educadora posiciona-
se:
Devemos desenvolver um olhar mais atento, pois enquanto acreditamos estar valorizando a diversidade, estamos também o tempo todo tentando disciplinar, ajustar, moldar o individuo especial a um padrão pré-estabelecido de normalidade. Será que continuamos hierarquizando e infelizmente classificando nosso aluno e impedindo que o mesmo estabeleça relações interpessoais positivas? Será que não há uma busca quase que inconsciente do educador por uma „eficiência‟ ditada pela sociedade? (P14-AP)
Segundo Löhr (2004), a dificuldade de estabelecer e manter
relacionamentos interpessoais produtivos estão presentes na vida de muitas
pessoas, constituindo-se, como no caso de algumas deficiências, não o problema
central, mas parte do quadro da própria deficiência. Temos hoje uma sociedade
regida por regras muito claras que dá grande valoração à eficiência.
Marques (1992, p.8) afirma que:
O que temos é uma sociedade impregnada de preconceitos e de um espírito de competição que, por prepotência dos ditos 'normais', procura estabelecer os limites do outro, como se esse fosse um inválido e, consequentemente, um ser digno apenas de „caridades‟ marginalizadoras e humanamente humilhante.
Ao referir-se ao desenvolvimento das interações sociais do indivíduo com
deficiência intelectual, busca-se minimizar a discriminação e a exclusão. Busca-se
derrubar as barreiras que impedem a plena socialização do indivíduo com
deficiência e com o paradigma na sociedade de que o indivíduo com deficiência
deva carregar consigo uma patologia que o exclua do convívio social e deixe-o à
margem do convívio com pessoas ditas “normais”. Quer-se em uma sociedade
25
inclusiva que se valorizem as diferenças como elemento enriquecedor, não por
decreto ou determinação, mas de forma espontânea e inerentemente inclusiva.
“Gostaria de saber um pouco mais sobre a aprendizagem da criança com
síndrome de Down.” (T6-AT).
Ao indagar-se sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa com
síndrome de Down, no papel de sujeito-histórico-social, que se constitui na relação
com o outro, apropriando-se historicamente dos conhecimentos, reportamo-nos à
teoria histórico-cultural de Vygotsky, a qual nos permite problematizar essa visão em
função de a deficiência ser compreendida como construção social. Consoante
Vygotsky (1989), há necessidade de que os processos educativos recaiam
principalmente na riqueza de um ensino, no qual as funções psicológicas superiores
tenham sua gênese. Significa que devemos ficar atentos à reconstituição desse
educando nas relações com o outro, na relação com o social de maneira que as
representações e as compreensões tenham significado, pois estão permitindo outras
possibilidades educativas no contexto educacional.
O ser humano possui uma história social e nela englobam-se elementos de
sua cultura resultantes de seu contexto. Dentro da perspectiva histórico-cultural, a
aprendizagem não se limita apenas à aquisição de habilidades. O método dialético
nos dá a possibilidade interpretativa a partir da dimensão histórico-cultural do
desenvolvimento humano nas relações sociais, em seu movimento, analisando os
fatos historicamente.
De acordo com Vygotsky (2000), todas as atividades cognitivas básicas do
indivíduo ocorrem de acordo com sua história social e acabam se constituindo no
produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. Portanto, as
habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são
determinadas por fatores congênitos. São, isto sim, resultado das atividades
praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se
desenvolve.
“Nem sempre a deficiência simboliza um obstáculo” (T4-AT).
A deficiência em si, origina não somente dificuldades e obstáculos, origina
também força para vencer; forças, porém, que só poderão ser vistas, interpretadas
e compreendidas com um outro olhar, por um outro prisma. O que tem acontecido,
segundo Padilha (2000), é que as ideias de „força‟, de „potencialidade‟ e
„possibilidade‟ constante dos programas de educação especial e que fazem parte
26
das falas dos profissionais, têm sido direcionadas no sentido restrito de evitar a
discriminação. Fala-se em considerar a criança ou o jovem deficiente como
„qualquer outra criança‟, ou „qualquer outro jovem‟. Afirma-se, por exemplo: „tratamos
estes jovens como se fossem normais. Esta ideia, esta concepção, mesmo
parecendo libertadora, é mobilizadora e, na verdade mascara a dificuldade de
compreender as condições de produção do pensamento e da ação dos deficientes,
resultando em dificuldades de programar as práticas educativas. Quando não se
reconhece a deficiência, a diferença é mascarada e, dessa forma, dá-se abertura
para exclusão. Segundo Vygotsky (1989, p.23): “a escola especial tem diante de si a
tarefa da criação positiva, da criação de suas formas de trabalho que respondam às
peculiaridades de seus educandos”.
Para Carvalho (2010), somos diferentes e queremos ser assim, e não uma
cópia malfeita de modelos considerados ideais. Somos iguais no direito de sermos,
inclusive, diferentes!
Ao reconhecermos as diferenças, possibilitamos ao educando participar de
maneira mais efetiva em seu contexto, e não apenas com a presença física em seu
ambiente educacional e social.
2.4 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN
Destaca-se, nesse último encontro com os professores, o quanto esse tema
tem estado em foco e tem sido discutido em diferentes teorias filosóficas e das mais
variadas maneiras. Acredita-se que ao abordarmos o tema processos de
aprendizagem da pessoa com síndrome de Down, devemos considerar também os
fatores biológicos, ambientais e psicológicos desse indivíduo. Há, não podemos
negar, uma significação negativa perpetuada muitas vezes pela condição irreversível
do quadro, conferindo maior destaque à patologia e focando-se nos déficits e lesões
ocasionados pela síndrome e é isso que é reproduzido na sociedade, criando-se,
dessa forma, o estereótipo “a criança com deficiência intelectual não aprende, é
limítrofe ou não alcançará avanços significativos no processo de aprendizagem”.
Quem de nós já não se debruçou para analisar e aplicar posições teóricas
como: independência entre desenvolvimento e aprendizagem - pela teoria
Piagetiana; aprendizagem igual a desenvolvimento – pela teoria behaviorista;
aprendizagem e desenvolvimento - processos diferentes, mas mutuamente
27
relacionados – com a teoria gestaltista. Buscamos avidamente por uma que faça a
diferença e nos renove os ânimos, pois o cotidiano da prática pedagógica, no âmbito
das escolas especiais, exige de cada um de nós direcionamento de nossa
intervenção determinando qual é a nossa prática educacional e como a mesma
contribui para os resultados esperados.
Para Palangana (1989), muitas são as teorias que se propõem a explicar
como se dá a aquisição do conhecimento, todavia poucas são as que se voltam para
a interação sujeito/objeto como elemento fundamental no processo de construção e
evolução do conhecimento e do próprio homem. Como se sabe, as indagações
acerca da natureza humana e da possibilidade de trocas sociais que esta oferece é
tão antiga quanto as obras dos grandes filósofos.
Segundo Anache (2005), a aprendizagem é um sistema complexo composto
por três subsistemas que interagem entre si: os resultados da aprendizagem (o que
se aprende), os processos de aprendizagem (como se aprende), e as condições
práticas (em que se aprende). O contexto educacional de qualquer indivíduo com
síndrome de Down ou não, deve ser um contexto que proporcione, além desses
questionamentos, riqueza de experimentações, jamais desintegrado de seu
momento histórico e de seu espaço sociogeográfico concreto. Esse contexto não
pode ser compreendido quando não vinculado historicamente, socialmente e
pautado na realidade.
“Ouço falar sobre relação entre defeito e mecanismo de compensação. O
que isso significa? Podemos aplicar essa teoria com nossos alunos?” (P15-AP)
Respondendo ao questionamento, ao analisarmos as contribuições de
Vygotsky (1984-1997), observamos haver relação entre o defeito e o mecanismo de
compensação e que a aprendizagem orienta e estimula processos internos de
desenvolvimento. Nenhum sujeito é resultado de simples reflexos estímulos-
resposta; as mediações estabelecidas por esse sujeito nas relações humanas
resultam em modificações no seu ambiente. É fundamental reconhecer o educando
enquanto indivíduo concreto, situado contextualmente e que sua bagagem, isto é,
sua situação pedagógica como resultado de sua vivência, da experiência que o meio
social lhe fornece, é fator preponderante e fundamental.
Segundo Rego (1995, p.56), atribuiu-se enorme importância ao papel da
interação social no desenvolvimento do ser humano. Vygotsky (1984), faz críticas
aos paradigmas "botânicos" e "zoológicos" adotados para explicar o
28
desenvolvimento infantil. Para ele, o termo "botânicos" é usado quando considera
que o desenvolvimento da criança depende do processo de maturação do
organismo, o que considera um fator secundário no desenvolvimento, pois o
desenvolvimento depende da interação da criança e de sua cultura. Considera, para
o termo "zoológicos", uma definição equivocada do desenvolvimento, pois busca
resposta no reino animal, fundamentando-se apenas no desenvolvimento enquanto
base biológica. Para Vygotsky (1984), consoante Rego (1995), considerar apenas a
estrutura fisiológica humana, o que o indivíduo traz de forma inata não é suficiente
para produzir o indivíduo humano. Todas as características humanas e individuais
como: modo de agir, de pensar, de sentir, seus valores éticos e morais,
conhecimentos, visão de mundo, dependem da interação do ser humano com seu
meio físico e social.
Para ilustrar, tomemos como exemplo o caso verídico das "meninas-lobas"
encontradas na Índia, as quais viviam em meio a uma manada de lobos e agiam,
comiam e se comportavam como animais.
“Então, para que o indivíduo se humanize é necessário que interaja com
outros seres humanos e conviva em um ambiente que lhe oportunize se apropriar da
sua cultura histórica?”(T5-AT).
Com certeza, pois o que é inato, o que é de ordem biológica, não é
suficiente para produzir o indivíduo que partilha, que se apropria de uma cultura,
reage, troca e se desenvolve humanamente.
É muito importante que fique bem claro que assim como as pessoas sem
nenhuma incapacidade intelectual, e as pessoas com síndrome de Down, não existe
um padrão de desenvolvimento que pode ser aplicado a todas elas, não só porque
geneticamente existem várias formas de se produzir a alteração cromossômica,
geradora da síndrome, como também há grupos com atrasos particulares e distintos
que recebem atendimento diferenciado por terem sido expostos a ambiente pouco
favorável a seu desenvolvimento. A deficiência, portanto, não estabelece uma forma
única de aprendizagem; deve-se levar em conta seu ambiente cultural.
Todas as crianças, independente de serem normais ou com atrasos
cognitivos, passam pelos mesmos processos de desenvolvimento, contudo não seria
ético criar falsas expectativas em relação ao seu desenvolvimento global, tampouco
fomentar expectativas pessimistas. Podemos, sim, afirmar seguramente que a
maioria dos estudos realizados no Brasil, e em outros países apontam ter a pessoa
29
com síndrome de Down seu processo de desenvolvimento cognitivo, motor, sócio-
emocional e da linguagem semelhantes ao das pessoas normais, porém para seu
progresso exige maior atenção e mediação. A capacidade intelectual é bastante
dinâmica, portanto melhoram conforme as condições ambientais oportunizadas
(SAAD, 2003).
“Como devo transformar a minha prática?” (P9-AP).
Transformar a prática pedagógica numa prática conjunta, com tendência a
observar mais, compreender e significar esse indivíduo, esse agente cultural que
constrói, reconhece, abstrai e conceitua sua realidade a partir das interações sociais,
ou seja, daquilo que lhe acresce nas trocas que medeia. Essa mediação é feita
também pela linguagem, a qual representa um importante objetivo a ser considerado
no processo de desenvolvimento. O papel da linguagem no desenvolvimento da
criança com deficiência está atrelado ao desenvolvimento mental e deve ser
considerado como um processo histórico diretamente ligado ao seu contexto
(ambiente) social e que direciona ao desenvolvimento das funções mentais
superiores. A linguagem atrelada à cultura e a internalização desses signos torna-se
instrumento de inserção social.
Não são as interações sociais também linguagem? Qual linguagem nossos
alunos estão trazendo para o contexto da sala de aula? Estejamos atentos não só
para o verbalizado pelos alunos no cotidiano da sala de aula, mas como isso se
efetiva, pois nesse momento um olhar mais atento pode captar o que emerge nessa
relação, nessa troca. Essa dinâmica dialógica favorece um espaço democrático,
onde o professor é mediador e não um mero transmissor de um saber pronto.
A linguagem é considerada uma das principais limitações da pessoa com
síndrome de Down. Constitui a dificuldade linguística, um obstáculo fundamental que
afeta não só seu desenvolvimento pessoal, mas também o social.
O educando reconhece e constrói sua realidade na relação com o outro,
portanto não podemos ignorar que essa relação social vem permeada pela
linguagem. Para Vygotsky (1984), é na escola que se dão as produções sociais de
signos e por meio da linguagem se delineia a possibilidade de ambientes
educacionais focado na apropriação de uma cultura na história humana.
Para Vygotsky (1989), a linguagem é o maior mediador. Quando se
relaciona pensamento e linguagem, para ele não há possibilidade de
desenvolvimento cognitivo distanciado da linguagem e também não há linguagem
30
sem a mediação realizada na interação. E não podemos deixar de expor que a
linguagem, por sua vez, é socialmente formada e culturalmente constituída e, assim,
sua significação acontece no meio social. A palavra só possui significado quando
contextualizada.
Segundo Padilha (2007, p.6), o funcionamento simbólico não tem sido
privilegiado nos programas das escolas ou instituições de educação especial. Ainda
referindo-me a autora, a mesma cita que para Marx (1996 apud PADILHA, 2007), as
relações acontecem na sociedade civil, que é o sistema de relações sociais; o
método do materialismo dialético de Vygotsky (1993), também tem como foco central
estudar o homem na sua relação concreta de vida, tendo as ações humanas
significância resultante na hominização.
Para oferecer uma educação à pessoa com síndrome de Down, que é um
ser histórico, cultural e simbólico tem que se considerar uma educação que faça
sentido, que possa dar sentido aos pensamentos, às ideias, às emoções, às
indagações, enfim, ao seu desenvolvimento cognitivo. Isso não deve estar
dissociado do simbólico, desse ser simbólico que precisa, através da mediação de
um profissional, significar e pensar esse mundo, dar sentido a ele por meio dessas
relações intersubjetivas.
Quando se oportuniza à pessoa com síndrome de Down participar da vida
cultural que a cerca, desenvolver seu comportamento simbólico, fazer abstrações,
interpretar o mundo simbolicamente é um meio de integrá-lo no contexto real, é uma
maneira de não limitarmos o individuo à sua deficiência, é permitirmo-nos olhar para
além da patologia.
“Quais mudanças devo fazer no meu planejamento? Devo alterar minha teoria
e metodologia? Afinal, como ocorrem esses processos simbólicos na pessoa com
síndrome de Down?” (P11-AP)
Para Wallon (1986), o progresso intelectual do ser humano acontece com o
desenvolvimento da função simbólica. Entre o desenvolvimento sensório-motor e o
plano simbólico, está o meio social, a vida em sociedade, um ambiente humanizado
no qual principalmente a linguagem desempenha papel formador e constituidor.
A teoria de Vygotsky permite estudar e analisar esse homem nas suas
relações concretas de vida através do método do materialismo dialético histórico. A
linguagem, segundo Vygotsky (1993), é uma ferramenta e a palavra é o signo
mediador das relações sociais.
31
Para instigar o grupo a refletir, faz-se o seguinte questionamento:
Quando pensamos o mundo a partir do olhar da pessoa com deficiência nos
perguntamos: Qual o sentido de mundo para esse indivíduo? O mundo tem um
sentido, e esse sentido é captado pelo simbólico, e esse simbólico é expresso e
manifestado pela linguagem.
Complementa-se essa observação enfatizando a importância da linguagem, e
que é por meio dela que interagimos, essa linguagem só surge na interação social.
As condições socioculturais muitas vezes precárias a que estão submetidos nossos
alunos, afetam seu desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, social e linguístico.
Segundo Changeux (1991 apud PADILHA, 2007, p.31), diz que um meio ambiente
'patológico' pode inscrever-se em neurônios e sinapses de um indivíduo normal.
Subsistem possibilidades de recuperação, mas perdem-se pouco a pouco. O que
não podemos aceitar é transformar cada dificuldade em patologia, reduzir o ser
humano ao estritamente biológico.
Segundo Padilha (2007, p. 32):
Estamos diante de uma polêmica questão: O que é da ordem do biológico e o que é da ordem do cultural? O que é do organismo e o que é da sociedade? O que é individual e o que é social? Se ainda não temos respostas teórico-metodológicas satisfatórias, temos histórias reais para contar.
Devemos compreender como se dá o desenvolvimento e não somente
reconhecer e classificar as deficiências, deixemos de lado o CID-10, documento da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para Classificação de Transtornos Mentais e
de Comportamento. Ela apenas enquadra e classifica a pessoa com deficiência
intelectual em uma categoria, pouco orientando o profissional que avalia e
desenvolve um trabalho com ele.
Deixemos as práticas classificatórias, sejamos mais críticos em relação à
reprodução mecânica dos conteúdos aplicados, provoquemos no nosso cotidiano
escolar reflexões em relação ao processo ensino-aprendizagem, transformemos as
práticas, renovemos nosso ânimo e nossas estratégias de ensino promovendo,
assim, mudanças substanciais frente às diferenças individuais.
32
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo, propôs-se análise e reflexão acerca da teoria sócio-
histórica, da atual política educacional e do papel do educador na formação de um
indivíduo que, com deficiência ou não, integra uma sociedade real. Procurou-se
levar em conta o sujeito histórico, capaz de atuar de maneira plena e efetiva em seu
meio, influenciando na transformação e consolidação de uma sociedade que
respeite a diversidade humana, em que nenhum ser humano seja excluído com base
na sua condição.
Esse momento de estudo, efetivado durante a implementação, possibilitou
desmobilizar uma aparente inércia, com o desafio de refletir a própria prática, sob a
luz da teoria sócio-histórica de Vygotsky. A interação entre os participantes, com
vistas a discutir a prática, foi bastante significativa, promoveu um ambiente
encorajador do conhecimento, fortalecedor do pensamento crítico, da argumentação
e do relacionamento educativo produtivo. A essa riqueza de experiência de olhares
podemos chamar de vozes em ação, pois fomentou a investigação, a autoanálise e
principalmente, a renovação dos ânimos nas estratégias e práticas, promovendo
possíveis mudanças frente às diferenças individuais.
A prática reflexiva, abordada durante a interação com os professores e
terapeutas, associada à análise de outra teoria, permitiu embasamento,
instrumentalização e fortalecimento de uma visão mais ampla e atenta aos princípios
filosóficos da inclusão.
A formação aliada à pesquisa e multiplicação do conhecimento, além de um
desafio, trouxe como princípio capacitação e formação, agiu como incentivador da
pesquisa, fundamentando a prática docente. Os diálogos que permearam esse
estudo confirmam a complexidade do contexto da educação especial na atualidade e
a importância dessa imersão do educador para reflexão-crítica, articulação entre
teoria e prática, seus saberes, suas dificuldades.
Durante a implementação, observou-se claramente com base na narrativa
de cada educador, que o método por ele utilizado passa por uma racionalidade
prática, isto é, resulta das experiências teóricas, práticas e pessoais vividas no seu
dia a dia escolar.
Este estudo possibilitou, além da análise e reflexão, a promoção de
momentos para que esse profissional, que caminha na direção de uma educação
33
inclusiva, se distanciasse do contexto da sala de aula para discutir e socializar sua
realidade cotidiana face à nova estrutura da Educação Especial. Essa valiosa ação
cooperativa entre universidade e escola oportunizou ressignificar a prática, construir
novos diálogos, conectar esse profissional a um novo momento, porquanto a cada
dia se exige mais desse profissional como: conhecimento, aprimoramento,
atualização, pesquisa, criticidade, compromisso com o saberes e valores.
Novas trajetórias se apresentaram nesse contexto, que com certeza
contribuíram não só para uma mudança epistemológica, mas também para um
repensar das responsabilidades do educador, que pode e deve atuar também como
agente transformador das mudanças políticas e sociais.
Foi visível e bastante gratificante a compreensão dos participantes à enorme
importância dada por Vygotsky ao papel da relação social no desenvolvimento do
ser humano. E que as características humanas e individuais como: modo de agir, de
pensar, de sentir, seus valores éticos e morais, conhecimentos, visão de mundo,
dependem da interação do ser humano com seu meio físico e social.
Mostrando que, assim como para pessoa com deficiência e para aquelas
sem nenhuma incapacidade intelectual, não existe um padrão de desenvolvimento
que pode ser aplicado a todas elas, pois na condição de indivíduos sociais temos de
levar em conta o ambiente cultural ao qual esse indivíduo esteve exposto; que pode
ser favorável ou não ao desenvolvimento de algumas competências. Somos fruto do
nosso meio, enfim, somos resultado de nossa interação humana.
A dificuldade maior, durante a implementação, foi sintetizar o conteúdo para
aplicá-lo no curto espaço de tempo, sem perder sua essência. Trata-se de uma
pesquisa teórica sobre a importância das relações sociais da pessoa com deficiência
intelectual, que envolve um estudo até então fundamentado em uma perspectiva
comportamentalista, isto é, quando a ação do sujeito depende de um estímulo vindo
de fora e resulta em uma resposta positiva ou negativa. Durante esse processo,
tornou-se possível aos profissionais absorverem o máximo da teoria sócio-histórica
que tem como foco de sua atenção as experiências concretas do indivíduo em seu
contexto real/social, com destaque à mediação das interações humanas.
A troca de experiências entre professores e terapeutas pode ser avaliada
como rica e produtiva, no concernente ao intercâmbio de informações e diálogos
entre os envolvidos.
34
Não há como mudar práticas de professores sem que os mesmos tenham
consciência de suas razões e benefícios, tanto para os alunos, a escola e o sistema
de ensino, quanto para seu próprio desenvolvimento profissional (PIETRO, 2006,
p.59).
Ao se dar voz ao indivíduo real, ao educador, ao educando, que socialmente
se constituem na relação com o outro, permite-se a apropriação do conhecimento e
o reencontro do ser humano com o sujeito histórico.
Nesse sentido, baseando-se nessas reflexões, conclui-se que a prática
pedagógica voltada ao sujeito social deve estar calcada no reconhecimento do
direito à educação, à potencialidade dos educandos historicamente marginalizados,
às novas práticas e olhares pedagógicos a fim de, de fato, consolidar-se uma
sociedade mais inclusiva, justa e democrática.
REFERÊNCIAS
ANACHE, Alexandra Ayach. Diagnóstico ou inquisição? Estudo sobre o uso do diagnóstico na escola. 122 f. 1997. Tese (Doutorado) - Instituto de psicologia. Universidade de São Paulo. 1997. ANACHE, Alexandra Ayach; MARTINEZ Albertina. O sujeito com deficiência mental: processos de aprendizagem na perspectiva histórico-cultural. In: MARTINEZ, Albertina M. Inclusão escolar: desafios para psicólogo. In.: MARTINEZ (org). Psicologia escolar e compromisso social: novos discursos, novas práticas. Campinas: Alínea, 2005. BAKHTIN, Mikhail. Écrits sur le freudisme. Paris: L‟Age D‟homme,1980. BRASIL. Conselho Nacional de Educação / Câmara de Ensino Básico. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 03 jul. 2001. ______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. ______.Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: SEESP, 1994.
35
______. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Parecer n. 17/2001. 2001b. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf >. Acesso: 26 abr. 2011. ______. Lei n. 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, 20 de dez. 1961. Disponível em: <http://planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4020.htm> Acesso em: 26 abr. 2011. ______. Lei n. 5.692/71, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, 20 dez.1961. Disponível em: <http://planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm>. Acesso em: 26 abr. 2011. ______. Lei n. 7.853/89, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, 24 out. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm>. Acesso em: 26 abr. 2011. ______. Declaração Universal dos Direitos Humanos - Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm> Acesso em: 02 mai. 2011. BUENO, J. G. S. Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1999. CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. Porto Alegre: Mediação, 2010. DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. URBANEK, Dinéia; ROSS, Paulo. Educação Inclusiva. Curitiba: Editora Fael, 2010. FERNÁNDEZ, Beatriz Prieto; RUIZ, Jesús Blanco. Autonomía para la vida. Revista de la Federación Española de Síndrome de Down, Granada-España, n. 44, p. 4, 2010.
36
FEUERSTEIN, Reuven. Mediated Learning Experience (MLF), theorical, psychosocial and learning implications.London: Freund Publishing House, 1994. FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000. ______. Pedagogia do oprimido. 32.ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 2002. FREITAS, Maria Teresa de Assunção. O pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1999. GLAT, Rosana. A Integração Social dos Portadores de Deficiência: uma Reflexão.Rio de Janeiro: Editora Sette Letras, 1998. GLAT, Rosana; PLETSCH, Márcia Denise. O papel da universidade frente às políticas públicas para educação inclusiva. Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v.3, p. 67-71, 1999. GÓES, Maria Cecília Rafael; LAPLANE, Adriana Lia Frezzman de(orgs.). Políticas e práticas da Educação Inclusivas. São Paulo: Autores Associados,2009. LARROSA, Jorge; LARA, Nuria Péres de. (orgs.) Imagens do Outro. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. LÖHR, Suzane Schmidlin. Programas de habilidades sociais para crianças com necessidades educacionais especiais. In: MENDES, Enicéia Gonçalves; ALMEIDA, Maria Amélia; Williams; Lucia Cavalcanti de Albuquerque. (Org.). Temas em educação especial: avanços recentes. São Carlos: EDUFSCAR, 2004. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Compreendendo a deficiência mental: novos caminhos educacionais. São Paulo: Editora Scipione, 1988. MARQUES, Carlos Alberto. Rompendo paradigmas: as contribuições de Vygotsky, Paulo Freire e Foucault. IN: JESUS, Denise Meyrelles de, BAPTISTA, Cláudio Roberto,BARRETO, Maria Aparecida Santos Côrrea; VICTOR, Sonia Lopes (orgs). Inclusão práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa. Porto Alegre: Mediação, 2007.
37
MARQUES, Luciana Pacheco. Em busca da compreensão da problemática da família do excepcional. Rio de Janeiro, 1992. 123f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, Rio de Janeiro, 1992. MARX, Karl Heinrich; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: (Feuerbach). São Paulo: HUCITEC, 1996. MARTINEZ, Albertina Mitjáns. Psicologia e compromisso social: desafios para formação do psicólogo. In: BOCK, Ana Merces Bahia (Org.). Psicologia e o compromisso social. São Paulo: Cortez, 2003. MARTINS, João Carlos. Vygotsky e o papel das interações sociais na sala de aula: reconhecer e desvendar o mundo. Série Idéias. FDE Páginas: 111-122, São Paulo, n. 28, p.111-122, 1997 MIRANDA, Arlete Aparecida Bertoldo. Educação Especial no Brasil: desenvolvimento histórico. Cadernos de História da Educação, Urbelândia, n.7, p 29-44, 2008. OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Saberes imaginários e representações na educação especial: a problemática ética da diferença e da exclusão social. Petrópolis: Vozes, 2004. ______. Leituras freireanas sobre educação. São Paulo: UNESP, 2003. PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas educativas: Perspectivas que se abrem para a educação especial. Revista Educação &Sociedade, Rio de Janeiro, n.71, p.197-219, 2000. ______. Práticas pedagógicas na educação especial: a capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4.ed. Campinas: Autores Associados, 2007. PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky: a relevância do social numa perspectiva interacionista. 1989. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, Rio de Janeiro, 1989.
38
PIETRO, Rosângela Gavioli; CACALANO, Elizabeth Neide Klaus; SERNAGIOTTO, Ligia Cecília Buso; VIZIM, Marli; Educação inclusiva: o desafio de ampliar o atendimento de alunos com qualidade e a formação docente. IN: III Seminário Internacional Sociedade Inclusiva, 2004, Belo Horizonte. Anais... III Seminário Internacional Sociedade Inclusiva - ações inclusivas de sucesso. Belo Horizonte: PUC Minas, 2006. Rego, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes,1995. RODINI, Elaine Sbroggio de Oliveira; SOUZA, Aguinaldo Robinson de. Síndrome de Down: características e etiologia. Disponível em:<http://www.cerebromente.org.br/n04/doenca/down/down.htm> Acesso em: 18 jul. 2011. SAAD, Suad Nader. Preparando o caminho da inclusão: dissolvendo mitos e preconceitos em relação à pessoa com síndrome de Down. São Paulo: Vetor, 2003. VYGOTSKY, Lev Seminovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. ______. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
______. Educação e Sociedade. Campinas: Cedes,2000.
______. Aprendizado e desenvolvimento: um desenvolvimento sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1993. ______. Fundamentos de Defectologia. Madrid: Visor, 1997. ______. Fundamentos de Defectología. Habana: Editorial Pueblo e Educacion, 1989. VYGOTSKY, Lev Seminovitch; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem.São Paulo: Ícone, 2006. VYGOTSKY, Lev Seminovitch; REGO, Teresa Cristina. Uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro, Vozes, 2004.










































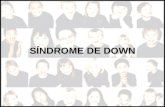

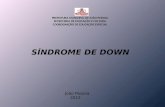

![[c7s] Síndrome de Down](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5590acec1a28abb22a8b470f/c7s-sindrome-de-down.jpg)