asil
-
Upload
eduardo-smynniuk -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of asil
-
n6 2011PAPERS
Por que os juros so altos no Brasil?
Gustavo FrancoAndr Lara ResendeSamuel Pessoa e Mrcio Nakane
-
O clpCentro de Liderana Pblica dedica-se ao preparo e desenvolvimento de lderes polticos que estejam comprometidos em promover mudanas transformadoras na sociedade brasileira e que busquem implementar polticas pblicas eficientes e inovadoras. O clp uma organizao sem fins lucrativos e apartidria.
ObjetivoTornar os lderes polticos brasileiros verdadeiros agentes de mudanas transformadoras.
MissoDesenvolver lderes transformadores, capazes de formular e implementar polticas pblicas inovadoras de modo eficaz, tico e responsvel.
VisoOs lderes transformadores desafiam crenas, costumes e atitudes arcaicas e mobilizam a sociedade em torno da implementao de polticas pblicas inovadoras.
O clp concentra suas atividades em cinco reas: Seminrios e workshops criados sob medida para governantes e lderes polticos selecionados rigosamente;
Debates para ampliar a discusso sobre temas polticos e polticas pblicas; Programas de estudos e de intercmbio com universidades e intituies orientadas para a liderana poltica;
Publicaes de pesquisas, estudos e trabalhos (papers); Desenvolvimento de ferramentas de liderana e gesto para o setor pblico.
O que o CLP
Luiz Felipe dAvilaDiretor-presidente
Beatriz PedreiraJoo ForbesDenise Zuanazzi Carlos Da CostaJos Emygdio Carvalho Neto
Colaboradores do CLP
-
Um dos objetivos do CLP fomentar o debate de ideias e propostas que possam inspirar os lderes polticos a pro-mover mudanas transformadoras e implementar polticas inovadoras. Convivemos com uma das taxas de juros mais elevadas do mundo; um sintoma de anomalia numa econo-mia aparentemente estvel e slida. Debater as medidas que devemos adotar para que possamos conviver com juros se-melhantes ao dos pases desenvolvidos, um tema central da atual conjuntura. Assim como a indexao parecia ser um mecanismo
imprescindvel na poca em que o pas convivia com a hi-perinflao, h uma crena de que a elevada taxa de juros tornou-se a ncora que garante a estabilidade macroecon-mica do perodo ps-Plano Real. Mas a histria revela que as naes s conseguem superar seus problemas estrutu-rais como foi o caso da hiperinflao e o caso da nossa elevada taxa de juros quando renem lideranas polticas transformadoras e solues tcnicas inovadoras. Esta com-binao virtuosa culminou com a criao e a implementao do Plano Real que derrotou a inflao e destruiu a indexa-o. Precisamos da mesma dose de viso, coragem e deter-minao para enfrentarmos as mudanas transformadoras que a reduo da taxa de juros exigir das nossas lideranas polticas.Mudanas transformadoras so aquelas que exigem mu-
danas de crenas, de atitudes e de costumes arcaicos. O verdadeiro desafio de liderana promover mudanas de comportamento e de cultura. Problemas recorrentes de-monstram o esgotamento das solues tcnicas. Revelam
Apresentao
-
que s sero solucionados se formos capazes de rever crenas, atitudes e comportamentos que nos impedem de resolve-los e super-los. A questo dos juros no Brasil en-quadra-se perfeitamente nesta categoria. No tarefa fcil ou trivial. Por isso, reunimos um
grupo seleto de economistas renomados para deba-ter o tema: Andr Lara Resende, Gustavo Franco, Lus Gonzaga Beluzzo, Samuel Pessoa e Yoshiaki Nakano. Compreender os sintomas que levaram o Brasil a ter taxas de juros mais elevadas do mundo vital para podermos fa-zer um diagnstico claro do problema e propor medidas que sejam politicamente viveis. Tais medidas contribui-ro para que as taxas de juros brasileiras possam convergir, a mdio prazo, com aquelas praticadas no mercado inter-nacional. Este o desafio que propomos aos palestrantes e aos participantes do seminrio Por que os Juros no Brasil so Altos?, realizado na Casa do Saber, em 2011.Infelizmente, os professores Nakano e Bellluzo no
puderam submeter o texto a tempo do fechamento da edi-o deste paper. Mas graas ao registro do seminrio em vdeo, possvel acessar o website do CLP (www.clp.org.br) e encontrar o depoimento de todos os participantes. Por fim, gostaria de registrar o nosso agradecimento
especial a Casa do Saber local onde o seminrio foi rea-lizado e ao nosso mantenedor Jair Ribeiro, por ter sido um exmio curador do evento.
Boa leitura!
-
SEMINRIO TAXA DE JUROS
Palestrantes
Andr Lara Resende: Scio-diretor da Lanx Capital Investimentos e scio-fundador do Instituto de Estudos em Poltica Econmica da Casa das Garas. membro do conselho de administrao da Gerdau e do conselho consultivo internacional do Ita-Unibanco. Foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, negociador chefe da Dvida Externa do Brasil e assessor da Presidncia da Repblica no governo Fernando Henrique Cardoso. bacharel em economia pela PUC-Rio e Ph.D em economia pelo MIT.
Gustavo H. B. Franco: Scio-fundador da Rio Bravo Investimentos. Membro do conselho de administrao do Banco Daycoval e da Globex Utilidades. Foi secretrio adjunto de Poltica Econmica do Ministrio da Fazenda. Diretor e depois presidente do Banco Central. formado em economia pela PUC-Rio e Ph.D pela Universidade de Harvard.
Luiz Gonzaga Belluzzo: Professor titular da Unicamp e Fecamp e consultor editorial da revista Carta Capital. Foi secretrio de poltica econmica do Ministrio da Fazenda em 1987, secretrio estadual de Cincia e Tecnologia de So Paulo e assessor econmico do PMDB. Formou-se em direito pela USP e tem doutorado em economia pela Unicamp.
Samuel Pessoa: Consultor da Tendncias Consultoria e pesquisador associado do Ibre-FGV. Foi professor de economia da Unicamp, USP e EPGE. formado em fsica pela USP e possui doutorado em econo-mia pela USP.
Yoshiaki Nakano: Diretor e professor da Escola de Economia da FGV. Foi secretrio de Poltica Econmica do Ministrio da Fazenda (Bresser) e secretrio da Fazenda do Estado de So Paulo. Formou-se pela FGV e tem doutorado pela Cornell University.
AgradecimentosJair Ribeiro e Casa do Saber, Gustavo Franco e Octavio de Barros
-
Por que os juros so altos no Brasil?
Andr Lara ResendeGustavo Franco
Samuel Pessoa e Mrcio Nakane
PAPERS
N 6 | Setembro de 2011
-
Copyright 2011 clp / Andr Lara Resende, Gustavo Franco, Samuel Pessoa e Mrcio NakaneCapa: Marcelo GirardDiagramao: IMG3
2011
Todos os direitos reservados aoclp Centro de Liderana PblicaAvenida Nove de Julho, 5094So Paulo SP Brasil 01406-200Tel. (11) 2364-9518e-mail: [email protected]
-
Sumrio
A taxa de juros no Brasil: equvoco ou jabuticaba? 11
Andr Lara Resende
Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade 21
Gustavo H. B. Franco
O processo de formao da taxa de juros no Brasil 59
Samuel Pessoa e Mrcio Nakane
-
A taxa de juros no Brasil: equvoco ou jabuticaba?
Andr Lara Resende
Os juros no Brasil continuam a causar perplexidade. Enquanto no mundo todo, desde a crise financeira de 2008, as taxas es-to excepcionalmente baixas, o Brasil uma exceo. A taxa de juros continua alta; no apenas alta, mas muito alta. Durante duas dcadas, entre o primeiro choque do pe-
trleo em 1973 e o Plano Real em 1994, a inflao brasileira desafiou polticos e intelectuais em busca de uma sada para um mal que corroia os salrios, concentrava a renda, distor-cia os preos, aumentava a incerteza e dificultava a avaliao dos investimentos. Independentemente da velocidade com que governos, ministrios e mtodos foram testados e subs-titudos, a inflao seguia seu curso, parecia alimentar-se das tentativas fracassadas de control-la e ameaava at mesmo a estabilidade institucional. A inflao brasileira do ltimo quarto do sculo 20 era dife-
rente da inflao encontrada nos pases desenvolvidos mesma poca. No era a mesma inflao, apenas mais alta, como a to-talidade dos analistas externos e a grande maioria dos analistas no Brasil supunham. Tinha um elemento novo, uma especifici-dade prpria, que lhe dava um carter essencialmente distinto1. A inflao no Brasil tinha se tornado uma doena crnica.
1 Lara Resende, A. (1988) Da Inflao Crnica Hiperinflao: Observaes Sobre o Quadro Atual, Departamento de Economia - PUC/RJ.
-
12 Andr Lara Resende
Aps anos de convvio com a inflao, formas de conviver com a alta generalizada de preos foram desenvolvidas e at mesmo inteligentemente institucionalizadas nas reformas modernizadoras de 1965. Os mecanismos de indexao de salrios, preos e contratos tinham se generalizado. A in-dexao permite conviver com uma inflao moderada sem desorganizar completamente o sistema de preos relativos, mas em contrapartida, por ser retroativa, projeta a inflao passada na inflao futura. Introduz uma rigidez no pro-cesso inflacionrio que o torna muito mais resitente aos es-foros para control-lo. Uma vez atingido um determinado patamar, ainda que na ausncia de novas presses, a taxa de inflao perpetua-se, atravs do que se convencionou cha-mar de inrcia inflacionria. A indexao permite melhor conviver com a inflao,
mas introduz um forte componente inercial que a torna re-sistente aos mtodos tradicionais para combat-la. Um lon-go perodo de altas taxas de inflao, numa economia onde h indexao generalizada, muda a natureza do processo inflacionrio e lhe d caractersticas e complexidades espe-cficas, diferentes das inflaes moderadas encontradas nas economias desenvolvidas da segunda metade do sculo 20.Numa poca em que o mundo era menos interligado do
que hoje, em que o desconhecimento do que se passava nas economias perifricas era grande, no se podia contar com o auxlio dos centros acadmicos desenvolvidos para se de-bruarem sobre uma especificidade subdesenvolvida. Ao contrrio, toda tentativa de argumentar que o processo in-flaciorio brasileiro requeria anlise diversa e polticas espe-cficas era recebida, no mnimo, com ceticismo e, na maior parte das vezes com ironia. Obrigados a pensar por conta prpria, houve no Brasil um intenso debate sobre a natureza
-
13A taxa de juros no brasil: equvoco ou jabuticaba?
da inflao que, depois de muita tentativa e erro, levou-nos, com o Plano Real. A URV, uma moeda indexada virtual, foi soluo sofisticada e original para o problema da inrcia da inflao crnica.A alta taxa de juros no Brasil de hoje nos remete ques-
to do processo inflacionrio crnico do sculo passado. Estamos diante de uma nova especificidade brasileira, uma jabuticaba, ou trata-se meramente de um oneroso equvoco? Em 2004, Edmar Bacha, Prsio Arida e eu argumentamos
que poderia haver uma especificidade na alta taxa de juros brasileira2. Descartamos como uma mera curiosidade terica, a hiptese de que a poltica monetria pudesse estar excessiva-mente apertada, presa num mau equilbrio. Um equilbrio perverso, onde a taxa excessivamente alta leva a uma despesa excessiva com juros, que aumenta o risco percebido dos ttu-los publicos, que por sua vez exige taxas mais altas. A possibilidade de que a prpria poltica de juros altos
provoque a necessidade de juros altos, embora tenha grande apelo ideolgico esquerda, foi originalmente formulada por Olivier Blanchard, macroeconomista de credenciais inques-tinveis, atualmente economista chefe do FMI3. Como a car-ga fiscal no Brasil j estava entre as mais altas do mundo e poca havia um expressivo supervit primrio, procuramos encontrar uma possvel razo alm de um ajuste fiscal insu-ficiente e de uma dvida pblica muito alta, para que a taxa de juros fosse to excepcionalmente alta. No nos parecia vivel exigir um novo aperto fiscal pelo lado da tributao e
2 Arida, P., Bacha, E., and Lara Resende, A., (2004) High Interest Rates in Brazil: Conjecturs on the Jurisdictional Uncertainty in: Inflation Targeting and Debt: the Case of Brazil, MIT Press 2005.3 Blanchard, O. (2003) Fiscal dominance and inflation targeting: lessons from Brazil in Inflation Targeting and Debt: The Brazilian Case, MIT Press 2005.
-
14 Andr Lara Resende
as dificuldades de reformas e de reduo dos gastos pblicos so conhecidas. Haveria um fator especfico na economia brasileira, uma jabuticaba, que pudesse explicar a anomalia dos juros? Introduzimos a especificidade brasileira como uma con-
jectura terica: a possiblidade de que houvesse uma in-certeza jurisdicional. A incerteza da jurisdio brasileira provocaria, por parte dos agentes detentores de poupana, uma resistncia insupervel ao alongamento dos prazos das aplies financeiras. A evidncia do risco juridicional era o fato de que os mesmos credores, que resistiam a alongar os prazos em reais, estavam dispostos a faz-lo nos ttulos financeiros denominados em outras moedas, contratados em outras jurisdies. A incerteza jurisdicional seria de-corrente de um vis anticredor generalizado, encontrado principalmente, mas no apenas, no executivo, que sistema-ticamente subestimou a correo monetria, aplicou reduto-res nos contratos financeiros pblicos e privados, taxou de forma descriminatria as aplicaes financeiras e chegou ao extremo de congelar e expropriar a poupana financeira e monetria privada com o Plano Collor. Gato escaldado tem medo de gua fria o brasileiro, depois de tanto ser maltra-tado e expoliado, teria desenvolvido uma resistncia a pou-par a longo prazo, sobretudo em moeda nacional. Embora tenhamos deixado claro que a incerteza jurisdi-
cional era essencialmente uma percepo, associada a um vis anticredor histrico de difcil mensurao, algumas ten-tativas de encontrar evidncia da sua presena, em amostras com diferentes pases, foram feitas, mas sem sucesso.4
4 Gonalves, F; Holland, M. and Spacov, A. (2006) "Can jurisdictional uncertainty and capital controls explain the high level of real interest rates in Brazil? Evidence from panel data" Revista Brasileira de Economia vol 61 no 1 Rio de Janeiro, jan/mar 2007
-
15A taxa de juros no brasil: equvoco ou jabuticaba?
Hoje, com significativos avanos, tanto em relao con-versibilidade do real, como em relao extenso dos prazos de financiamentos domsticos denominados em reais, a taxa de juros no Brasil continua extraordinariamente alta. A in-certeza jurisdicional pode ter contribudo para que a taxa de juros fosse excepcionalmente alta logo aps a estabilizao da inflao, mas nos ltimos anos, a incerteza diminuiu, o mercado interno de crdito de longo prazo evoluiu e a taxa de juros continua muito alta. Fica evidente que algo mais est por trs das altas taxas de juros no Brasil.H os que atribuem a culpa exclusivamene poltica
monetria do Banco Central, que teria sido e continuaria excessiva e equivocadamente restritiva. Segundo estes, os juros altos tm explicao simples: so resultado do equvo-co do Banco Central. Um equvoco que resistiu s mudan-as de governo e da composio de sua diretoria, mas apenas um longo e insistente equvoco. O argumento de que se trataria apenas de um equvoco
pode variar entre uma verso mais tosca, onde a poltica exa-geradamente dura do Banco Central quase que pura per-versidade, at os mais sofisticados, que so variantes da tese da dominncia fiscal de Blanchard. A mais razovel a tese de que o Banco Central, sem in-
dependncia formal e cuja diretoria no tem mandato, est sujeito a presses polticas. Para ganhar credibilidade preci sou ser mais realista do que o rei. Manteve as taxas sistema-ticamente acima do necessrio para conter a inflao dentro das metas. Para que esta tese se sustente, dado que a inflao nunca
esteve abaixo da meta, preciso introduzir a hiptese do duplo equilbrio. Existiria uma taxa de juros, mais baixa do que a efetivamente praticada pelo Banco Central, que teria
-
16 Andr Lara Resende
igualmente sido capaz de manter a inflao dentro das me-tas. O equilbrio dos ltimos anos, desde do Real, seria um equilbrio perverso, onde alta taxa de juros eleva o custo da dvida pblica, agrava o desequilbrio fiscal, que por sua vez eleva o risco dos ttulos pblicos e a taxa de juros de equil-brio. Tudo mais constante, teria sido possvel manter a in-flao dentro das metas com uma taxa de juros mais baixa e menor risco percebido da dvida pblica.Assim formulada, a tese do duplo equilbrio uma possi-
bilidade terica, mas no h nem certeza da existncia prti-ca de um segundo equilbrio com taxas de juros mais baixas, nem garantia de que, na hiptese de efetivamente existir um melhor equilbrio, dado que estamos no mau equilbrio, fosse possvel atingi-lo atravs da mera reduo, brusca ou gradual, da taxa de juros. Em termos tcnicos, o entorno do equlbrio perverso pode ser instvel e no garantir a conver-gncia para o melhor equilbrio. Do ponto de vista prtico, a existncia de um equilbrio superior irrelevante, dado que o risco fiscal percebido efetivamente alto e no se pode correr o risco de baixar os juros e perder controle da inflao.Parece-me, entretanto, que a hiptese da dominncia fiscal
e do duplo equilbrio de Blanchard foi descartada como uma curiosidade terica, sem que a devida ateno tivesse sido dada nica recomendao prtica que dela se pode extrair. A hiptese de Blanchard inverte a premissa clssica de
que existe um trade-off entre a taxa de juros real e o dficit fiscal. Este trade-off pode ser deduzido da equao de equi-lbrio no mercado de bens, onde juros mais altos reduzem a demanda privada e abrem espao para maior gasto do go-verno, sem presso inflacionria. Inverter a relao negativa entre juros e demanda agregada tem sido uma tentao re-corrente ao longo dos tempos. No difcil compreender
-
17A taxa de juros no brasil: equvoco ou jabuticaba?
por qu. Invertida a relao entre a taxa de juros e a deman-da agregada, torna-se possvel compatibilizar uma poltica fiscal e monetria demaggica com a teoria e a racionalidade. A hiptese de Blanchard, onde esta inverso ocorre pela
percepo de risco da dvida pblica, quando tanto a dvida como a taxa de juros so muito altas, embora sofisticada e conceitualmente possvel, efetivamente apenas uma con-jectura terica. Dela no se pode extrair a recomendao de que o Banco Central deveria baixar o juros, pois nada garan-te que um novo e melhor equilbrio seria encontrado. Ainda que a hiptese de Blanchard fosse demonstrada
verdadeira, a nica concluso possvel de ser extrada de que para baixar a taxa de juros, com garantia de que a infla-o se manter dentro das metas, preciso reduzir o risco percebido da dvida pblica. Para isto, o nico caminho di-reto e seguro aumentar o supervit fiscal e reduzir a dvi-da pblica. Cabe aqui um paralelo entre a questo da taxa de ju-
ros hoje e a questo da inflao crnica do sculo passado. Uma identidade bsica das contas nacionais nos mostra que o dficit pblico deve ser igual soma da poupana priva-da e do dficit em conta corrente do balano de pagamentos. Ou seja, o dficit pblico necessariamente financiado pela poupana privada domstica e pelo financiamento do dfi-cit da conta corrente, que pode ser chamado de poupana externa. Uma questo fundamental a ser superada por pa-ses pobres a insuficincia de poupana. A insuficincia de poupana decorre tanto da premncia das necessidades b-sicas de consumo, quanto da falta de instituies e hbitos indutivos da poupana. Na ausncia de poupana voluntria institucionalmente canalizada para o financimanto do in-vestimento, tanto pblico quanto privado, a inflao pode
-
18 Andr Lara Resende
servir como uma forma de criar poupana forada. A infla-o transfere recursos dos trabalhadores para o governo e as empresas. Se o governo gasta e investe mais do que arrecada, mas no h poupana privada suficiente para financiar o seu dficit, a inflao a forma de transferir poupana forada para o setor pblico, atravs da reduo da renda e do con-sumo privado. A incompatiblidade, a priori, entre o dficit pblico e a poupana privada resolve-se, a posteriori, atra-vs da inflao. Sem inflao, mas mantida a incompatibilidade entre o
dficit pblico e a poupana voluntria a taxas de juros razoveis preciso recorrer a taxas de juros extraordina-riamente altas para inibir o consumo privado e estimular a poupana. Na raiz das altas taxas de juros do Brasil de hoje est a mesma incompatibilidade entre a poupana volunt-ria e o desejo de investimento e consumo, pblico princi-palmente, que alimentou o processo inflacionrio crnico do sculo passado. Apesar dos inegveis avanos, ainda no conseguimos superar integralmente a restrio de poupana interna necessria para financiar nossas ambiciosas metas de investimentos e de gastos pblicos. Pode-se sempre recorrer chamada poupana externa. A
poupana externa equivalente ao dficit em conta corrente que o resto do mundo est disposto a nos financiar. O exces-so de importaes sobre as exportaes de bens e servios consumo interno financiado pela poupana do exterior. O recurso poupana externa pode efetivamente aliviar a restrio da poupana interna, mas precisa ser utilizado com cautela, ao menos para os pases que no so emisso-res de moedas-reserva. Financiar o excesso de gastos sobre a renda atravs de dficits em conta corrente significa sujei-tar-se s mudanas de humores, quase sempre bruscas, dos
-
19A taxa de juros no brasil: equvoco ou jabuticaba?
investidores internacionais5. Pode ser uma forma legtima de aliviar a restrio domstica de poupana e acelerar o cresci-mento, se o dficit em conta corrente estiver sendo utilizado para financiar o investimento e no como ocorre com fre-quncia o consumo. De toda forma, para que a poupana externa reduza a
presso sobre as finanas pblicas preciso que a moe-da nacional possa flutuar livremente. preciso aceitar, nos perodos em que o financiamento externo abundante, uma valorizao expressiva da moeda, com todas suas im-plicaes favorveis e desfavorveis. Da mesma maneira, preciso aceitar os impactos inflacionrios e contracionistas decorrentes da reduo, ou at mesmo do desaparecimento temporrio, do financiamento externo. Se o Banco Central intervm para evitar a valorizao percebida como excessiva da moeda, a necessidade de esterilizar os recursos emitidos para a compra de reservas internacionais restabelece a pres-so sobre a necessidade de financiamento do setor pblico. A existncia de financiamento externo s alivia a restrio de poupana interna para o financiamento pblico se a moeda puder flutuar livremente e no houver interveno esterili-zada para evitar a sua valorizao.6
poca da formulao do Real, insisti que era um equ-voco pensar que o fim da inflao pudesse depender ape-nas de um plano de curto prazo. A inflao sempre um sintoma. Sintoma de problemas que podem ser muito dife-rentes, mas que exigem um longo e consistente processo de superao. No me parece exagero afirmar que a alta taxa de
5 Ver Lara Resende, A. (2009) Em plena crise: uma tentativa de recomposio analtica Estudos Avanados 65 U SP6 Ver Fraga, A. e Lara Resende, A. (1985) Dficit, dvida e ajustamento: uma nota sobre o caso brasileiro Revista Brasileira de Economia
-
20 Andr Lara Resende
juros brasileira de hoje ainda decorrente da estabilizao inacabada. H uma agenda de reformas modernizadoras que foi abandonada e esquecida. Mais do que isso, houve reverso do projeto de tornar o estado menos ineficiente e a economia mais competitiva. A poupana privada pode ser estimulada atravs do desenvolvimento institucional e da educao, mas os resultados no so imediatos. A curto pra-zo s h um remdio: reduzir a despesa pblica para com-patibiliz-la com a taxa de poupana privada disponvel, ou seja, reduzir o dficit pblico.Tenho conscincia de quo anticlimtico concluir que
para baixar a taxa de juros preciso reduzir a despesa e a d-vida pblica. Logo aps o fracasso do Plano Cruzado, com a inflao explodindo para nveis at ento nunca vistos, Prsio Arida e eu, j fora do governo, mas ainda com res-tos da aura de milagreiros, fomos convocados ao Palcio da Alvorada para uma reunio com o presidente da Repblica. Ao terminarmos nossa exposio sobre a necessidade im-periosa de reduzir o dficit pblico, como condio para qualquer tentativa de controlar a inflao, o presidente Jos Sarney desabafou: Para controlar a inflao atravs da re-duo dos gastos pblicos eu no preciso de economistas brilhantes. Infelizmente, com ou sem economistas brilhantes, para
reduzir a taxa de juros e manter a inflao sobre controle, a poupana voluntria deve ser capaz de financiar o investi-mento, pblico e privado, almejado. Para isso preciso que as despesas correntes, especialmente os gastos correntes do setor pblico, sejam mantidas em nveis compatveis com a taxa de poupana nacional. Em economia ao menos, no h milagres nem jabuticabas.
13 de junho de 2011
-
Por que juros to altos, e o caminho para anormalidade1
Gustavo H. B. Franco
Por que temos a maior taxa de juros do mundo? A resposta que a teoria econmica convencional tende a oferecer para esta pergunta nos leva s contas pblicas, ou mais generica-mente ao crdito pblico, ao histrico de desempenho das obrigaes relativas dvida pblica ou mesmo ao tamanho do setor pblico. Mas ainda que se saiba que o problema est nesta regio, no h nada simples nem prontamente dispon-vel como explicao para o nosso problema, especialmente em vista de nossa duradoura, infeliz e singular experincia hiperinflacionria2 e de endividamento, sobretudo domsti-co, e seus incidentes. So inmeras as possibilidades quan-do se consideram as sequelas institucionais da hiperinflao e de sucessivos eventos de default no mbito de reformas monetrias, congelamentos de preo e mesmo fora do con- 1 Preparado para o seminrio A taxa de juros no Brasil promovido pelo CLP Centro de Liderana Pblica, e pela Casa do Saber em 13 de junho de 2011. Sobretudo na seo 2, o ensaio usa extensamente material desenvolvido originalmente em Franco (2006), porm com as devidas atualizaes. Com as resties de praaxe o autor agradece genericamente aos participantes do debate, e especialmente a Edmar Bacha e a Otavio de Barros, por comentrios e sugestes.2 Arida et al. (2005), Gonalves et al. (2007) e Bacha et al. (2007), exploraram a influncia de fraquezas institucionais do ambiente do crdito, embora com resultados empricos no muito robustos. Os impactos na nova lei de falncias tambm estariam a apontar para a mesma direo. Ver tambm Bacha (2010).
-
22 Gustavo H. B. Franco
texto de planos econmicos. A nfase deste ensaio reside em um velho conceito, o crowding out, um desses temas canni-cos em macroeconomia, normalmente ensinado nos cursos introdutrios disciplina s vezes como uma curiosidade talvez extinta, como a armadilha da liquidez (depois re-descoberta em associao s crises bancrias, como a do Japo nos anos 1990 e a de 2008 e ao chamado quantitative easing) e que parece simples demais para explicar um pro-blema to complexo e que nos persegue h tantos anos. A definio de Olivier Blanchard (2000, p. 728) para cro-wding out, conforme verbete de sua autoria para o dicion-rio Palgrave, amplia bastante o escopo do problema, talvez mesmo em demasia: todas as coisas que podem dar errado quando polticas fiscais financiadas por endividamento so usadas para afetar o PIB. No caso mais simples, e abstrain-do a situao de pleno emprego, o crowding out consiste no fato de parte dos efeitos multiplicadores de uma expan-so fiscal (sobretudo partes relevantes demanda do setor privado) ser consumida pelos efeitos contracionistas decor-rentes do financiamento da dvida, de modo que tanto mais sensvel for a demanda por moeda ao juro nominal e deve ser bastante num pas com traumas inflacionrios , mais amorte-cido ser o efeito de uma expanso fiscal sobre a demanda agregada. Como diz Blanchard: mesmo nas melhores cir-cunstncias vai sempre haver um crowding out parcial de algum componente de demanda privada (p. 730). Mas, e nas piores circunstncias? Ou seja, e nos pases onde o gas-to pblico cronicamente excessivo, onde h uma longa tradio de ativismo keynesiano, clientelismo poltico, des-controle e mesmo irresponsabilidade? E onde h, alm dis-so, dificuldades em se financiar a dvida pblica, merc de um histrico ruim, possivelmente cabendo na sndrome que
-
23Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
Reinhart & Rogoff (2009) definiram como debt intolerance? No parece claro que as condies brasileiras so particular-mente propcias para o fenmeno do crowding out?Uma definio abrasileirada para crowding out, e que
pode ter o condo de tornar o fenmeno mais familiar, po-deria ser algo como um conflito distributivo entre setor pblico e setor privado, onde este no consegue vencer a competio pela poupana nacional, ou pela parcela que gostaria de ocupar da demanda agregada. Essa linguagem foi muito usada no passado para se buscar uma associao de inspirao marxista, ou ao menos kaleckiana, entre luta de classes e inflao, disso resultando um certo fatalismo quan-to inflao, que seria um fato da vida, uma inevitabilida-de prpria ao capitalismo perifrico, e jamais uma criatura de um governo irresponsvel vivendo alm de seus prprios meios. A ideia de que o drama fiscal brasileiro era o elemen-to causador da hiperinflao, por bvia que possa parecer a posteriori, somente se transformou num diagnstico oficial e em medidas objetivas de ajuste que formaram a base de uma poltica de estabilizao, em 1994, com o Plano Real. Naquela altura havia imensa dificuldade em se estabelecer
que a hiperinflao era causada pelo problema fiscal: por que o Brasil teve uma inflao superior a 1.000% ao ano em 1992, se o dficit do setor pblico no foi to grande assim (de 1,7% do PIB, no conceito operacional?), pergunta-va retoricamente Bacha (1988, p. 5). De fato, eram muitos3 a argumentar que no havia problema fiscal, ou seja, era como se tivssemos uma febre sem infeco. O fato que a aparente inexistncia de indicadores a revelar o tamanho e
3 E. Bacha no estava entre eles, conforme documenta seu O fisco e a inflao (1994).
-
24 Gustavo H. B. Franco
a natureza do desequilbrio fiscal era e continua sendo, em si, um paradoxo e um desafio, ou, alternativamente, uma forma elaborada e coletiva de autoengano. Por no se en-xergar a bactria nos exames conhecidos, acreditava-se que havia algo errado no com o organismo, mas com a febre. Formularam-se, assim, teorias sobre o carter inercial da inflao, que pareciam consistentes com um efeito sem causa, eis que a inflao era apenas uma criatura autorre-gressiva, vale dizer um fenmeno que se alimentava de si mesmo, o passado sempre se reproduzindo de forma am-pliada para o presente, sem que houvesse mais a necessida-de de um impulso primordial, qualquer que fosse, para iniciar e manter elevada a inflao. Em vez de se tomar a correo monetria como equivalente ao dos anticor-pos que defendiam o organismo econmico da invaso de bactrias, a indexao era confundida com a infeco, e assim os planos de estabilizao heterodoxos atacaram o sis-tema imunolgico (a indexao) e no a infeco (o desequi-lbrio fiscal), obviamente fracassando.A correta identificao do tamanho do problema fiscal era
muito prejudicada pela endogenia, ou pela dupla causalida-de entre as finanas pblicas e a inflao. Esta tinha efeito sobre aquelas, prejudicando a visibilidade do nexo conven-cional de causao do descontrole fiscal para a inflao, em pelo menos trs reas: (i) a subindexao das dotaes or-amentrias, que eram fortemente erodidas pela acelerao da inflao; (ii) o chamado efeito Tanzi, ou o impacto da inflao sobre o valor real da arrecadao de impostos; e (iii) a dinmica de arrecadao do imposto inflacionrio, ou seja, a receita auferida pelo governo decorrente da pintura de papis coloridos e seu uso por valor superior ao custo de produo. Quando se considera o equilbrio da economia
-
25Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
numa situao de inflao muito elevada, onde o dficit p-blico j foi bastante diminudo pela inflao4, e trazido a um nvel onde era financiado pelo imposto inflacionrio, no se tinha noo do que se chamou de dficit potencial, ou o desequilbrio nas contas pblicas que haveria caso a infla-o fosse baixa.5 Nesse contexto, a inflao servia para re-primir o desequilbrio fiscal original, aquele que apareceria quando a inflao era nula, e disso se segue que sempre ha-veria um nvel de inflao suficientemente alto para eliminar o dficit, ou, ao menos, traz-lo para um valor consistente com as receitas do chamado imposto inflacionrio. Este era um dos insights bsicos a inspirar as polticas fiscais im-plementadas por ocasio do Plano Real, pois a j tnhamos uma explicao para o fato sabidamente paradoxal de as es-tatsticas mostrarem um desequilbrio fiscal relativamente modesto. Com efeito, o que era observado nas estatsticas era o resultado do contingenciamento, e dos efeitos da pr-pria inflao sobre dotaes oramentrias no indexadas e sobre os impostos. As estatsticas mostravam, na verdade, os fatos acabados, o campo de batalha depois que as aes tiveram lugar, e no a batalha em si; era o retrato da dificul-dade em se ilustrar a relao convencional entre inflao e dficit pblico. Pois bem, anos depois, uma vez vencida a hiperinflao
e tendo ficado para trs o mecanismo pelo qual a inflao
4 A experincia demonstra amplamente que indexao do sistema tributrio era muito mais avanada do que aquela que incidia sobre a execuo do oramento pblico, de modo que a inflao afetava muito mais fortemente o valor real das dotaes oramentrias que o valor real da arrecadao de tributos. Assim, ceteris paribus, a inflao fazia cair o valor real do dficit pblico.5 Cf. Bacha, E. (1994 e 1988), Franco, G. (1995, caps. 8-10 e 2005), utilizando o trabalho de Guardia (1992).
-
26 Gustavo H. B. Franco
reduzia o dficit fiscal, cabe perguntar o que restou afinal do dficit potencial, ou do impulso original e causador da hiperinflao? Tivemos realmente sucesso em melhorar ra-dicalmente os fundamentos fiscais da economia? Se o su-cesso foi apenas parcial, o que restou do problema original? Ter se transformado em endividamento, e agora permanece oculto pelo suposto automatismo na rolagem da dvida?H pelo menos trs hipteses a explorar com o intuito de
se responder esta pergunta: (i) o desequilbrio fiscal original foi efetivamente reduzido, sobretudo pela via do aumento da carga tributria; (ii) a importncia do contingenciamento (a no execuo discricionria de despesas autorizadas) foi consideravelmente aumentada; e (iii) o desequilbrio rema-nescente financiado por dvida pblica, para a rolagem da qual, nos nveis elevados onde se encontra, e considerando a disposio do pblico em carregar ttulos pblicos, a taxa de juros precisa permanecer extremamente elevada, como caracterstico das situaes de crowding out.A carga tributria, com efeito, experimentou um aumen-
to muito significativo: como percentagem do PIB fomos de cerca de 25% em mdia para 1991-93 para algo prximo dos 40% em nossos dias. No obstante, o gasto primrio do governo federal continuou aumentando durante todos es-ses anos, e o governo federal perdeu as receitas do impos-to inflacionrio6. mais difcil documentar o crescimento de importncia do contingenciamento como instrumento bsico de controle da despesa pblica, mas no creio que
6 Houve um ganho substancial de receita de senhoriagem decorrente da estabilizao e do processo de remonetizao da economia, ou do aumento da demanda por moeda decorrente da queda na inflao. Porm, o efeito ficaria restrito aos primeiros anos da estabilizao.
-
27Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
os especialistas no assunto hesitem em admitir que este o mecanismo que ocupa papel central na conduo da poltica fiscal brasileira. E como no temos como aferir o tamanho ou a intensidade do contingenciamento uma atualizao do trabalho pioneiro de Guardia (1992) seria especialmente bem vinda neste momento no se sabe ao certo o tamanho do deficit potencial, ou do desequilbrio que haveria na au-sncia de represso fiscal7.A hiptese deste trabalho a de que ainda vivemos um
grande desequilbrio fiscal, que precisamos entender num sentido amplo, compreendendo a dvida pblica, para cuja acomodao, ou rolagem contnua tal qual fosse constitu-da apenas de pertetuidades, contribui a taxa de juros eleva-da, de modo semelhante ao que, no passado, fazia a prpria inflao. Antes tributvamos o pobre, o ausente nas compo-sies polticas, os sem-voz, os no alcanados pela correo monetria. Agora penhoramos o nosso futuro, ou tributa-mos as futuras geraes, atravs do endividamento, e com isso elevamos o preo do amanh, os termos de troca entre o presente e o futuro, a fim de se sustentar um gasto pblico maior do que os contribuintes de hoje estariam dispostos a bancar. Se vlida a chamada equivalncia ricardiana se-gundo a qual a dvida de hoje so os impostos do futuro, es-tamos assistindo uma tentativa de os contribuintes de hoje
7 Guardia (1992) mostrou que, nos exerccios de 1990-92, a taxa mdia de execuo de gastos orados flutuou entre 50% e 57%, o que trazia duas importantes concluses: (i) considerando que no havia contingenciamento para salrios, benefcios e juros, pois essas despesas no comportavam atrasos, a taxa de contingenciamento para o restante do gasto corrente era extraordinria, talvez superior a 80%; e (ii) o gasto pblico desejado, como base no qual se poderia pensar no dficit potencial, a julgar pelo que est no OGU (Oramento Geral da Unio) era da ordem do dobro do efetivamente executado.
-
28 Gustavo H. B. Franco
transferirem para os de futuras geraes o nus de um n-vel de consumo do governo superior ao que seria possvel sustentar com os impostos de hoje. O centro do problema fiscal nos dias de hoje parece, portanto, relacionado dvida pblica e particularmente aos custos inerentes manuteno de um mercado cativo para a dvida pblica domstica, que a sustenta em um nvel bem maior do que os residentes no Brasil gostariam de carregar a juros em nveis internacionais. Esta a tese central a ser desenvolvida neste ensaio.Para tanto, o problema da mtrica adequada para o dficit
das contas pblicas continua muito vivo, em especial no que concerne relao entre o dficit e a dvida pblica; na seo 1, procura-se em primeiro lugar estabelecer o papel da pol-tica monetria na determinao da taxa de juros em associa-o com o mecanismo conhecido como regra de Taylor, e em seguida, retomar a discusso sobre o tamanho do pro-blema fiscal brasileiro, considerando em detalhe a questo das necessidades de financiamento do governo vista de for-ma ampla e em perspectiva comparativa. Na seo 2, trata-mos mais diretamente, porm apenas em grandes linhas, os elementos essenciais das mudanas que podem ser contem-pladas em algumas frentes da ao onde existem obstculos para a queda significativa da taxa de juros.
-
29Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
I. O crowding out ou as causas fundamentais para os juros altos
I.1. Poltica monetria e jurosAntes de voltar as atenes para a natureza e forma do
problema fiscal brasileiro, valem algumas observaes pre-liminares sobre o papel da poltica monetria na formao da taxa de juros brasileira. No so poucos a atribuir os ju-ros altos brasileiros ortodoxia do Banco Central e ao sistema de metas de inflao em particular. Nesse contexto, o argumento segundo o qual no seria necessria uma taxa de juros to escandalosamente grande para combater uma inflao to pequena merece um comentrio tcnico. Esta crtica em muito se assemelha que se fazia no passado s polticas de estabilizao convencionais no combate a in-flaes elevadas, pois estas trabalhavam com movimentos ao longo da curva de Phillips, o que seria inexequvel e excessivamente custoso para a sociedade. O argumento era o de que o combate s inflaes elevadas tinha que envol-ver necessariamente algum deslocamento do trade-off via polticas de rendas, choques expectacionais, congelamen-tos, desindexaes ou quaisquer eventos que coordenas-sem expectativas ou subtrassem a inrcia do sistema. De forma anloga, no Brasil de nossos dias, trata-se de pensar em um deslocamento da curva conhecida como regra de Taylor, que relaciona a taxa de juros ao hiato do pro-duto e diferena entre a inflao corrente e a meta, e no de um movimento ao longo da curva. Na formulao ori-ginal do prprio John Taylor a regra de determinao da taxa de juros contm um termo que tem a caracterstica de uma constante nas equaes que a estimam e que representa a taxa de juros de equilbrio de longo prazo, o que quer
-
30 Gustavo H. B. Franco
que isso signifique. Embora essa varivel possa passar desa-percebida como constante em pases desenvolvidos, isso pa-rece bem menos adequado para o Brasil, em primeiro lugar em vista de estimativas economtricas que chegam a valores entre 7,7% e 10% para esta taxa de juros neutra ou taxa de juros real de longo prazo8, nmeros que em hiptese alguma deveriam ser considerados normais. E em segundo lugar porque o efetivo comportamento da taxa de juros re-vela uma clara tendncia de queda dessa constante, a des-peito das oscilaes determinadas pela operao do sistema de metas, sugerindo a existncia de outros fatores, ou de um outro teatro de operaes onde vem sendo trabalhado o problema da taxa de juros real de longo prazo. Desde quando o pas migrou, cinco anos depois da estabi-
lizao, para a trade virtuosa supervit primrio, metas de inflao e cmbio flutuante parece se estabelecer a opi-nio que chegamos uma situao de normalidade refle-tindo talvez uma certa fadiga com relao s reformas e s mudanas ocorridas durante os primeiros cinco anos de vida da nova moeda. O apelo normalidade era importante para afastar esquisitices e ideias heterodoxas, sobretudo depois de 2002, mas aceitar essa nova normalidade como uma es-pcie de fim da Histria era admitir que nada havia de pa-tolgico em juros reais enormes para taxas bsicas de juros para emprstimos de um dia lastreados no ativo sem risco, para no falar das taxas de juros praticadas pelos bancos, que embutiam spreads ainda mais impressionantes. Na mesma linha, ao se trabalhar com o supervit prim-
rio como nica varivel fiscal relevante para a conduo da
8 Soares & Hollanda (2006) encontram valores entre 8% e 10% e Soares & Minella (2011, p. 212) encontram o valor de 7,7% para a taxa de juros real de equilbrio.
-
31Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
poltica macroeconmica do pas, ocultava-se quaisquer outras consideraes fiscais, sobretudo aquelas ligadas dvida p-blica, talvez com isso atirando fora o beb com a gua do banho, pois era razovel pensar que estivesse nos assun-tos relativos dvida pblica a causa para os juros altos no Brasil. Infelizmente, portanto, prevaleceu, especialmen-te depois de 2002, a sensao de que o pas no tinha mais problemas fiscais srios, que os juros no estavam em nveis absurdamente altos para qualquer padro internacional (e portanto podamos praticar metas de inflao como qual-quer pequeno pais europeu), e que no havia mais agendas regulatrias ou inovaes a cogitar no terreno cambial. No deve haver dvida que a ideia que a trade virtuosa esgo-tava o que havia para se fazer no terreno macroeconmico resultou em paralisar qualquer reflexo reformista que ti-vesse a taxa de juros como objeto, notadamente durante o governo Lula, face ao isolamento em que permaneceu a Autoridade Monetria. Havia considervel e justificvel hesitao nos crculos profissionais especializados em re-conhecer que a taxa de juros elevada era, em si, um proble-ma srio, pois havia o perigo de que esse diagnstico soasse como uma crtica genrica ao Banco Central e, em particu-lar, ao regime de metas de inflao, criando desse modo um alinhamento indesejado com os crticos das polticas de cor-te convencional. Isso tudo no obstante, claro que diversos assuntos per-
maneceram inacabados. No terreno fiscal em particular, faz mais sentido imaginar que a infeco original, a que causou a hiperinflao, foi reduzida, mas no eliminada, e que os mesmos micrbios ainda existem, seguramente menores, mas provavelmente de uma espcie mutante, mais resisten-te, cujos sintomas no se manifestam mais na hiperinflao
-
32 Gustavo H. B. Franco
aberta, e sim nos juros excessivamente elevados. O organis-mo estava modificado, mais saudvel, mas ainda sujeito a uma patologia que sustenta uma sintomatologia incmoda: os maiores juros do mundo. Parece claro que houve certa indulgncia com esse problema, possivelmente em razo da crena de que, na vigncia da estabilidade de preos a ano-malia se esgotaria sozinha e gradualmente no decorrer do tempo. No era uma hiptese despropositada, pois a noo de que havia problemas fiscais mantinha um fluxo constan-te de aes fiscais na direo correta. Embora tenha havido significativa reduo dos juros reais depois de 1999, em de-corrncia de uma filosofia fiscal de conteno, o problema no foi eliminado, permanece muito srio e est a merecer um tratamento direto, especialmente depois da crise de 2008 que pareceu modificar para pior a poltica fiscal.Por ltimo, resta observar que as mesmas razes que ex-
plicam o fato de os juros bsicos serem os maiores do mun-do tambm servem para se explicar os juros praticados pelos bancos, ou o elevado spread bancrio praticado no Brasil. Vale mencionar este assunto no contexto da poltica mone-tria face recente proeminncia que vieram ter as chamadas medidas macroprudenciais. Argumenta-se que os juros bsicos so altos em razo de um processo de crowding out em cujo centro est uma combinao especialmente perver-sa de dficits e dvidas do governo. Nem sempre se observa que, em vista da ampla e prolongada exposio do organis-mo econmico ao racionamento da poupana disponvel em benefcio do financiamento do governo, desenvolveram-se diversos mecanismos de natureza regulatria (como os das exigibilidades, direcionamentos e sistemas de pou-pana compulsria) cuja natureza essencialmente fiscal e apenas reforam o processo de crowding out. Os depsitos
-
33Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
compulsrios, anormalmente altos no Brasil, direciona-mentos de crdito tipicamente brasileiros e mecanismos de poupana compulsria tambm muito caracteristica-mente nossos, como no caso dos recursos que fluem para o Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), via o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e refluem seletivamente para a economia com juros subsi-diados, no podem deixar de ser compreendidos como ins-trumentos de financiamento do governo (isto , de polticas pblicas de interesse do governo) ou de disputa de recursos com o setor privado em um contexto de dominncia fiscal. Mais recentemente, os requisitos de capital fixados no con-texto dos Acordos de Basilia se somaram a essas imposi-es sobre os bancos, que erroneamente eram justificadas como medidas de poltica monetria, vindo a compor um novo e mais respeitvel conjunto: as medidas macropru-denciais. O insight surgido depois da crise de 2008, segun-do o qual as exigibilidades de capital deveriam se mover de acordo com o ciclo econmico criou um interesse inter-nacional em medidas regulatrias que tivessem natureza (contra) cclica e com isso velhos dispositivos antigamente pertencentes categoria das medidas de represso financei-ra passaram a fazer parte de um outro clube, de frequn-cia bastante mais nobre, e com isso nossos compulsrios e direcionamentos contam agora com uma cortina de fumaa protetora de que no dispunham no passado. Por isso mes-mo o episdio recente de ampliao de medidas macropru-denciais, de que resultou o aumento nos spreads praticados, deve ser visto com cautela.
-
34 Gustavo H. B. Franco
I.2. Mtricas para o problema fiscal brasileiroA discusso sobre os mtodos de aferio da situao fis-
cal brasileira conheceu vrias fases, em muito relacionadas com as agendas de momentos histricos especficos. Por diversas razes o supervit primrio se tornou o indicador bsico da poltica fiscal, sobretudo depois de 1999, e o fato que, mais uma vez, as condies mudaram, e existe certa confuso conceitual sobre se temos realmente ou no um problema fiscal, as autoridades alegam que o Brasil est en-tre os pases de melhor situao fiscal entre os do G-20, mas muita coisa fica fora do j popularizado conceito de a eco-nomia que o governo faz para pagar juros, sem falar em ar-tifcios para excluir investimentos feitos com triangulaes envolvendo o BNDES dentre outras miudezas. Vale lembrar as razes pelas quais as variveis ligadas dvida pblica - amortizaes e juros - foram excludas da conta e de muita considerao. As amortizaes foram relegadas ao debai-xo da linha, como se no fossem despesas, por razes f-ceis de entender e pertinentes hiperinflao. Suponha, por exemplo, que a dvida interna fosse equivalente a 20% do PIB e toda ela tivesse prazo de um dia (ou fosse rolada inte-gralmente no overnight a cada dia til). Situao no muito distante da que vigorava na poca da hiperinflao. Nessas curiosas circunstncias, as despesas com amortizaes a cada ano teriam como ordem de grandeza 220 (nmero de dias teis) vezes 20% do PIB, ou seja, algo como 44 vezes o PIB a cada ano. O absurdo desses nmeros resultou em que a chamada rolagem da dvida pblica passou a fazer parte das contas de financiamento no abaixo da linha em vez de pertencer despesa corrente, ou simplesmente mere-cer considerao explcita atravs da divulgao regular das necessidades de financiamento do setor pblico, no conceito
-
35Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
bruto (NFSPB), como tecnicamente designado o conceito mais amplo de dficit pblico. O fato que, diante de uma situao excepcional, comeamos a tratar a dvida pblica domstica como se fosse inteiramente composta de perpe-tuities, ainda que, na prtica, fosse exatamente o contrrio.Pois bem, feito este primeiro ajuste na contabilidade p-
blica, ou nos instrumentos de diagnstico do problema fis-cal, os dficits pblicos calculados para o perodo 1985-94, no conceito mais amplo conhecido como dficit nomi-nal ficariam na faixa de 40% do PIB9, um nmero que talvez fizesse sentido se algum estivesse propenso a buscar os sinais habituais de existncia de inflao elevada. Numa primeira observao, estaria assim estabelecida a causalidade entre desequilbrio fiscal e hiperinflao. Porm, sobreveio um poderoso argumento contrrio ao uso desse raciocnio: como a maior parte da despesa com o pagamento de juros era meramente correo monetria, de tal sorte que era uma despesa provocada pela inflao, e tanto maior quan-to maior a inflao, no se podia tomar como causa o que, por definio, era consequncia. Alastrou-se, ento, o pon-to de vista segundo o qual essas despesas tambm deveriam ser deduzidas do clculo do verdadeiro problema fiscal. O nmero resultante dessa deduo ficou conhecido como dficit operacional, que ainda incluiria a parte real da despesa com juros, cuja eliminao era o ltimo passo para se chegar ao dficit primrio, que com todas essas altera-es j se transformava em supervit primrio. Em tempo, em 1885-89 o supervit primrio foi de 0,48%
do PIB e em 1990-94 de 3,85%. Como era possvel que os
9 Precisamente 42,02% do PIB para 1985-89 e 38,78% para 1990-94, segundo dados do Banco Central do Brasil
-
36 Gustavo H. B. Franco
nmeros fiscal da hiperinflao se parecessem com os de hoje? Parece claro, portanto, que nos ajustes metodolgi-cos acima descritos alguma coisa foi perdida, provavelmente relacionada com a dvida pblica, sem a qual o assunto das causas dos juros altos ficava sem explicao, para no falar da prpria hiperinflao. No que segue, vamos procurar fa-zer o caminho de volta nesses ajustes com o intuito de ver onde isto nos leva, e a dinmica da dvida, um assunto que ficou fora de moda um bom tempo, estaria a merecer uma nova visita.Desde quando abandonamos o conceito de NFSPB, e
exilamos as amortizaes da dvida pblica domstica para o debaixo da linha, a dinmica da dvida domstica de-sapareceu das cogitaes das autoridades. Nmeros que pareceriam assustadores para a NFSPB deixaram de ser di-vulgados, e firmou-se a ideia que a rolagem da dvida interna podia ser taken for granted (dvida no se paga, se rola), a despeito de o assunto ter sido sempre um ponto de tenso com observadores estrangeiros. Por que era to fcil e au-tomtico rolar a dvida interna? Por que os credores sempre aceitavam a rolagem a despeito do pssimo track record do governo federal no tocante sua dvida interna? No deveria haver mais resistncia dos credores em emprestar para este mau devedor? Ou algo como a sndrome de debt intoleran-ce descrita por Reinhart & Rogoff (2009)? A pergunta era e continua sendo pertinente pois o mesmo automatismo de-finitivamente no valia para a dvida externa, para a qual se observava um rito de vencimentos e novas emisses bastan-te convencional, e bastante dificuldade em se estabelecer a presena brasileira em mercados internacionais. claro que havia algo de singular com a dvida interna, que funciona-va como uma quase-moeda indexada destinada a evitar a
-
37Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
emigrao da riqueza financeira da economia, e que encon-trava uma espcie de mercado cativo que a absorvia sem maiores problemas, e sem que houvesse qualquer cogitao sobre o custo de manuteno desse sistema. preciso, portanto, retroagir a conceitos amplos de d-
ficit pblico e refletir sobre sua funcionalidade assim como observar os paradigmas internacionais e a comparabilidade dos dados brasileiros com os de outros pases. O Grfico 1 abaixo mostra os nmeros para NFSPB para um amplo con-junto de pases emergentes para 2007 e projees para 2011 do staff do FMI.
Grfico 1Necessidades de financiamento do setor pblico, no conceito bruto, para diversos pases emergentes, 2007 e projees para 2011 (% do PIB)
Fonte: IMF (2011, p. 32)
Average 2011
Pakistan
Brazil
Philipines
Hun
gary
Polan
d
Rom
ania
India
Turkey
Lithua
nia
Latvia
Mexico
Thailand
Malaysia
Ukran
ia
Sou
th Africa
Colom
bia
Argen
tina
China
Russia
Bulga
ria
Indon
esia
Peru
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Average 2007
2007
2011
Chile
-
38 Gustavo H. B. Franco
O Grfico 1 mostra que em 2007 o Brasil exibia o pior nmero para todo o conjunto, algo em torno de 25% do PIB e em 2011 a projeo que o nmero fique abaixo de 20% do PIB, o segundo pior dentre os pases da amostra, apenas atrs do Paquisto. Os nmeros so ponderveis mas nada surpreendentes, para pases com a dvida bruta na faixa de 70% do PIB10 com prazo mdio na casa dos 3 ou 4 anos, como o nosso caso nos dias de hoje, faz todo sen-tido pensar que rolagens da ordem de 20% do PIB ocor-ram a cada ano. O nmero impressionante, pois em tese, a colocao ou rolagem em mercado de dvida pblica da ordem de 20% do PIB a cada ano no tarefa trivial. Para pases emergentes com mercados de capitais geralmente limitados, rolagens dessa grandeza devem envolver finan-ciamento externo, programas com o FMI ou arranjos insti-tucionais e regulatrios singulares, como o caso da dvida interna brasileira.A Tabela 1 adiante estende as possibilidades de compa-
rao ao observar os valores para a NFSPB e dficits no-minais para um conjunto de pases desenvolvidos, na qual sobressai uma observao muito reveladora: as NFSPB para o Brasil esto na mesma faixa dos valores para Grcia, Itlia, Blgica, Portugal, Espanha e Irlanda. O fato de Japo, Estados Unidos, Frana e Inglaterra tambm exibi-rem nmeros semelhantes, e mesmo espetaculares como o caso do Japo, poderia oferecer alguma alento ao ensejar perguntas sobre a normalidade nesse contexto. Mas, na ver-dade, tem-se a um fenmeno j bastante conhecido, a capa-cidade dos mercados de capitais nacionais e internacionais de absorver altos nveis de dficits e dvidas de pases com
10 Cf. Pellegrini (2011, p. 11).
-
39Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
classificao de risco superior, track record perfeito em ma-tria de cumprimento de obrigaes e emissores de moedas internacionais de reserva (ou detentores do que se tem sido chamado de privilgio exorbitante), bastante diferente daquela que se observa para pases emergentes11. Os nveis mdios de endividamento de pases avanados deve ficar em torno de 100% do PIB nos prximos anos enquanto que os pases emergentes mantero uma mdia mais prxima Tabela 1Necessidades de financiamento do setor pblico, no conceito bruto, para diversos pases desenvolvidos, 2010 e 2011, projees em % do PIB
Fonte: IMF (2011, p. 30)
11 Ver, por exemplo, Reinhart & Rogoff (2009, pp. 27-30) e Eichengreen (2010).
JapanUnited StatesGreeceItalyBelgiumPortugalFranceSpainIrelandCanadaUnited KingdomFinlandGermanySwedenAustralia
Weighted Average
Maturing Debt
2010 2011
Budget Deficit
Total Finance Need
Maturing Debt
Budget Deficit
Total Finance Need
43.415.413.620.317.811.614.314.86.513.15.39.18.54.11.5
17.2
9.510.69.64.54.67.37.09.232.25.510.42.83.30.24.6
8.7
52.926.023.224.822.418.921.324.019.018.615.711.911.84.46.1
25.8
45.818.016.618.518.516.014.613.18.713.97.110.09.15.52.0
18.9
10.010.87.44.33.95.65.86.210.84.68.61.22.3-0.12.5
8.1
55.828.824.822.822.421.620.419.319.518.515.711.211.45.44.5
27.0
-
40 Gustavo H. B. Franco
de 30% do que de 40% do PIB. Antes da crise, os nmeros eram da ordem de 70% para os pases avanados e de 40% para pases emergentes12. Portanto, os nmeros elevados para esses pases no tm
nenhum significado, nem oferecem nenhum libi para o Brasil. J os outros pases desenvolvidos do peloto interme-dirio e com nmeros semelhantes ao Brasil, esto passan-do dificuldades srias principalmente decorrentes da rolagem de suas dvidas. O valor mdio para as NFSPB para o grupo conhecido como PIIGS (Portugal, Itlia, Irlanda,Grcia e Espanha), para 2011, de acordo com a Tabela 1, e ponderada pelos respectivos PIBs (para 2010) de 21,5%, levemente su-perior ao nmero brasileiro, 19,3%. A comparao com os PIIGS pode ser levada mais adian-
te: os dficits nominais e os nveis de endividamento para o grupo so certamente maiores do que se tem no Brasil, e no verdade que todo o problema dos PIIGS deriva da crise bancria, como a situao das finanas gregas deixa abun-dantemente claro. Mas o Brasil se destaca pela magnitude da taxa de juros, que faz com que as despesas com juros sejam da ordem de 6% do PIB ou mais, em contraste com o que se observa mesmo nos PIIGS. Outra particularidade brasi-leira a absoluta segregao entre dvida externa e interna: na verdade, a dvida externa do setor pblico negativa e da ordem de 10% do PIB na posio de abril de 2011, de modo que o problema da dvida foi totalmente nacionalizado. Em resumo, os indicadores do Grfico 1 fornecem uma
mtrica de nossa situao fiscal, imperfeita e enviesada como de resto todas so, e cujo principal defeito, ou virtude, dependendo da nfase de quem o utiliza, captar a baixa
12 IMF (2011, p. 19).
-
41Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
qualidade ou o prazo excessivamente curto da dvida, pois esse critrio amplifica consideravelmente o nmero para o d-ficit, algo como 19% do PIB. Esses nmeros so radicalmente diferentes dos que so habitualmente utilizados pelas autori-dades. claro que o peso das amortizaes no desconheci-do, e que compreensvel que as autoridades trabalhem com critrios que no ressaltem excessivamente as fraquezas de nossa economia. Com efeito, h dcadas que as autoridades brasileiras se dedicam a tranquilizar os investidores interna-cionais e analistas novatos quanto aos riscos de rolagem da dvida pblica interna no overnight que frequentemente leva esses analistas a imaginar que estamos na iminncia de colap-so. O problema acreditar em verses que servem s relaes pblicas do pas, pois assim servem tambm ao auto engano13. difcil imaginar que o governo brasileiro venha a ado-
tar como oficiais esses ou quaisquer outros critrios cont-beis que de fato reconheam a existncia de um gravssimo problema fiscal. Em geral, os governos preferem verses adocicadas dos problemas que realmente tm e relutam em reconhec-los em sua verdadeira dimenso. Sem esse reco-nhecimento, porm, prevalece a noo de que no h nada a fazer nesse terreno, perdendo-se a capacidade de estabelecer uma urgncia poltica. E mais, o governo se torna refm dos membros da coalizo governista continuamente apresentan-do demandas no sentido do crescimento do gasto pblico que o governo federal tem pouca autoridade para negar uma vez que alardeia uma situao fiscal confortvel.
13 Recentemente, numa apresentao diante do CDES (o Conselho), o ministro da Fazenda apresentou um slide cujo ttulo era Brasil um dos pases do G-20 com maior solidez fiscal, afirmao que vinha sobre um mapa mundi com os nmeros de diversos pases, e para o Brasil via-se uma rara apario do dficit nominal 1,9% do PIB porm sem as amortizaes.
-
42 Gustavo H. B. Franco
II. O redesenho do overnight, fundos e crdito direcionado
Ao falar em a taxa de juros e, em particular, em taxa b-sica, no devemos perder de vista que abordamos os ter-mos de troca entre o presente e o futuro, de tal modo que se trata, no mnimo, de um ponto em uma curva ou de um ele-mento de um complexo de taxas. Embora a taxa Selic, a nos-sa taxa bsica de juros, seja de importncia central para a chamada estrutura a termo das taxas de juros e tambm para o custo do crdito e do capital de forma mais genrica, e a intermediada pelo spread bancrio, no se pode falar de uma relao simples ou linear que ligue todos esses conceitos. Com efeito, em condies normais, o modo como a taxa b-sica afeta a estrutura a termo um dos temas mais importan-tes do quesito canais de transmisso da poltica monetria. No Brasil, todavia, h pouca clareza sobre a estrutura a
termo da taxa de juros, pois ocorre um curioso fenmeno por meio do qual as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), ttulos indexados pela taxa Selic, produzem o crowding out dos demais tipos de ttulos do Tesouro, exceo dos pr-fixados curtos, que no se distinguem delas com muita cla-reza. A concentrao da dvida pblica em LFTs, as prticas do Banco Central referentes mecnica de suas operaes de mercado aberto e o pouco interesse, ou dificuldade, do Tesouro em construir curvas longas em vrios indexadores tm resultado em dificultar o acesso ao mercado de capitais para os instrumentos de dvida privada de maior durao. Nada mais caracterstico do crowding out. No deve haver dvida de que as LFTs estabelecem uma competio desle-al para os interessados em oferecer instrumentos privados mais longos, uma vez que estes so forados a pagar prmios
-
43Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
significativos sobre taxas j extremamente elevadas para em-prstimos lastreados em ttulos pblicos o ativo sem risco do sistema para prazos de um dia. Se o Tesouro toma em-prestado a taxas reais elevadas por um dia, como a empresa privada pode se alavancar para prazos consistentes com pro-jetos de expanso da capacidade produtiva a custos razo-veis? Sem dvida, trata-se a de uma variedade extra-forte de crowding out, dificilmente encontrada em outros lugares, e da qual se pode escapar apenas mediante o enquadramento nos cnones seletivos do BNDES.De fato, o prolongamento dessa situao durante anos a fio
teve como consequncia a moldagem de instituies e merca-dos de diversas maneiras singulares. Um dos aspectos mais fascinantes e difceis deste estado de coisas tem a ver com os riscos de intermediao entre os desejos do Tesouro e do p-blico poupador. A instabilidade macroeconmica, os planos econmicos e a experincia de tratamento descasado de ati-vos e passivos no contexto do Sistema Financeiro de Habitao (SFH) criaram muitas tenses nos bancos intermedirios e distribuidores das LFTs e/ou outros ttulos com garantia de financiamento no overnight. Tendo em vista a convenincia sistmica de retirar esses riscos dos balanos dos bancos, flo-resceu uma pujante indstria de fundos mtuos apartados dessas instituies, mas ao mesmo tempo preponderante-mente patrocinados por elas, com os objetivos de carregar a dvida pblica, fragmentar a tarefa em fundos individuais, tal qual depsitos vista remunerados, pois tm liquidez di-ria na cota, e retirar o risco de crdito ou de preo do inter-medirio (banco ou gestor), entregando-o integralmente aos cotistas de tais fundos. O patrimnio desses fundos alcan-ou pouco mais de R$ 1,6 trilho, cerca de 44% do PIB, dos quais parcela preponderante investida em ttulos pblicos.
-
44 Gustavo H. B. Franco
claro, portanto, que se criou uma dependncia mtua entre o Tesouro e a indstria de fundos e que exatamente nesse sentido que se diz que h no Brasil um mercado cativo para ttulos pblicos, sobretudo os que alimentam a inds-tria de fundos. O pblico, mal acostumado, exige liquidez diria, o regulador assim o sanciona, invocando inclusive a proteo ao investidor, os fundos so obrigados a car-regar ativos de curtssimo prazo, LFTs ou operaes com-promissadas remuneradas pelo overnight, pois o seu passivo tem a durao de um dia, e o Tesouro e o Banco Central no tm dificuldade de rolar a dvida pblica. Todos so atendi-dos, mas como esse estado de coisas atrofia-se o mercado de capitais, a soluo que passa ao largo de modificaes no status quo o envio para o exterior ou para o BNDES das demandas por emprstimos de longo prazo. A ideia de um mercado cativo para os ttulos pblicos a exata imagem do crowding out tal como praticado no BrasilEmbora as distores e aspectos patolgicos desse estado
de coisas no sejam difceis de vislumbrar, o modo pelo qual se pode migrar para uma outra situao mais normal mui-to menos claro. A eliminao das LFTs, ou o alongamento voluntrio das dvidas federais, a julgar pelas experincias anteriores, e especialmente se a inteno de se reduzir as taxas de juros, traz o problema nada simples de o Tesouro oferecer indstria de fundos ttulos com liquidez diria, ou mais precisamente, para os quais se possa fazer a marcao diria sem maiores distores decorrentes da pouca negocia-o. Quando isso ocorreu no perodo 1996-1997, os papis pr-fixados que substituram as LFTs, mais do que nunca tiveram que contar com o put implcito do Banco Central, ou seja, funcionavam, em alguma medida, como operaes compromissadas com uma espcie de garantia de que seriam
-
45Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
remuneradas pelo overnight caso tivessem de ser interrom-pidas. O compromisso no era formal e talvez pudesse se en-fraquecer com o tempo e, assim, abrir caminho para o efeito riqueza na poltica monetria, especialmente se o Banco Central (hoje a CVM) restringisse a liquidez diria nos fun-dos mtuos e trabalhasse mais agressivamente com a tribu-tao, penalizando o curto prazo e beneficiando o longo. As frentes para reflexo so as seguintes:
i) A mecnica do overnightTrata-se da eliminao da cultura de bailing out pela re-
forma dos procedimentos de zeragem, possivelmente por meio do tratamento diferenciado das posies under-sold (escassez de liquidez) e oversold (excesso de liquidez) no mercado de reservas bancrias, como feito no perodo 1995-1997 por intermdio da Taxa Bsica do Banco Central (TBC) e da Taxa de Assistncia do Banco Central (TBAN), que so taxas diferenciadas para o Banco Central empres-tar e tomar emprestado com lastro em ttulos do Tesouro. O objetivo dessa ao duplo: de um lado, remunerar bem mais modestamente o excesso de liquidez no overnight e, de outro, introduzir alguma volatilidade, ou endogenia, na taxa Selic, que perderia, em boa medida, o status de meta ou taxa tabelada. claro que, nessas condies, os juros mais curtos seriam menores em mdia, ainda que mais volteis, tornando-se grandemente influenciados pelo calendrio de pagamentos e recebimentos da conta nica do Tesouro, das movimentaes dos depsitos compulsrios e das compras e vendas de moeda estrangeira. Na ausncia de LFTs, cres-ceriam naturalmente de importncia as operaes compro-missadas e os pr-fixados para prazos especficos em que a autoridade monetria buscaria estabelecer metas de taxas e
-
46 Gustavo H. B. Franco
prazos idealmente superiores a noventa dias, e dessa maneira fixar a taxa bsica para longe do overnight. Vislumbra-se aqui uma espcie de rotao (twist) da estrutura de taxas, da qual resultaria uma reduo do atrativo do overnight e, evi-dentemente, de toda a estrutura que se ergue a partir deste.14 Na verdade, deve-se considerar que o desmonte ou a retira-da do overnight da posio central em que se encontra hoje, como ncora da estrutura a termo da taxas de juros, inde-xador, benchmark e ponto focal do mundo financeiro, teria para o mercado de capitais um papel anlogo ao que a desin-dexao teve para o processo de estabilizao. A indexao permitia a convivncia com a doena e parecia inofensiva e positiva quando vista de um ponto de vista individual, mas tinha uma externalidade negativa, pois servia para repro-duzir a inflao impedindo-nos de alcanar a cura. exata-mente isso o que se passa com o overnight, de um lado, e com o processo que relaciona as finanas e a dvida pblica com o mercado de capitais, do outro. A externalidade ne-gativa produzida pelo overnight o crowding out, isto , a especializao do mercado monetrio e de capitais no finan-ciamento (rolagem) da dvida pblica, abandonada qualquer outra considerao. Em outros pases, os bancos centrais tambm zeram o mercado de reservas bancrias, algo que pode dar a impresso de que se faz aqui algo normal e que no deve ser mudado15. Na verdade, o nosso passado que confere singularidade a arranjos que podem parecer conven-cionais, mas que, em razo de nossa herana, funcionam de forma a preservar distores que precisam ser eliminadas, exatamente como o ocorrido com a indexao.
14 Essas possibilidades foram discutidas em Franco (2004) e Ferreira e outros (2004).15 Conforme se deduz do survey de Azevedo (2005).
-
47Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
ii) A poltica de dvida pblicaA mudana de funcionamento no overnight sugerida aci-
ma teria como consequncia a maior volatilidade no over-night, o que levaria a uma mudana no interesse por LFTs. Talvez mesmo um aumento, pois seria um modo de se tra-balhar com o overnight mdio de certo perodo. Na situao vigente, as LFTs funcionam como riskless asset, pois exa-tamente em relao taxa do overnight que se faz a marca-o a mercado diria, de modo que, por construo, as LFTs sempre esto cotadas em seu valor de face. A exceo que se mostrou reveladora foi o ocorrido em meados de 2002, quando as LFTs longas comearam a revelar desgio, em de-corrncia de risco de crdito e eleies muito polarizadas16. Se, todavia, o overnight se torna relativamente voltil e per-cebido, em mdia, como menor que a taxa praticada, diga-mos, para a operao compromissada e/ou o pr-fixado de noventa dias, a atratividade desse ttulo pr-fixado em rela-o s LFTs se eleva. Relaes de arbitragem tendero a se estabelecer entre o overnight e os prazos focais da poltica monetria, mas tero certa volatilidade em razo de fato-res caractersticos do mercado monetrio (movimentaes da conta nica, de compulsrios ou de divisas). O sistema no poder suaviz-las totalmente, pois no capaz de criar reservas, e a autoridade monetria ter um desafio in-teressante em abster-se, at certo ponto, de usar operaes compromissadas curtas como faz hoje. Nesse contexto, o pr-fixado tende a se tornar o benchmark, pois passa a ocu-par a posio de riskless asset at ento ocupada pelas LFTs. Assim, imagina-se ser possvel substituir LFTs por pr-fixados, escapando da armadilha enfrentada pelo Banco Central em outras ocasies, qual seja, a obrigatoriedade de pagar prmios para o mercado migrar das LFTs para ttulos
-
48 Gustavo H. B. Franco
pr-fixados. A transio pode ser muito mais barata na for-ma aqui delineada. Entende-se, ademais, que a extenso dos prazos dos pr-fixados no deve encontrar tanta dificuldade dependendo dos prmios, a merecidos, mas talvez no deva ir muito alm de um ano ou dois. A considerao relevan-te passa a ser a prioridade de aumentar significativamente o volume emitido e o prazo mdio dos papis com indexao a ndices de preos (IGPM e IPCA) e com indexao cam-bial. Para estes, espera-se que tenhamos benchmarks firmes para cinco anos e dez anos, quem sabe mais, dos quais se es-pera que floresam mercados para emisses privadas, bem como para swaps desses indexadores nesses prazos, algo que teria enorme importncia para as necessidades de hedge das empresas.
iii) Fundos impensvel que os dois primeiros grupos de medidas
sejam implementados, sem que reformas importantes se-jam simultaneamente conduzidas na indstria de fundos, o principal cliente do Tesouro, quando se trata de dvida pblica. Reforma uma palavra a ser usada com cautela nesse terreno mas, diante das mudanas acima descritas na infraestrutura da moeda nacional, no inoportuna. J se observou que a liquidez diria das cotas, uma herana solidamente estabelecida na poca de inflao alta, envie-sa os fundos na direo das LFTs, deixando apenas espao 16 Curiosamente, uma das lies mais interessantes da chamada crise da marcao a mercado em 2002 se relacionou dificuldade de aferir qual era o desgio efetivo das LFTs, uma vez que sempre se trabalhou com o preo na curva, como se no houvesse a necessidade de criar um mecanismo de mercado, um mdulo no sistema Selic para compilar os preos efetivamente praticados nas compras e vendas de LFTs.
-
49Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
marginal para o day trade, as posies em derivativos, des-tacadamente nos DIs curtos, e em bolsas de valores com a mais absoluta liquidez diria. Com certa vnia para a fal-cia da composio, tudo se passa como se todos os fundos pudessem ser liquidados de um dia para o outro. claro que, nessas condies, torna-se difcil imaginar que essa in-dstria desempenhe outra funo que no a de carregar a dvida pblica, preferencialmente em LFTs. A liquidez di-ria no passivo um problema, mas no o nico, pois mes-mo os fundos de penso, cujo passivo bastante mais longo, tm um percentual muito elevado de seus ativos em LFTs. Reconhecendo que o problema no se d apenas pelo lado da demanda, parece inevitvel que limitaes regulatrias e/ou medidas focadas de natureza tributria tenham de ser implementadas para que a indstria de fundos modifique a sua especializao ou amplie o seu escopo. Da mesma for-ma como observado acima para a questo da zeragem no overnight, possvel argumentar que tambm nesse quesito a liquidez diria nas cotas no algo incomum. Por exem-plo, no mundo bancrio norte-americano, existem os money market funds cuja motivao a proibio de pagar juros em depsitos vista, algo que poderia perfeitamente ser revis-to luz de consideraes feitas pelo ngulo da competio bancria. Mas novamente temos diante de ns uma prtica que foi abusada, tal qual a indexao. Talvez seja excessi-vo sugerir a eliminao ou a proibio dos fundos mtuos com liquidez diria, mas certo que, para comear, fundos com passivos de prazo maior que um dia deveriam ser, quem sabe, incentivados. Possivelmente, os fundos com liquidez diria devam ser tributados a fim de empurrar os investi-dores mais agressivos ou sofisticados para outras famlias de fundos mtuos com liquidez bem mais restrita (no mnimo,
-
50 Gustavo H. B. Franco
trimestral), cujo perfil de aplicaes poderia ento se afas-tar do figurino das LFTs. Como experimento, vale imaginar que a regulamentao defina uma separao entre classes de fundos, segundo a qual existiriam fundos semelhana dos money market funds americanos, com liquidez diria (ou mesmo admitindo depsitos vista remunerados), mas com taxas nominais muito pequenas, marginalmente maio-res que as cadernetas de poupana, e outra categoria de fun-dos mtuos de escopo variado, liquidez bem mais restrita, mas que sejam genuinamente veculos de investimento, com mais vezo para o mercado de capitais, menos tributa-dos e menos focados no mero carregamento da dvida pbli-ca. Regulamentao e tributao precisam caminhar juntas nessa redefinio. Em tempo: preciso cuidado para que a reforma na indstria de fundos no resulte em um derrame de recursos nas cadernetas de poupana, cuja importncia, como a do SFH, deve ser diminuda, e no revitalizada. Tal como hoje funcionam as cadernetas estabelecem um piso para os juros do sistema em TR + 6% sem imposto. Com ta-xas Selic da ordem de 8% as cadernetas comeam a vencer os fundos DI, dependendo das taxas de administrao. A tare-fa de remover este piso, possivelmente liberando os bancos para determinar qual sua taxa de captao, e reformar as exi-gibilidades, nada tem de simples, e nos leva naturalmente ao assunto do prximo tpico.
iv) Crdito direcionadoResta tratar do modo como os mecanismos regulatrios
que adicionam e reforam o processo de crowding out, as-sunto que se torna mais tenso diante do modismo em torno das chamadas medidas macroprudenciais e tambm no tocante ao papel dos bancos pblicos. No se deve perder
-
51Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
de vista que durante muitos anos os recolhimentos com-pulsrios e os direcionamentos de crdito cabiam dentro do que se designava como represso financeira, termo cunhado por Ronald McKinnon para caracterizar medidas regulatrias destinadas a produzir recursos para o gover-no, funcionando como formas disfaradas de tributao. No outra coisa o que ocorre com os compulsrios no Brasil, onde os recursos depositados so repassados para sua utilizao no financiamento de safra agrcola, e com os direcionamentos, notadamente o que atinge os depsitos de poupana, pois obrigam os bancos privados a emprestar a custos subsidiados com isso onerando o custo do crdi-to no segmento livre. O resultado dessas medidas seme-lhante ao produzido por um imposto sobre o crdito. Os custos de compulsrios e direcionamentos so repas-sados aos devedores dos crditos livres, e assim ampliam consideravelmente o chamado spread bancrio, que, como se sabe, patologicamente elevado no Brasil, exatamen-te como se passa com as alquotas de recolhimentos com-pulsrios e relativas a recursos direcionados. O problema aqui nitidamente fiscal; no h maiores obstculos a que cada uma dessas distores seja reduzida, exceto pelo fato de que as utilizaes para os recursos gerados nesses meca-nismos tenham de ser reduzidas ou redirecionadas para o oramento geral da Unio.Algo muito semelhante se passa com os mecanismos do
poupana forada como o FGTS e o FAT acima menciona-dos, que estendem a lgica do crowding out para alm das fronteiras do sistema financeiro. Ambos os circuitos do FGTS/CEF e do FAT/BNDES so caracterizados pelo fato de que o setor privado obrigado a poupar (empre-sas/trabalhadores via recolhimento ao FGTS em contas
-
52 Gustavo H. B. Franco
individuais do trabalhador, ou via pagamento do PIS para FAT) mas os recursos da resultantes no possuem natureza previdenciria strictu sensu. FGTS e FAT no so fundos de penso (talvez devessem ser!); sua misso usar os recursos para a execuo de determinadas polticas pblicas, e no o de procurar retornos consistentes com metas atuariais, como o caso de instituies como Previ, Petros, Funcef e outras da espcie. A poupana forada esta era a lin-guagem que se usava para estes mecanismos tempos atrs uma instncia muito clara de disputa entre o setor pblico e o setor privado, onde este fragorosamente derrotado. A poupana do setor privado capturada pelo FGTS e FAT e remunerada TR + 3% ao ano, portanto representando uma tributao j no disfarada da poupana privada. Como es-ses recursos deixam de aparecer no mercado de capitais, pois so direcionados para as polticas pblicas, fica claro o re-foro que oferecem dinmica de crowding out que temos vivido nos ltimos anos.
-
53Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
III. Consideraes finais
So muitas as possibilidades existentes em cada um desses agrupamentos de temas, mas os limites deste tex-to no comportam uma anlise detalhada dos conjuntos de medidas, assim como da sequncia e da transio que poderiam ser implementadas em cada um deles. absolu-tamente certo que deve haver coordenao entre as aes desenvolvidas nessas esferas, segundo uma lgica e um plano coerentes que compreendam a criao e o desenvol-vimento de uma curva ou de uma verdadeira estrutura a termo das taxas de juros, de uma nova estratgia para a dvida pblica, da qual o alongamento surja naturalmente com a mudana dos instrumentos, e de uma pequena re-forma financeira com o intuito de mudar (ou inovar) o ar-cabouo institucional no terreno da indstria de fundos, segundo um vis favorvel ao mercado de capitais. Essas mudanas, cuja viabilidade evidentemente depende de condies fundamentais (leia-se, fiscais) substancialmen-te melhores que as de hoje, tm se tornado imperativas seja para restituir eficcia poltica monetria, seja para reduzir o crowding out e, portanto, retirar o pas da in-cmoda posio de campeo mundial de juros, ou mesmo alavancar o mercado de capitais. Em outras palavras, para promover um crowding in mediante uma clara e explci-ta inverso das prioridades em relao aos ltimos anos, isto , para apoiar o mercado de capitais em detrimento do financiamento da dvida pblica. impossvel imagi-nar que isso pudesse ocorrer sem que o Tesouro tivesse de enfrentar dificuldades na rolagem de sua dvida, pois a lgica de mercado cativo estaria se rompendo. Portanto, a reduo nos juros e o rompimento dessa lgica apenas
-
54 Gustavo H. B. Franco
poderiam ocorrer de forma tranquila se as NFSPB cas-sem significativamente. A taxa de juros no Brasil, ao que tudo indica, um fenmeno fiscal.
4 de julho de 2011
-
55Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
Referncias bibliogrficas
Arida, Prsio, Edmar Bacha e Andr Lara Resende. (2005) Credit, interest, and jurisdictional uncertainty: conjectures on the case of Brazil, em Giavazzi, F. et. al., Inflation Targeting, Debt, and the Brazilian Experience, 1999 to 2003. MIT Press.
Azevedo, Rodrigo. (2005) Poltica monetria e dvida pblica: um debate para alm do curto prazo. Braslia: Banco Central do Brasil. Disponvel em http:// www.bcb.gov.br/?apres2005009.
Bacha, Edmar. (2010) Alm da Trade: H como reduzir os juros?.
(1994) O fisco e a inflao: uma interpretao do caso brasilei-ro Revista de Economia Poltica, 14 (1) Maro.
(1988) Moeda, inrcia e conflito: reflexes sobre poltica de estabilizao no Brasil, Pesquisa e Planejamento Econmico 18 (1) Abril.
Bacha, Edmar, Marcio Holland, e Gonalves, Fernando (2007) Is Brazil different? Risk, dollarization and interest rates in emer-ging markets IMF Working Paper 07/294.
Blanchard, Olivier. (2000) Crowding out em John Eatwell; Murray Milgate e Peter Newman The New Palgrave: A Dictionary of Economics Londres, Palgrave Macmillan Press.
Carvalho, Fabia A. de & Minella, Andr. (2011) Previses de Mercado no Brasil: desempenho e determinantes, em Banco Central do Brasil. Dez Anos de Metas para a Inflao, 1999-2009. Braslia, Banco Central do Brasil.
Eichengreen, Barry. (2010) Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System, Oxford University Press, 2010.
Ferreira, Carlos Kawall Leal; Robottom F, Murilo & Dupita, Adriana Beltro. (2004) Poltica monetria e alongamento da dvida pblica: uma proposta para discusso. Texto para
-
56 Gustavo H. B. Franco
Discusso 9/2004. Programa de Estudos Ps-Graduados em Economia Poltica, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo. Disponvel em www.pucsp.br/pos/ecopol.
Franco, Gustavo H. B. (2006) Notas sobre crowding out, juros altos e LFTs, in Edmar L. Bacha & L. Chrysostomo (eds.), Mercado de capitais e dvida pblica, So Paulo, Editora Contracapa & Anbid.
(2005) Auge e declnio do inflacionismo no Brasil em F. Giambiagi et al. (eds.) Economia brasileira contempornea, Rio de Janeiro, Editora Campus.
(2004) Como no tempo da hiperinflao, Revista Veja, 18 de agosto de 2004.
(2001) O papel da crise, O Estado de S. Paulo, 22 de abril de 2001.
(1995) O Plano Real e outros ensaios, Rio de Janeiro, Francisco Alves.
Gonalves, Fernando, Marcio Holland, E Andrei D. Spacov. (2007) Can jurisdictional uncertainty and capital controls ex-plain de high level of interest rates in Brazil? Evidence from panel data, Revista Brasileira de Economia 61 (1).
Guardia, Eduardo. (1992) Oramento pblico e poltica fiscal: aspectos institucionais e a experincia recente, 1985-1991, Dissertao de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas - Unicamp.
IMF (International Monetary Fund). (2011) Fiscal Monitor, Shifting gears, tackling challenges on the road of fiscal adjustment, World Economic and Financial Surveys, Washington.
Pellegrini, Josu Alfredo. (2011) Dvida bruta e ativo do setor p-blico: o que a queda da dvida pblica no mostra? Ncleo de Estudos e Pesquisas do Senado, Texto para Discusso 95, junho.
Reinhart, Carmen M. & Rogoff, Kenneth S. (2009) This time is different: eight centuries of financial folly, Princeton, Princeton University Press.
Siqueira, Roberto & Moreira, jax R. B. (2005) Valor da opo de investimento (exportao) e volatilidade cambial. Texto para
-
57Por que juros to altos, e o caminho para a normalidade
Discusso 1109, IPEA. Rio de Janeiro, agosto. Disponvel em http://www.ipea.gov.br/pub/td/2005/td_1109.pdf .
Soares, Joo Jos Silveira & Barbosa, Fernando de Holanda. (2006) Regra de Taylor no Brasil: 1999-2005, Encontro Anual da ANPCE, mimeo.
-
O processo de formao da taxa de juros no Brasil*
Samuel Pessoa e Mrcio Nakane**
I. Introduo
O Brasil apresenta juros extremamente elevados. Juros permanentemente elevados significam que h, continuamen-te, um excesso de demanda por bens e servios sobre a ofer-ta que fora os juros para cima para evitar aumento contnuo dos preos. No entanto, em uma economia aberta possvel reduzir o juro domstico com a entrada de capitais. Isto , o excesso de demanda pode ser coberto pela entrada de merca-dorias e servios passveis de serem transacionados internacio-nalmente. Assim temos que nos perguntar sobre os motivos que tm impedido que a mobilidade de capital desempenhe o seu papel e contribua para a convergncia do juro domstico ao juro internacional. O objetivo desta nota apresentar o debate sobre os juros elevados no Brasil e nos posicionarmos. possvel, na histria recente, identificar dois perodos
distintos na determinao da taxa de juros no Brasil. No pri-meiro, o risco soberano percebido pelos agentes econmi-cos parece que explica a maior parcela do fenmeno.
* Agradecemos a Thiago Curado pelo auxlio com a evidncia para a pesquisa Focus e os comentrios cuidadosos de Luiz Fernando de Paula, Mansueto Almeida Jr., Edmar Bacha, Mrcio Garcia e Ilan Goldfajn. Os erros e imprecises remanescentes so de nossa responsabilidade.** Scios da Tendncia Consultoria Integradas. Mrcio Nakane professor do Depto. de Economia da USP e Samuel Pessoa pesquisador associado do Ibre-FGV.
-
60 Mrcio Nakane e Samuel Pessoa
Figura 1Spread taxa pr 360 real ex ante (% a.a., eixo esquerda) e participao percentual do Prmio de Risco (EMBI BR, eixo direita) no spread As duas barras marcam outubro de 2005 e maio de 2007
A figura 1 ilustra a evoluo do spread entre a taxa de ju-ros para papeis com vencimento de um ano respectivamente no mercado interbancrio brasileiro e de Londres. As ta-xas so reais deflacionadas pelas respectivas inflaes espe-radas doze meses frente. Consideramos como medida de inflao esperada a pesquisa Focus conduzida pelo Banco Central do Brasil e a pesquisa equivalente conduzida pela Universidade de Michigan para a inflao americana. O va-lor para o spread est representado no eixo esquerda. No eixo direita representamos a participao do risco pas medido pelo EMBI Brasil como proporo do spread. Para
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
5
10
15
20
25
jan/
01
mai
/01
set/0
1 ja
n/02
m
ai/0
2 se
t/02
jan/
03
mai
/03
set/0
3 ja
n/04
m
ai/0
4 se
t/04
jan/
05
mai
/05
set/0
5 ja
n/06
m
ai/0
6 se
t/06
jan/
07
mai
/07
set/0
7 ja
n/08
m
ai/0
8 se
t/08
jan/
09
mai
/09
set/0
9 ja
n/10
m
ai/1
0 se
t/10
jan/
11
Participao do EMBI












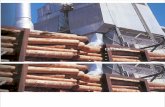




![210 - [ SBF ] - Sociedade Brasileira de Física · 40.210 - Salvador (Ba) - Br asil Dep artment of Physics and Astr ... ari av eis abstratas utilizadas no eletromagnet smo, na termo](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5b1a8ca07f8b9a23258db458/210-sbf-sociedade-brasileira-de-fi-40210-salvador-ba-br-asil.jpg)

