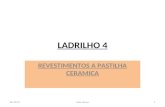ATUALIDADE DA REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS: … · bem como o governo em que foi criado o...
Transcript of ATUALIDADE DA REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS: … · bem como o governo em que foi criado o...
1
ATUALIDADE DA REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS: UMA ANÁLISE DOS TIPOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS
Fabiana Borges Victor
Laboratório de Geografia Agrária – LAGEA Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais – NEAT
Universidade Federal de Uberlândia - UFU [email protected]
Ricardo Luis de Freitas
Laboratório de Geografia Agrária – LAGEA Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais – NEAT
Universidade Federal de Uberlândia - UFU [email protected]
Resumo Este trabalho discorre sobre a diversidade de assentamentos rurais no estado de Minas Gerais, segundo a Política Nacional de Reforma Agrária, que cria os assentamentos de Reforma Agrária – RA, e da Política Nacional de Crédito Fundiário e a criação dos assentamentos de Reforma Agrária de Mercado – RAM, considerando para tanto a localização no estado e o ano de criação, bem como o governo em que foi criado o assentamento. Essa discussão possibilita observar, entre outros fatores, a disputa entre campesinato, agronegócio e latifúndio, e o papel exercido pelo Estado. Para o desenvolvimento do estudo, são utilizados os dados do Banco de Dados da Luta pela Terra – DATALUTA, pesquisa que sistematiza os registros da luta pela terra no Brasil. Palavras-chave: Assentamentos rurais. Reforma Agrária. Reforma Agrária de Mercado. DATALUTA. Minas Gerais. Introdução Ao se propor uma análise da realidade do campo brasileiro, é possível compreender as
inúmeras desigualdades sociais e econômicas ainda não superadas pelo país. Essa
realidade se caracteriza pela concentração de terras e riquezas por parte do agronegócio
e latifúndio, e pela falta da terra de trabalho aos pequenos agricultores, gerando
consequentemente inúmeros conflitos no campo.
Nesse processo, o acesso à terra é realizado por meio da criação dos assentamentos
rurais, resultado principalmente da ação dos movimentos sociais a partir das ocupações
de terras, pressionando o Estado a favor da população do campo que reivindica terra e
reforma agrária. Promover a democratização do acesso à terra é responsabilidade do
Estado, e torna-se então fundamental compreender a criação e formação dos
2
assentamentos rurais, bem como o papel exercido pelo governo a partir dos tipos de
programas e políticas públicas.
A proposta deste trabalho é o de contribuir com a discussão a respeito das tipologias dos
assentamentos rurais existentes no estado de Minas Gerais. É importante destacarmos a
existência da diversidade de assentamentos, seja em nível nacional e estadual. As
tipologias de assentamentos rurais dividem-se em duas políticas principais, a Política
Nacional de Reforma Agrária e a Política Nacional de Crédito Fundiário, que criam os
assentamentos de Reforma Agrária - RA e Reforma Agrária de Mercado - RAM,
respectivamente.
Iremos ao longo do trabalho estabelecer de maneira comparativa, a formação desses
assentamentos, tendo entre outros critérios de análise principalmente a localização e o
ano de criação. É preciso que consideremos como ponto de partida a intensa e dinâmica
territorialização e desterritorialização pela qual vivem os diferentes grupos que
compõem o campo brasileiro.
Para compreendermos as dinâmicas pelas quais o campesinato brasileiro está inserido, é
necessário analisarmos primeiramente a conceituação e a construção deste conceito.
Entender os contextos aos quais os camponeses estão inseridos é essencial para
indagarmos algumas questões no que tange ao desenvolvimento de políticas públicas
para o campo brasileiro.
O trabalho fundamenta-se em referencial teórico acerca da luta pela terra, reforma
agrária e assentamentos rurais, segundo OLIVEIRA (2001), CLEPS JR (2010),
FABRINI (2010), entre outros. São utilizados também como fonte de pesquisa os
registros do Banco de Dados da Luta perra Terra – DATALUTA, um projeto de
pesquisa e extensão desenvolvido desde 2005 em Minas Gerais, em cooperação com
outros estados brasileiros, que sistematiza os dados referentes às ocupações de terra,
assentamentos rurais, movimentos socioterritoriais, manifestações e estrutura
fundiária, temas estes envolvidos nos conflitos agrários. Para complementar o estudo,
as representações cartográficas auxiliam na espacialização dos tipos de assentamentos
rurais no estado de Minas Gerais.
3
Campesinato e a luta pela conquista de seu território Como ponto de partida para esta análise abordaremos o conceito de campesinato para
compreendermos o modo que a classe se reproduz no sistema capitalista O campesinato
é uma classe social comumente confundida como um setor da economia. O camponês se
“insere na sociedade capitalista de maneira subordinada” (Oliveira, 1991), e que vive
sob os ditames e ordens do capital e que de certa maneira está dependente do sistema.
Para Oliveira (2001), [...] a luta pela terra desenvolvida pelos camponeses no Brasil é uma luta específica, moderna, característica particular do século XX. Entendo que o século passado foi, por excelência, uma época de formação e consolidação do campesinato brasileiro enquanto classe social. Assim, esses camponeses não são entraves ao desenvolvimento das forças produtivas, impedindo o desenvolvimento do capitalismo no campo; ao contrário, eles praticamente nunca tiveram acesso à terra, sendo pois desterrados, “sem terra”, que lutam para conseguir o acesso a terra. (OLIVEIRA 2001, p. 189)
Defendemos a atualidade de camponês cuja densidade histórica nos remete a um
passado de lutas. Com base no tripé terra, trabalho e família, os camponeses
estabelecem esses aspectos como valores morais, em outras palavras, são os marcos de
sua reprodução. “O desenvolvimento capitalista se faz movido pelas suas contradições.
Ele é, portanto, em si, contraditório e desigual. Isto significa que para seu
desenvolvimento ser possível, ele tem que desenvolver aqueles aspectos aparentemente
contraditórios a si mesmo” (Oliveira, 1991).
O campesinato que foi criado no Brasil, desenvolveu-se no interior de uma sociedade
que fazia parte do capitalismo mercantil europeu e se formou nas periferias do
latifúndio escravista. É válido lembrarmos que o conceito de camponês é anterior e que
está relacionado à realidade vivida na idade média europeia. Há uma diferença
substancial dos camponeses europeus com os que tivemos e temos em nosso país, “a
heterogeneidade dos camponeses é indubitável” Shanin (2005), principalmente sobre a
sua mobilidade espacial. Como lembra Marques (2008), o camponês brasileiro recebe
denominações diferentes conforme a sua história e região de origem
[...] caipira em São Paulo, Minas Gerais e Goiás; caiçara no litoral paulista; colono ou caboclo no sul - dependendo de sua origem, imigrante ou não. O mesmo também acontecia com os grandes proprietários de terra, que eram conhecidos como estancieiros, senhores de engenho etc (MARQUES, 2008 p. 60).
4
O conceito de camponês começa a ganhar destaque nas ciências sociais brasileiras a
partir da década de 1950, com o surgimento das Ligas Camponesas no nordeste
brasileiro. As Ligas camponesas evidenciaram como elementos da questão agrária
brasileira a grande concentração de terra, a extrema desigualdade social e as
transformações nas relações de trabalho. Com as políticas modernizantes, papel
protagonizado pelo Estado, há um aumento da complexidade da problemática da
questão agrária brasileira.
Existem duas correntes presentes na Geografia Agrária brasileira (Fernandes, s/d),
“sobre os momentos vividos pelo campesinato”. Uma defende o fim do campesinato,
afirmando que esse seria absorvido pelo capital, não havendo possibilidade de sua
existência. A outra corrente de pensadores defende a “metamorfose” do campesinato,
processo pelo qual passariam a ser integrados totalmente ao mercado tornando-se então
agricultores familiares.
É importante sinalizarmos sobre as diferenças ideológicas dos paradigmas. A primeira
corrente baseia-se na questão agrária e a segunda no capitalismo agrário. Essas duas
ideologias se pautam em questões estruturais que foram desenvolvidas pelo capitalismo.
Trabalhamos com o conceito de camponês, como propõe Shanin (1979) e Oliveira
(1991) entendendo que o camponês está inserido no modo de produção capitalista e a
sua reprodução no interior desse sistema acontece. É necessário lembrarmos que o
camponês sempre esteve aliado ao mercado e ao pensarmos diferente dessa perspectiva
estaremos distorcendo a realidade. Segundo Shanin (2005), O que realmente se quer dizer é que os camponeses representam uma especificidade de características sociais econômicas, que se refletirão em qualquer sistema societário em que operem. Quer dizer também que a história camponesa se relaciona com as histórias societárias mais amplas, não como seu simples reflexo, mas com medidas importantes de autonomia. Em poucas palavras, significa que uma formação social dominada pelo capital, que abarque camponeses, difere daquelas em que não existem camponeses [...]. Finalmente, e o que é mais importante, essas conclusões não são simplesmente um exercício de lógica, mas são centrais para estratégias de pesquisa e ação política, pois implicam que os camponeses e sua dinâmica devem ser considerados tanto enquanto tais, como dentro dos contextos societários mais amplos, para maior compreensão do que são eles e do que é a sociedade em que vivem (SHANIN, 2005, p. 14).
Afirmamos que o conceito de campesinato agrega em si a complexidade histórica de
luta, é ele que possui uma abordagem a qual amplia e consegue abranger as
transformações, que tem ocorrido no campo brasileiro. Bombardi (2003) sinaliza as
5
[...] questões fundamentais nesta análise no sentido da compreensão do significado de trabalharmos com o conceito de camponês. A primeira delas, que já foi discutida, está no âmbito econômico, ou seja, no fato do campesinato ser compreendido como uma classe social deste modo de produção e ser por ele continuamente reproduzida. A segunda está no plano político, da luta camponesa pela terra, que é tão atual quanto antiga [...] (BOMBARDI, 2003, s/p).
Outra definição que devemos considerar é a dos movimentos camponeses. É importante
incluir nesse contexto o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST e a Via
Campesina, já que os camponeses também se posicionam. Embora na Via Campesina
há pouco acúmulo teórico devido a sua recente trajetória na construção de um
movimento articulado em escala internacional. Vale ressaltar que a preocupação com os
conceitos não são temas da agenda cotidiana da Via Campesina, e seu esforço é de
trabalhar com temas concretos como ações de luta e enfrentamentos sobre a atual
estrutura de desenvolvimento produtivo. Para a Via Campesina (2009),
Una persona campesina es un hombre o una mujer de la tierra que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y/o otros productos agrícolas. Las campesinas y campesinos trabajan la tierra por si mismos; dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo. Las campesinas y campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos. El término de campesino o campesina puede aplicarse a cualquier persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, la transhumancia, las artesanías relacionadas com la agricultura u otras ocupaciones similares. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan la tierra. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con La definición [1] de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO 1984), las siguientes categorías de personas pueden considerarse sin tierra, y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: 1.Familias de agricultores con poca tierra o sin tierra. 2.‐ Familias no agrícolas en áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la porción servicios; 3. Otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos cambiantes, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos (DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS CAMPESINAS Y CAMPESINOS, 2009).
É fato que enquanto o agronegócio e o latifúndio se mantiverem no centro do poder
político e econômico, haverá “crises”, ou seja, o atual sistema produtivo excludente que
sujeita milhares de camponeses à condição de pobreza favorece a existência de
conflitos. Os camponeses estabelecem uma relação de subordinação com a sociedade
capitalista. Para Fernandes; Welch (2008)
6
[...] Essa contradição: contribuição-destruição é mais bem compreendida quando a análise considera que o campesinato não é parte integrante do agronegócio. Ele é subalterno a este modelo de desenvolvimento pelo fato de não possuir poder para impor outro modelo na correlação de forças com o capital (FERNANDES; WELCH 2008, p. 48).
Concordamos com Shanin (1979), em que “os camponeses se levantam em momentos
de crise”. Esses momentos acontecem na falta de acesso a alimentos, a terra, a água e ao
trabalho, etc. Durante anos a principal estratégia de luta dos camponeses era somente a
ocupação de latifúndios improdutivos.
Toda essa luta tem como resultado a criação de assentamentos rurais que representam o
território da recriação e reprodução do campesinato brasileiro. Embora seja uma luta, na
maioria das vezes marcada pela violência física, psicológica e simbólica, e como último
recurso para silenciar essa luta vê-se como violência extrema o assassinato dos
camponeses. Afirmamos que o resultado hoje das políticas de assentamentos se deve a
luta dos camponeses. No processo de enfrentamento entre agricultura camponesa e capitalista, os assentamentos de reforma agrária destacam-se como importante território camponês (fração do território) em que as novas e antigas sociabilidades são reavivadas e recriadas com a conquista da terra. Nos assentamentos, ergue-se um conjunto de saberes e conhecimentos secularmente acumulados, ou seja, saberes que estavam sendo erodidos e perdidos com a expulsão e expropriação dos camponeses e que são recriados e recuperados como estratégias de existência pela resistência dos camponeses (FABRINI 2010 p. 82).
Este conceito de camponês agrega em si uma abordagem histórica de luta de classes e a
partir disso vamos nos direcionando para desvendar a verdadeira natureza dos conflitos
no campo. Os camponeses, o agronegócio e o latifúndio é a materialização dos
diferentes graus de desenvolvimento que estão presentes no campo e que devido a essa
diversidade é possível originar as disputas territoriais marcadas por uma intensa
conflitividade. Embora o agronegócio possua todos os recursos que o capitalista investe
para garantir o domínio do território, os camponeses partem para o enfrentamento, no
caso da RA, organizando-se em movimentos de luta pela terra, na busca da conquista do
território camponês.
Tipologias de assentamentos rurais RA e RAM
O que temos hoje em todo o país de assentamentos rurais de Reforma Agrária, foram
criados especialmente pela luta dos trabalhadores sem-terra. O processo de organizar as
7
pessoas para participar dos movimentos sociais rurais e em construir coletivamente um
pensamento que eles podem por meio da luta conquistar a terra e viver de maneira digna
em seu lote é o que permite que milhares de pessoas pobres que vivem no campo e nas
periferias da cidade, possam engajar na luta e conquistar a terra.
O controle territorial exercido pelo agronegócio e/ou latifundiário é questionado pela
luta dos camponeses, que no pós-ditadura tem conseguido avanços em termos de terras
conquistadas. É preciso destacar que na Reforma Agrária existem diferentes formas de
obtenção dos assentamentos rurais. Em Minas Gerais existem desapropriação,
reconhecimento/regularização, compra, doação e transferência. No estado de Minas
Gerais a maioria é obtido por meio da desapropriação e regularização, primeiro devido a
luta pela terra realizada pelos camponeses, concentrando-se principalmente nas
Mesorregiões Geográficas do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e
Norte de Minas, e segundo pela luta dos grupos remanescentes de quilombolas,
localizando-se principalmente na Mesorregião Norte de Minas.
Inúmeros conflitos envolvendo a posse da terra têm sido registrados nos últimos anos.
Atualmente, essas Mesorregiões Geográficas se destacam pelo número de movimentos
de luta pela terra, 17 ao longo dos últimos 22 anos. Como resultado dessa luta temos a
criação do território camponês que para Haesbaert (2006)
O território, enquanto relação de apropriação e/ou domínio da sociedade sobre o seu espaço, não está relacionado apenas à fixidez e à estabilidade (como uma área de fronteiras bem definidas), mas incorpora como um de seus constituintes fundamentais o movimento, as diferentes formas de mobilidade [...] (HAESBAERT, 2006 p. 118).
Nesse contexto, os territórios que anteriormente estavam nas mãos de capitalistas e
especuladores imobiliários aguardando o aumento da valorização das terras e nada
produzindo, após a criação dos assentamentos tornaram-se espaços de novas
sociabilidades e de produção de alimentos. A seguir apresentamos no Mapa 01 a
localização dos assentamentos rurais de Reforma Agrária.
8
Por outro lado, a Reforma Agrária de Mercado – RAM é desenvolvida numa
perspectiva diferente, baseada na compra de terra. Ela surge para combater as crescentes
ocupações de terras lideradas pelos movimentos sociais rurais. No ano de 1997, foi
criado o Programa Cédula da Terra no Brasil, considerado um programa complementar
à Política Nacional de Reforma Agrária e que contou com o apoio do Banco Mundial,
Governo Federal e elites agrárias que articularam em nível local a implantação dessa
proposta. Em 2001, o nome do projeto de Cédula da Terra muda para Banco da Terra.
Para a criação dos assentamentos RAM não ocorre uma participação ativa dos
agricultores familiares no processo de negociação e implantação do assentamento. As
reuniões e até mesmo a organização das associações iniciais são articuladas por agentes
externos, ou seja, não agricultores e sim políticos, proprietários de terras e até pessoas
ligadas ao Banco Mundial e ao Banco do Brasil, interessadas em ofertar o
financiamento para a compra da propriedade. O tempo que eles esperam para ter acesso
a um lote da fazenda é relativamente rápido se compararmos com os assentamentos do
INCRA, em geral, dois, três até quatro meses, tomando como base o período que vai
9
desde a formação da associação à escolha da propriedade a ser comprada e a liberação
dos recursos para financiamento da propriedade.
Na sequência iremos descrever as linhas de créditos que foram criadas pelas políticas e
programas da RAM. O Programa Cédula da Terra – PCT era uma linha de crédito em
que os beneficiários recebiam financiamento específico destinado à obtenção dos
recursos fundiários e implantação da infraestrutura básica; quanto ao Banco da Terra –
BT, o financiamento das terras se dá por meio do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária; o Crédito Fundiário – CF surge para substituir o Banco da Terra; o Combate a
Pobreza Rural – CPR visava oferecer financiamento aos trabalhadores rurais sem terra,
pequenos produtores rurais com acesso precário à terra e proprietários de minifúndios –
imóveis cuja área não alcança a dimensão da propriedade familiar; a Consolidação da
Agricultura Familiar – CAF tinha por finalidade a aquisição de imóveis rurais, com as
benfeitorias já existentes e investimentos em infraestrutura básica e para o início da
produção; Nossa Primeira Terra/Consolidação da Agricultura Familiar foi criado para
atender a demanda de jovens sem-terra ou filhos de agricultores familiares, na faixa
etária de 18 a 28 anos que queiram permanecer no meio rural e investir em uma
propriedade, o objetivo desse programa era o de contribuir para a solução dos problemas
do ordenamento agrário que agravam o êxodo rural.
No estado de Minas Gerais, temos a criação dos assentamentos RAM nas Mesorregiões
Geográficas Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas, Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, Zona da Mata e Sul de Minas. Ao espacializarmos a
localização desses assentamentos, observamos que duas Mesorregiões destacam-se,
Zona da Mata e Sul de Minas.
A forma como é promovida a reforma agrária através do Banco Mundial reproduz com
mais intensidade a pobreza e o caos no campo mineiro. Além disso, ocorre a
desarticulação dos movimentos de luta pela terra, e a geração da dívida que o camponês
adquire, precisando produzir para pagar. Portanto, a região onde se tem pouca ou
nenhuma atuação dos movimentos sociais, é também onde se concentra o maior número
de assentamentos de Reforma Agrária de Mercado. Na sequência, apresentamos o mapa
de localização dos assentamentos RAM em Minas Gerais.
10
A organização do espaço rural das Mesorregiões Zona da Mata e Sul de Minas foi
essencialmente constituída por pequenas propriedades rurais, colaborando assim para o
sucesso da implantação do projeto. Além disso, outro ponto importante é a ideologia de
que por meio do acesso à terra os problemas dessas pessoas serão resolvidos, o que é
muito presente no discurso dos responsáveis da articulação do projeto, mas o que
efetivamente acontece é a geração de mais dificuldades.
Desse modo, há um controle do Banco Mundial nesses territórios, pois o poder
econômico está incorporado ao processo de dominação e subordinação dos
trabalhadores ao capital. A ideia de produzir para poder atender ao mercado e quitar a
dívida é o elemento básico do dia a dia dos assentados por esse projeto.
A seguir apresentamos o Gráfico 01, que representa o número de assentamentos RA e
RAM por período de governo.
11
Org.: FREITAS, R. L., 2012. Fonte: DATALUTA Anteriormente ao governo de José Sarney, tínhamos passado pelo período da ditadura
militar (1964-1985). O governo militar não tinha a realização da reforma agrária como
pauta de seus governos.
Depois do golpe militar de março de 1964, a pressuposição da revolução camponesa apareceu claramente na justificativa da raivosa repressão que se desencadeou sobre os trabalhadores do campo, particularmente os das Ligas Camponesas, sobre as lideranças sindicais e até mesmo sobre os partidos políticos que, especificamente a respeito tinham posição vacilante. As brutalidades cometidas por fazendeiros e a manipulação da CIA, e as sádicas e espantosas agressões cometidas [...] são algumas das indicações a respeito (MARTINS 1981 p. 93).
Durante o período do governo de José Sarney, temos a criação do 1º Plano de Reforma
Agrária, que em essência, restringiu-se a uma política paliativa de assentamentos e de
busca de alívio das tensões sociais no campo.
É possível afirmarmos que este 1° Plano foi implementado por meio de uma política de
modernização conservadora do setor agropecuário. Como todas as políticas anteriores,
esta baseava-se num modelo excludente, que visava ao crescimento da monocultura
para exportação, concentrando tanto a terra como a renda no campo. Importante
destacar que esse 1° Plano objetivava colocar em prática o Estatuto da Terra, indicando
12
como programas do processo de reforma agrária, principalmente a desapropriação. No
entanto, pressões políticas da União Democrática Ruralista-UDR impediram que a
desapropriação de terras fosse realizada.
No governo de Collor/Itamar, temos um retrocesso no que se refere à criação de
assentamentos rurais. Continua a política de repressão e violência contra os camponeses
e para resolver assuntos relacionados à reforma agrária, em 1990 foi criada a Secretaria
Nacional de Reforma Agrária, que passava a ser gestora de várias funções que até então
eram delegadas ao INCRA. Em 1991, o governo extinguiu a Secretaria e, a partir daí, o
INCRA voltou a ser o único órgão a cuidar da reforma agrária, estando, contudo,
diretamente subordinado ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária.
No primeiro mandato de FHC, um fato repercutiu nacional e internacionalmente. Em
abril de 1996, 19 sem-terra morreram durante um confronto com a Polícia Militar
devido a um bloqueio realizado pelos camponeses, que exigiam do Poder Público
resposta às famílias acampadas; isso aconteceu no município de Eldorado dos Carajás,
no Pará. O caso ganhou repercussão internacional, e o presidente Fernando Henrique
Cardoso se viu pressionado a realizar desapropriações de terras em todo o Brasil, e
como resultado isso refletiu no estado mineiro. É no primeiro mandato de FHC que
ocorre a implantação dos assentamentos de Reforma Agrária de Mercado.
No segundo mandato de FHC a política que predominou foi a RAM, embora tivemos
em Minas Gerais assentamentos criados pela RA. É neste momento que o MST muda
sua estratégia de luta, antes a ação principal do movimento era a ocupação de
latifúndios, a partir de 1998 passa a ser também as manifestações. Antes, exigia terras
para semear. Agora, além de terras, pretende discutir as condições dos financiamentos
que o governo lhe proporciona. Como tem mostrado os resultados apresentados por
Cleps Jr. (2010), em que nos últimos anos
[...] foram registrados diversos atos em favor da Reforma Agrária e outros protestos contra a violência, ou pedindo a desapropriação, ou regularização de terras, renegociação de dívidas, incentivo à pequena produção, em defesa da soberania alimentar, contra a privatização da água e a construção de barragens e em defesa do meio ambiente. Estes atos culminaram em ocupações de prédios públicos, acampamentos, caminhadas, passeatas e bloqueios de ferrovia, balsa e rodovias. Também foram registrados diversos atos pelo país contra a impunidade, a injustiça e a violência no campo (p. 139).
Os dados nos mostram que neste segundo mandato o número de assentamentos RAM
foi o dobro de assentamentos da RA. A política que se desenvolveu foi a da não
13
desapropriação e sim a de compra de terras financiada pelo Banco Mundial, para
impedir os conflitos (que ocorresse desapropriações) entre camponeses e latifundiários.
No primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, a esperança dos movimentos de luta
pela terra é que se efetivasse a reforma agrária neste país, no entanto, o que houve foi
um retrocesso no número de assentamentos criados. Continuou inalterada a política de
financiamento de terras pelo Banco Mundial, mudando o nome de alguns programas e
criando novas linhas de crédito.
Em relação a RA, um instrumento passa a fazer parte dos números do governo Lula, a
regularização fundiária ou reconhecimento. Desse total de 107 assentamentos criados,
28 foram obtidos por regularização fundiária. Esses dados de fato revelam que nesse
período há um decréscimo do número de assentamentos criados pela RA.
Para o segundo mandato do governo Lula permanece o ritmo de decadência do número de
criação de assentamentos rurais. Os movimentos, entidades e intelectuais, afirmam que o
governo Lula em seus oito anos de mandato não realizou a reforma agrária e sim apenas
deu continuidade à política distributiva de terras em áreas especialmente de conflitos.
No governo Dilma, a Reforma Agrária apresenta o pior resultado dos últimos 16 anos.
Os números comprovam que a execução da Reforma Agrária não é prioridade do
governo atual, e o que tem sido feito de criação de assentamentos é em sua maioria
obtida por regularização.
Considerações finais
Neste trabalho procuramos analisar a tipologia de assentamentos rurais existentes no
estado de Minas Gerais, uma vez que esta expressa os conflitos entre campesinato,
latifúndio e agronegócio na disputa por terras.
Os mapas demonstram que nas regiões de expansão e controle territorial pelo
agronegócio, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas por exemplo, é
onde predominam os assentamentos de RA, devido principalmente às ações dos
movimentos sociais a partir das ocupações de terras em confronto contra as grandes
propriedades.
Entendemos a criação dos assentamentos rurais como uma resposta aos conflitos
agrários; depois de uma ocupação de terra, são anos de espera até que o assentamento
14
seja criado, e essa demora é muitas vezes o fator que faz do pequeno produtor desistir, e
se inserir nos programas de Reforma Agrária de Mercado.
Em contrapartida, os assentamentos da RAM, pela perspectiva capitalista da compra da
terra, concentram-se nas regiões mineiras com menor atuação dos movimentos sociais,
até mesmo por se tratar de uma estratégia em amenizar os conflitos do campo. Mesmo
que famílias sejam assentadas e tenham acesso à terra para cultivo e trabalho, os
assentamentos do tipo RAM acabam por gerar o endividamento do pequeno produtor, e
não traz melhorias para essa referente população, que produz para pagar suas dívidas. A
Reforma Agrária de Mercado se tornou uma medida mais interessante ao governo, que
diz atender à população do campo que reivindica o acesso à terra, mas sem interferir ou
prejudicar as elites econômicas através das desapropriações da Reforma Agrária, como
muitos estudiosos já demonstraram. Ocorre de fato uma redução no papel do Estado, e a
maior participação dos bancos financiadores.
Vemos que a criação do assentamento rural é apenas a primeira medida. Os assentados
necessitam de apoio técnico e financeiro para produzir, e isso são ações que compete ao
governo proporcionar. São fatores que os próprios movimentos sociais do campo
apontam, pois não são realizadas apenas ocupações de terras, reivindicam também, por
meio das manifestações, melhores condições de produção e financiamento, exigem dos
governos estaduais a assistência técnica prometida. Tudo isso são fatores que
demonstram que a Reforma Agrária é necessária e fundamental para o desenvolvimento
efetivo do campo brasileiro.
Referências
BOMBARDI, L. M. O Papel da Geografia Agrária no Debate Teórico sobre os Conceitos de Campesinato e Agricultura Familiar. Geousp, São Paulo, v. 14, p. 107-117, 2003. CLEPS JUNIOR, J. As ações dos movimentos sociais no campo em 2010. In: CANUTO, A.; LUZ, C. R. da S.; WICHINIESKI, I. (Org.). Conflitos no Campo Brasil 2010. 1 ed. Goiânia: CPT - Comissão Pastoral da Terra, 2011, v. 1, p. 136-143. FABRINI, J. E. O campeisinato frente à expansão do agronegócio e do agrocombustível. In: SAQUET, M. A.; SANTOS, R. A.. (Org.). Geografia agrária, território e desenvolvimento. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010, v. 1, p. 126-151.
15
HAESBAERT, R. Ordenamento Territorial. Boletim Goiano de Geografia, v. 26, p. 117-124, 2006.
FERNANDES, B. M.; WELCH, C. Campesinato e Agronegócio da laranja nos EUA e Brasil. In: Bernardo Mançano Fernandes. (Org.). Campesinato e Agronegócio na América Latina: a questão agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, 2008, v. , p. 45-70. FREITAS, R. L. de; CLEPS JUNIOR, J. O Projeto Banco da Terra no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. In: V Simpósio Internacional/VI Simpósio Nacional de Geografia Agrária, 2011, Belém/PA. Anais do V Simpósio Internacional/ VI Simpósio Nacional de Geografia Agrária. Belém-PA : IFCH/UFPA, 2011. v. 5. p. 1-16. OLIVEIRA, A. U. Os agrocombustíveis e a produção de alimentos. XII Encuentro de Geógrafos de América Latina. Montevidéo. Abr. 2009. Disponível em: http://egal2009.easyplanners.info/area06/6194_OLIVEIRA_Ariovaldo_Umbelino.doc. Acesso em: 20 de Jun. de 2009. _______. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária. Estudos Avançados, IEA/USP São Paulo, v. 15, n. 43, p. 185-206, 2001. _______. Agricultura camponesa no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Ed. Contexto, 1996. 164 p.
MARQUES, M. I. M. A atualidade do uso do conceito de camponês. Revista NERA, v. 11, p. 57-67, 2008.
MARTINS, J. de S. Os camponeses e a política no Brasil. 2ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1983. 185 p.
SHANIN, T. A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e o novo em uma discussão marxista. Revista NERA. Presidente Prudente; NERA, Ano 8, n. 7 pp. 1-21 Jul./Dez. 2005
_______. "El campesinato como factor politico". In: ___. Campesinos y sociedades campesinas. México: Fondo de Cultura Economica, 1979.
VIA CAMPESINA. Declaración de los Derechos de las Campesinas e Campesinos. 2009. Disponível em < www.viacampesina.org>. Acesso em jan. 2012.