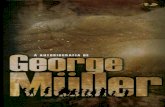autobiografia o mundo de ontem stefan zweig
-
Upload
sol-basilio -
Category
Documents
-
view
79 -
download
5
description
Transcript of autobiografia o mundo de ontem stefan zweig
-
Stefan Zweig
Autobiografia: o mundo de ontemMemrias de um europeu
Traduo:Kristina Michahelles
Prefcio e posfcio:Alberto Dines
-
Sumrio
Prefcio: Stefan Zweig por ele mesmo, por Alberto Dines
Prlogo
O mundo da segurana
A escola no sculo passado
Eros matutinus
Universitas vitae
Paris, cidade da eterna juventude
Desvios no caminho em busca de mim mesmo
Para alm da Europa
Brilho e sombra sobre a Europa
As primeiras horas da guerra de 1914
A luta pela fraternidade espiritual
No corao da Europa
Retorno ustria
Novamente no mundo
Ocaso
Incipit Hitler
A agonia da paz
-
Posfcio: A biografia que se intromete na autobiografia, por Alberto Dines
ndice onomstico
-
Urge enfrentar o tempo como ele nos procura.SHAKESPEARE, Cimbelino1
1 Shakespeare, Cimbelino, Ato IV, Cena III; traduo de Carlos Alberto Nunes.
-
PrefcioStefan Zweig por ele mesmo
ALBERTO DINES
QUASE PODEMOS ouvi-lo, to perto ficou. Os ltimos biografados foram selecionados para falar emseu nome, como ventrloquos. Evitava a veemncia para no confrontar os leitores, preferia envolv-los suavemente, convenc-los atravs de coadjuvantes apropriados. Agora, com suas prpriaspalavras, a prosa cativante e a mansa entonao, aqui est ele. Sem mediaes.
Estas memrias podem esclarecer alguns mistrios que ainda o cercam mais de sete dcadasdepois de morto ou torn-los ainda mais densos, talvez at impenetrveis. Terminou de escrev-laspouco antes de tomar a dose letal de morfina no pequeno bangal da rua Gonalves Dias, Petrpolis.Isto se evidencia ao examinarmos as ltimas linhas do prlogo que, como todos os intritos eprlogos, autores s decidem enfrentar depois de colocar o ponto final.
Dirigindo-se s lembranas que preservou pede que falem por ele e reflitam fielmente a sua vidaantes que ela submerja nas trevas. Tinha a certeza de que as trevas eram iminentes, roteiro edesenlace j definidos, faltava apenas o pretexto.
a sua obra capital, magnum opus, e, no entanto, no um retrato de corpo inteiro, muito menosum close-up. O cinfilo frustrado pretendia ser o narrador de um filme, ou de uma sucesso dediapositivos, ento o dernier cri em matria de tecnologia. Despojado de qualquer estrelismo, avisaque no mostrar selfies nem ser o protagonista: este papel cabe sua gerao e s pontes quepercorreu antes de serem detonadas. Contenta-se em exibir com indita candura os seus pontoscardinais austraco, judeu, escritor, humanista e pacifista. No repara que neles esto embutidosalguns de seus impasses.
A esses crculos concntricos acresce a condio de europeu que faz questo de destacar nosubttulo. Adota a nobre supranacionalidade no exato momento em que o Velho Mundo varrido pelotsunami do rancor nacionalista. Duas dcadas depois do fim da Grande Guerra de 1914-18, assume-se novamente como marginal, distanciado da exaltao dos pertencimentos.
No um exilado, mas o utopista-peregrino enxotado pela mesma pergunta: wohin, para onde?Condenado a excluir-se dos paradigmas de normalidade e do sistema de beligerncias vigentenaqueles dias de clera, pressente que sua esfera de atuao ser mnima. E essa percepo doinexorvel desamparo transforma este relato no mais pattico que escreveu, porque o narrador, quese esgueira nas sombras invisvel e elusivo, est condenado a sumir.
Zweig entendeu-se, assim como entendeu plenamente seus biografados. Sutil Menschenkenner,conhecedor do gnero humano, no poderia equivocar-se ao descrever um espcime com o qualconvive h exatas seis dcadas. O mrito aqui no do bigrafo, mas do atilado dramaturgo capaz dearmar uma elaborada partida de xadrez sabendo que no haver ganhador. Essa prescincia diziasempre era a sua perdio. A poeta argentina Alfonsina Storni descreveu-o de forma inspirada:
-
Dai-lhe a sombra de uma folha, ele ver o bosque. E tambm o deserto que vir em seguida.O ontem do ttulo tem a finalidade de lembrar transies, passagem, virada de pgina, avano e
retrocesso. No se iludia, tinha noo precisa da tragdia da qual era personagem. S no dispunhada pacincia necessria para conviver com o seu desenrolar. Na ltima linha da despedida pblica, afamosa Declarao, ele o reconhece. Na fico, ao invs de armar desfechos, preferia-os jacontecidos e consumados, narrados em flashback por algum perspicaz e sofrido. Como agora nestahistria real.
O amigo Hermann Broch previra a dbcle da Belle poque e do entorpecido Imprio Austro-Hngaro no ensaio Die frhliche Apokalypse, o alegre Apocalipse. Zweig flagrou os efeitos dacatstrofe antes mesmo de completada. Surpreendeu a ampulheta na hora em que virava para iniciar onovo curso.
Em abril de 1940, dois meses antes do colapso da Frana, na derradeira apario em Paris, falousobre A Viena de ontem, 2 espcie de trailer das memrias que j ruminava: a ustria jazia recm-anexada pelo III Reich e a refinada ex-capital cultural da Europa, centro de um impriomultinacional, convertia-se em simples metrpole provincial de uma Alemanha brutalizada.
Como historiador sabia que mudanas so inevitveis, indomveis, irreversveis; a angstia queo dominava vinha da velocidade e da crueldade com que elas se processavam. Aos simplistas orelato pode parecer rseo, a cor da saudade (ou lils, a cor da tinta da sua caneta); os apressadostentam enquadr-lo como nostlgico. No entendem de advertncias.
O seu atual revival, verdadeira zweigmania global, no chega ser um deleite ou reabilitao: um culto algo mundano, deletrio, mais nefasto que o esquecimento. Ao recortar e reduzir Zweig apersonagem de uma de suas novelas, despoja-se o autor do seu luto e de alguns atributos essenciais.
Estas memrias podem devolv-los.
2 Disponvel em O mundo insone. Rio de Janeiro, Zahar, 2013.
-
Prlogo
NUNCA ATRIBU TANTA importncia a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros ashistrias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costumaocorrer numa nica gerao em termos de eventos, catstrofes e provaes, para que eu encontrasse acoragem para comear um livro cujo protagonista ou melhor, centro sou eu mesmo. Nada maisdistante de mim do que me colocar em primeiro lugar, salvo como um palestrante que faz umaapresentao com dispositivos; o tempo fornece as imagens, eu me encarrego das palavras, e nemser tanto a minha trajetria que pretendo contar, e sim a de uma gerao inteira nossa geraonica, carregada de vicissitudes como poucas outras no curso da histria. Cada um de ns, mesmo omenor e o mais insignificante, foi revolvido no seu ntimo pelos abalos ssmicos quase ininterruptosde nossa terra europeia; e eu, entre inmeros tantos, no consigo me atribuir outra primazia seno ade que, como austraco, como judeu, como escritor, como humanista e pacifista, sempre estivejustamente nos lugares onde esses abalos foram mais violentos. Trs vezes eles destruram minhacasa e minha vida, arrancando-me de tudo o que existiu antes, de todo o passado, e me arremessandocom sua veemncia dramtica para o vazio, para o no sei para onde ir, que eu j conhecia. Masno lamentei, pois justamente o aptrida que se torna livre em um novo sentido, e s quem no estmais preso a nada pode se dar ao luxo de no ter que levar mais nada em considerao. Por isso,espero cumprir pelo menos uma das principais condies de qualquer descrio adequada dacontemporaneidade: sinceridade e imparcialidade.
Desprendido de todas as razes e do solo que as alimenta: assim que estou de fato, como rarasvezes algum esteve ao longo dos tempos. Nasci em 1881 em um grande e poderoso imprio, amonarquia dos Habsburgo. No a procurem, porm, no mapa: ela foi extinta, sem deixar vestgio.Cresci em Viena, a metrpole supranacional de dois mil anos, e tive de deix-la como um criminoso,antes de ser rebaixada a uma cidade provincial alem. O meu trabalho literrio foi incinerado nalngua em que o escrevi, no mesmo pas onde meus livros ganharam como amigos milhes deleitores. Assim, no perteno a lugar algum, em toda parte sou estrangeiro ou, na melhor dashipteses, hspede; a prpria ptria que o meu corao elegeu para si, a Europa, perdeu-se paramim, desde que se autodilacera pela segunda vez numa guerra fratricida. Contra a minha vontade eume tornei testemunha da mais terrvel derrota da razo e do mais selvagem triunfo da brutalidadedentro da crnica dos tempos; nunca eu no registro isso de maneira alguma com orgulho, mas simcom vergonha uma gerao sofreu tamanho retrocesso moral, vindo de uma tal altura intelectualcomo a nossa. No pequeno intervalo desde que meus primeiros fios de barba cresceram atcomearem a ficar grisalhos, nesse meio sculo aconteceram mais transformaes e mudanasradicais do que normalmente em dez geraes, e cada um de ns o sente: aconteceu demais! Todiferente meu hoje de qualquer dos meus ontens, minhas ascenses e minhas quedas, que s vezesme parece que vivi no uma nica existncia, mas vrias, inteiramente diferentes entre si. Pois muitasvezes, quando digo, desatento, minha vida, sem querer me questiono: Qual vida? A de antes da
-
Guerra Mundial, a de antes da Primeira, a de antes da Segunda ou a vida de hoje? Ou ento me pegodizendo minha casa, sem saber a qual delas me refiro, de Bath ou de Salzburgo ou casapaterna em Viena. Ou ento digo na minha terra e logo me assusto ao lembrar que, para as pessoasda minha ptria, fao to pouco parte dela quanto para os ingleses ou os americanos l no estandomais organicamente ligado e jamais tendo sido inteiramente integrado aqui. O mundo em que cresci,o mundo de hoje e o mundo entre ambos cada vez mais evoluem para mundos completamentediferentes. Toda vez que conto episdios dos tempos anteriores Primeira Guerra em conversas comamigos mais jovens, percebo, pelas suas perguntas admiradas, o quanto de tudo aquilo que para mimcontinua sendo realidade bvia para eles j histrico ou ento inimaginvel. Um instinto secretodentro de mim lhes d razo: entre o nosso hoje, o nosso ontem e o nosso anteontem, todas as pontesse romperam. Eu prprio no posso deixar de me espantar com a multiplicidade, a diversidade quecomprimimos no curto espao de uma nica existncia naturalmente, muito incmoda e ameaada ,em especial quando comparada com a forma de vida de meus antepassados. Meu pai, meu av, o queviram eles? Cada um deles viveu a sua vida na uniformidade. Uma s vida, do incio ao fim, semascenses, sem quedas, sem abalos e sem perigos, uma vida com pequenas tenses, transiesimperceptveis; no mesmo ritmo, tranquila e silenciosamente, a onda do tempo carregou-os do beroao tmulo. Viveram no mesmo pas, na mesma cidade e quase sempre tambm na mesma casa; osacontecimentos do mundo de fora praticamente s se davam nos jornais e no batiam sua porta.Uma ou outra guerra pode ter acontecido naqueles dias, mas no passava de uma guerrinha emcomparao com as dimenses atuais, e se desenrolava longe, na fronteira, no se ouvia o troar doscanhes, e depois de meio ano ela j havia acabado e estava esquecida, pgina ressequida dahistria, enquanto se retomava a mesma velha rotina. Ns, porm, vivemos tudo sem retorno, nadarestou do passado, nada voltou; foi-nos dado participar ao mximo de tudo o que a histrianormalmente distribui com parcimnia por um nico pas, por um sculo apenas. Uma gerao,quando muito, tomou parte numa revoluo, a outra num golpe de Estado, a terceira numa guerra, aquarta numa crise de fome, a quinta na bancarrota de um pas e alguns pases abenoados, algumasgeraes abenoadas passaram ao largo de tudo isso. Mas ns, que hoje temos sessenta anos, e dejure ainda teramos um tempo de vida frente: o que ns no vimos, no sofremos, noexperimentamos com agruras? Percorremos do incio ao fim o catlogo de todas as catstrofesimaginveis (e ainda no chegamos ltima pgina). Eu prprio fui contemporneo das duas maioresguerras da humanidade e vivi cada uma delas de um lado a primeira no front alemo, a outra nofront antigermnico. Na poca anterior guerra, conheci a liberdade individual em seu grau e formamais elevados, e, depois, em seu nvel mais baixo em muitos sculos. Fui festejado e desprezado,livre e subjugado, rico e pobre. Minha vida foi invadida por todos os plidos cavalos doApocalipse, revoluo e fome, inflao e terror, epidemias e emigrao. Sob os meus olhos, vi asgrandes ideologias de massa crescendo e se disseminando, o fascismo na Itlia, o nacional-socialismo na Alemanha, o bolchevismo na Rssia e, sobretudo, a pior de todas as pestes, onacionalismo, que envenenou o florescimento da nossa civilizao europeia. Fui obrigado a sertestemunha indefesa e impotente do inimaginvel retrocesso da humanidade para uma barbrie que hmuito julgvamos esquecida, com seu dogma consciente e programtico do anti-humanitarismo.Depois de muitos sculos, estava reservado a ns voltar a ver guerras sem declarao de guerra,campos de concentrao, torturas, pilhagens em massa e bombardeios de cidades indefesas,bestialidades que as ltimas cinquenta geraes j no conheceram mais e as prximas, espero, notero de suportar. Mas, paradoxalmente, na mesma poca em que o nosso mundo retrocedia ummilnio no aspecto moral, vi a mesma humanidade elevar-se a feitos nunca antes imaginados no
-
campo da tcnica e do intelecto, ultrapassando em um piscar de olhos tudo o que foi produzido emmilhes de anos: a conquista do ter pelo avio, a transmisso da palavra humana no mesmo segundoatravs do globo terrestre e com isso o triunfo sobre o espao, a fisso do tomo, a vitria sobre asdoenas mais traioeiras, possibilitando quase diariamente o que ainda ontem era impossvel. Nunca,at a presente hora, a humanidade como um todo se comportou de maneira mais diablica, e nuncaproduziu de forma to divina.
Para mim, um dever registrar essa nossa vida tensa, dramaticamente repleta de surpresas, pois repito cada um de ns foi testemunha dessas enormes transformaes, cada um de ns foi foradoa testemunh-las. Para nossa gerao, no havia como escapar ou permanecer margem, como outrasfizeram; graas nossa nova organizao da simultaneidade, estvamos sempre integrados poca.Quando as bombas destroaram as casas em Xangai, na Europa o soubemos em nossas salas antesque os feridos fossem retirados de suas casas. Fomos assaltados pelas imagens daquilo que aconteciaem alm-mar, a milhares de milhas de distncia. No havia proteo, nenhuma proteo contra apermanente comunicao e integrao aos fatos. No havia pas onde pudssemos nos refugiar,nenhuma tranquilidade que pudesse ser comprada, sempre e por toda parte a mo do destino nosagarrava e nos puxava de volta para o seu jogo insacivel.
Constantemente, foi preciso que nos submetssemos a exigncias do Estado, que servssemos depresa para as polticas mais estpidas, que nos adequssemos s mais fantsticas transformaes;sempre estivemos acorrentados coletividade, por mais que nos defendssemos tenazmente fomosarrastados, sem conseguir resistir. Quem quer que tenha atravessado esse tempo, ou melhor, tenhasido perseguido e acossado atravs dele pois no tivemos muitas pausas para respirar , vivencioumais histria do que qualquer de seus antepassados. Hoje, mais uma vez, estamos em um momento detransio, um trmino e um incio. Por isso, decerto intencionalmente que interromperei esseretrospecto da minha vida em uma data determinada. Pois aquele dia em setembro de 1939 marca oponto final definitivo da poca que forjou e formou a ns, sexagenrios. Mas se, com nossotestemunho, pudermos transmitir prxima gerao um s fragmento de verdade de sua estruturadecadente, no teremos agido em vo.
Estou ciente das circunstncias desfavorveis, porm extremamente caractersticas da nossapoca, nas quais procuro organizar essas minhas recordaes. Escrevo-as em meio guerra,escrevo-as no estrangeiro e sem o menor auxlio para a minha memria. Em meu quarto de hotel, notenho mo nenhum exemplar dos meus livros, nada de notas ou cartas dos amigos. Em partenenhuma posso buscar informaes, pois no mundo inteiro a troca de correspondncia entre um pas eoutro est interrompida ou censurada. Assim, cada um vive to isolado como h sculos, antes dainveno dos navios a vapor, dos trens, dos avies e dos correios. De todo o meu passado, portanto,s tenho comigo o que carrego atrs da testa. Todo o resto, neste momento, est inacessvel ou seperdeu para mim. Mas a nossa gerao aprendeu a fundo a boa arte de no lamentar o passado, e,quem sabe, a perda de documentos e detalhes possa vir a significar um ganho para este meu livro.Pois eu considero nossa memria um elemento que no conserva casualmente um ou perde outro,mas sim uma fora que ordena cientemente e exclui com sabedoria. Tudo o que esquecemos denossas prprias vidas, na verdade, j foi sentenciado a ser esquecido h muito tempo por um instintointerior. S aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Portanto,recordaes, falem e escolham no meu lugar, e forneam ao menos um reflexo da minha vida antesque ela submerja nas trevas!
-
O mundo da segurana
Still und eng und ruhig auferzogen,Wirft man uns auf einmal in die Welt;Uns umsplen hunderttausend Wogen,Alles reizt uns, mancherlei gefllt,Mancherlei verdriesst uns, und von Stund zu StundenSchwankt das leicht unruhige Gefhl;Wir empfinden, und was wir empfunden,Splt hinweg das bunte Weltgewhl.3
GOETHE
AO TENTAR ENCONTRAR uma definio prtica para o tempo antes da Primeira Guerra Mundial, noqual me criei, espero acertar dizendo: foi a poca urea da segurana. Tudo na nossa monarquiaaustraca quase milenar parecia estar fundamentado na perenidade, e o prprio Estado parecia ser oavalista supremo dessa estabilidade. Os direitos que concedia aos seus cidados eram asseguradospor escrito pelo Parlamento, a representao livremente eleita pelo povo, e cada dever eradelimitado com preciso. Nossa moeda, a coroa austraca, circulava na forma de brilhantes peas deouro, avalizando, assim, a sua imutabilidade. Cada um sabia quanto possua ou a quanto tinha direito,o que era permitido ou proibido. Tudo tinha sua norma, tinha medida e peso bem determinados.Quem possusse uma fortuna podia calcular exatamente quanto receberia por ano na forma de juros; ofuncionrio e o oficial, por sua vez, podiam confiar que encontrariam no calendrio o ano em queseriam promovidos e aposentados. Cada famlia tinha o seu oramento fixo, sabia de quantoprecisaria para morar e para comer, para viajar no vero e para sua vida social. Alm disso,invariavelmente uma pequena quantia era reservada para imprevistos, para doenas e para o mdico.Quem possua uma casa considerava-a um porto seguro para filhos e netos. A casa e o negciopassavam de uma gerao para a prxima; enquanto o lactente ainda estava no bero, j sedepositava uma primeira contribuio para sua vida num cofrinho ou no banco uma pequenareserva para o futuro. Nesse vasto reino, tudo era firme e imutvel, e no posto mais elevado estavao velho imperador; mas, caso ele morresse, sabia-se (ou acreditava-se) que outro viria e que nadamudaria na ordem bem-calculada. Ningum acreditava em guerras, revolues ou quedas. Tudo o queera radical e violento j parecia impossvel numa era da razo.
Esse sentimento de segurana era o bem mais almejado por milhes de indivduos, era o idealcomum de vida. S com essa segurana parecia valer a pena viver, e crculos cada vez maioresrequisitavam a sua parte nesse valioso patrimnio. Inicialmente, s os afortunados se regozijavam
-
com essa vantagem, mas aos poucos as grandes massas comearam a pressionar; o sculo dasegurana se tornou a poca de ouro para o ramo dos seguros. A casa era assegurada contra incndioe arrombamento, a lavoura contra geadas e intempries, o corpo contra acidentes e doenas,compravam-se penses vitalcias pensando na velhice e j no bero as meninas ganhavam umaaplice para o futuro dote. Finalmente, at os trabalhadores se organizaram, conquistaram um salrionormatizado e seguro-sade, empregados domsticos passaram a contribuir com uma penso privadae pagavam antecipadamente um seguro para seu prprio enterro. S quem podia encarar o futuro sempreocupaes gozava o presente com bons sentimentos.
Apesar de toda a solidez e modstia da concepo de vida, nessa comovente confiana de podercerc-la contra qualquer invaso do destino residia uma grande e perigosa arrogncia. Em seuidealismo liberal, o sculo XIX estava sinceramente convencido de que trilhava o caminho mais retoe infalvel rumo ao melhor dos mundos. Olhava-se com desdm para as pocas pregressas, comsuas guerras, fomes e revoltas, como um tempo em que a humanidade ainda estava na menoridade eera insuficientemente esclarecida. Agora, porm, seria apenas uma questo de poucas dcadas atsuperar os ltimos resqucios do mal e da violncia, e essa f no progresso ininterrupto eirrefrevel tinha, para aquela poca, a fora de uma verdadeira religio; j se acreditava mais nesseprogresso do que na Bblia, e seu evangelho parecia estar sendo evidenciado de maneira incontestepelos milagres diariamente renovados da cincia e da tcnica. De fato, no final desse sculopacfico, uma ascenso generalizada tornava-se cada vez mais visvel, rpida e diversificada. Nasruas, noite brilhavam lmpadas eltricas no lugar da luz baa dos lampies. As lojas das avenidasprincipais levavam o seu brilho sedutor at as periferias. Graas ao telefone, o homem j podiaconversar com outro homem distncia, j avanava a novas velocidades no carro sem cavalos, jpodia alar voos aos ares, realizando o sonho de caro. O conforto se estendia das casas elegantespara os lares burgueses, j no era mais preciso ir buscar gua no poo ou na torneira do corredor ouacender trabalhosamente o fogo, a higiene se disseminava, a sujeira desaparecia. As pessoas setornavam mais bonitas, mais fortes, mais saudveis porque o esporte forjava os seus corpos, nas ruasviam-se cada vez menos aleijados, pessoas com bcio ou mutiladas, e todos esses milagres haviamsido operados pela cincia, arcanjo do progresso. Tambm havia avanos no campo social; a cadaano, novos direitos passavam a ser concedidos aos indivduos, a Justia era manejada de maneiramais amena e mais humana, e at o maior de todos os problemas, a pobreza das grandes massas, noparecia mais insupervel. Grupos cada vez mais amplos ganhavam o direito de votar e, com isso, apossibilidade de defender legalmente seus interesses; socilogos e professores concorriam paratornar a vida do proletariado mais sadia e at mais feliz no admira, portanto, que aquele sculo secomprazesse com suas prprias realizaes e que cada dcada terminada fosse percebida comodegrau para uma dcada melhor. Acreditava-se to pouco em retrocessos brbaros, como guerrasentre os povos da Europa, quanto em bruxas ou fantasmas. Nossos pais estavam obstinadamenteimbudos da confiana na infalvel fora aglutinadora da tolerncia e da conciliao. Imaginavamgenuinamente que as fronteiras divergentes entre naes e credos religiosos se dissolveriamgradualmente em prol do humanitarismo, beneficiando, com isso, a humanidade inteira com paz esegurana, os mais elevados de todos os bens.
Para ns hoje, que h muito j riscamos a palavra segurana do nosso vocabulrio, fcilsorrir da iluso otimista daquela gerao ofuscada pelo idealismo de que o progresso tcnico dahumanidade forosamente traria consigo uma ascenso tambm rpida em termos morais. Ns, que nonovo sculo aprendemos a no nos surpreender mais com nenhuma ecloso de bestialidade coletiva,ns, que de cada dia esperamos ainda mais perversidade que do anterior, somos bem mais cticos em
-
relao a uma educabilidade moral do gnero humano. Tivemos que dar razo a Freud, que viu nanossa cultura, na nossa civilizao, apenas uma fina camada que a cada momento pode ser perfuradapelas foras destrutivas do submundo. Aos poucos, fomos obrigados a nos acostumar a viver semcho sob nossos ps, sem direitos, sem liberdade, sem segurana. H muito j renunciamos religiodos nossos pais, sua crena numa ascenso rpida e constante da humanidade. A ns, que ganhamosexperincia com a crueldade, aquele otimismo aodado parece banal ante uma catstrofe que nos fezretroceder mil anos de um s golpe em nossos esforos humanos. No entanto, ainda que tenha sidoapenas uma iluso qual serviam os nossos pais, foi uma iluso maravilhosa e nobre, mais humana efrtil do que as atuais palavras de ordem. E, misteriosamente, algo dentro de mim no consegue selibertar daquilo, apesar de todo o conhecimento e de toda a decepo. Aquilo que uma pessoa,durante sua infncia, absorveu da atmosfera da sua poca no pode ser simplesmente descartado. E,apesar de tudo o que cada dia me faz ressoar nos ouvidos, apesar de tudo o que eu e incontveiscompanheiros de destino experimentamos em termos de humilhao e provas, no posso renegartotalmente a f da minha juventude de que algum dia as coisas havero de melhorar, apesar de tudo ede todos. Mesmo a partir do precipcio do terror pelo qual tateamos hoje semicegos, com a almaconturbada e destruda, sempre volto a erguer os olhos para aquelas velhas constelaes quebrilhavam sobre a minha infncia e me consolo com a f herdada de que este retrocesso um diaparecer ser apenas um intervalo no eterno ritmo do sempre em frente.
Hoje, depois que ele foi destrudo h muito pela grande intemprie, sabemos que aquele mundode segurana no passava de um castelo de sonhos. Mas os meus pais ainda o habitavam como sefosse uma slida casa de pedras. Nem uma nica vez uma tempestade ou uma rajada de ventoassaltou a sua existncia clida e confortvel. verdade que eles ainda contavam com uma proteoespecial: eram pessoas abastadas, que haviam enriquecido pouco a pouco, chegando a uma grandefortuna, e isso, naqueles tempos, garantia-lhes um conforto especial. Seu estilo de vida me parece totpico para a chamada boa burguesia judaica a qual forneceu valores to essenciais para acultura vienense e em agradecimento foi totalmente exterminada , que eu, na verdade, conto algoimpessoal ao relatar sua existncia confortvel e quieta. Como os meus pais, viviam em Viena cercade dez ou vinte mil famlias naquele sculo dos valores garantidos.
A FAMLIA DO MEU PAI era da Morvia. Ali, nas pequenas localidades rurais, as comunidadesjudaicas viviam na melhor harmonia com os camponeses e a pequena-burguesia; portanto, no tinhamnem a melancolia nem, por outro lado, a impacincia sfrega dos judeus da Galcia, os judeusorientais. Fortes e vigorosos graas vida no campo, trilhavam o seu caminho seguros e tranquilos,como os camponeses de sua ptria o faziam em suas lavouras. Tendo-se emancipado cedo daortodoxia religiosa, eram seguidores fervorosos da religio da poca, o progresso, e, na erapoltica do liberalismo, forneciam ao Parlamento os deputados mais respeitados. Quando semudavam de sua regio para Viena, adaptavam-se com surpreendente rapidez esfera cultural maiselevada, e sua ascenso pessoal estava organicamente ligada ao florescimento geral da poca. Anossa famlia tambm foi bastante tpica no tocante a essa forma de transio. Meu av paternocomercializava mercadorias manufaturadas. Na segunda metade do sculo teve incio aindustrializao na ustria. A racionalizao que adveio com os teares mecnicos e as mquinas defiao importados da Inglaterra gerou um enorme barateamento em comparao com os antigosprodutos tecidos mo, e com a sua perspiccia comercial e sua viso internacional foram os
-
negociantes judeus os primeiros a identificar na ustria a necessidade e a vantagem da transio parauma produo industrial. Fundaram quase sempre com pouco capital aquelas fbricasrapidamente improvisadas, no incio movidas apenas pela fora hidrulica, que aos poucos seampliaram para formar a poderosa indstria txtil bomia, dominante em toda a ustria e os Blcs.Enquanto meu av, portanto, tpico representante da poca antiga, servira apenas intermediao deprodutos manufaturados, meu pai j aos 33 anos passou resolutamente para a nova era, ao fundar naBomia do Norte uma pequena tecelagem, que ele ao longo dos anos expandiu lenta e prudentementeat que se tornasse um importante empreendimento.
Essa cautelosa ampliao, apesar da conjuntura sedutoramente vantajosa, combinava bem com oesprito da poca. Alm disso, correspondia sobretudo natureza reservada e nada ambiciosa domeu pai. Ele absorvera o credo de sua poca, safety first, a segurana em primeiro lugar; para ele,era mais essencial possuir um empreendimento slido outra expresso predileta da poca comcapital prprio do que expandi-lo demais com ajuda de crditos bancrios ou hipotecas. Que nunca,em toda a sua vida, algum tivesse visto o seu nome em um ttulo de dvida ou em uma promissria,que ele sempre tivesse constado na coluna haver do seu banco naturalmente, o mais slido detodos, o banco dos Rothschild, o Kreditanstalt , foi o nico orgulho da sua vida. Tinha averso aqualquer lucro que carregasse a menor sombra de risco, e durante todos aqueles anos jamaisparticipou de um negcio alheio. Se, mesmo assim, tornou-se gradualmente rico, e cada vez mais, noo deveu a nenhuma especulao ousada ou a qualquer operao premeditada, mas sim ao fato de seadaptar ao mtodo geral daquele tempo cauteloso, consumindo s uma parte modesta de sua receita e,portanto, adicionando a cada ano que passava uma quantia cada vez maior ao capital. Como quasetoda a sua gerao, meu pai j consideraria um perigoso esbanjador o indivduo que consumissedespreocupadamente metade de sua renda sem pensar no futuro outra expresso recorrentenaquela poca da segurana. Com essa constante economia dos lucros, naquela poca de crescenteprosperidade em que, alm disso, o Estado nem sequer pensava em subtrair mais do que algunsporcentos em impostos, mesmo das maiores rendas, e em que, por outro lado, os ttulos do governo eda indstria rendiam juros elevados o enriquecimento, para o abastado, na verdade era apenas umarealizao passiva. E valia a pena: o poupador ainda no era roubado, como nos tempos de inflao,o empresrio slido no era enganado, e eram os mais pacientes, aqueles que no especulavam, queobtinham os melhores lucros. Graas a essa adaptao ao sistema geral, j aos cinquenta anos o meupai era tido como homem muito rico, mesmo segundo parmetros internacionais. Mas o estilo de vidada nossa famlia s acompanhou muito lentamente o aumento cada vez mais rpido da sua fortuna.Pouco a pouco, fomos adquirindo pequenos confortos, mudamo-nos de um apartamento pequeno paraum maior, na primavera alugvamos um carro para passeios tarde, viajvamos na segunda classecom leito, mas s aos cinquenta anos o meu pai se permitiu pela primeira vez o luxo de passar umms inteiro do inverno em Nice com a minha me. De maneira geral, manteve-se totalmenteinalterada a atitude de aproveitar a fortuna possuindo-a, e no ostentando-a. Mesmo j milionrio,meu pai nunca fumou um charuto importado, mas sim como o imperador Francisco Jos e seusVirginia baratos o Trabuco simples, e, quando jogava cartas, costumava apostar pouco. Inflexvel,agarrava-se sua discrio, sua vida cmoda, porm discreta. Embora fizesse muito melhor figurae fosse muito mais culto do que a maior parte dos seus colegas tocava muito bem o piano, escreviabem e de maneira clara, falava francs e ingls , ele recusou todo tipo de honraria e cargoshonorficos, em toda a sua vida jamais almejou ou aceitou qualquer ttulo ou cargo, como tantas vezeslhe foi oferecido em sua posio de grande industrial. Jamais ter pedido nada a algum, jamais terdependido de favores ou ter devido agradecimentos: esse orgulho secreto, para ele, significava mais
-
do que qualquer exterioridade.Acontece que, na vida de qualquer pessoa, invariavelmente chega o momento em que ela
reencontra o pai na imagem do prprio ser. Aquela tendncia caracterstica privacidade, aoanonimato da vida, comea a crescer em mim com mais fora a cada ano que passa, por mais que secontraponha, na verdade, minha profisso, que por assim dizer torna obrigatoriamente pblicos onome e a pessoa. Mas, pelo mesmo orgulho secreto, sempre recusei qualquer forma de honrariaexterna, nunca aceitei condecoraes, ttulos, presidncias de qualquer associao, jamais pertenci aqualquer academia, diretoria ou jri; s estar sentado a uma mesa festiva j , para mim, uma tortura,e a mera ideia de pedir um favor a algum mesmo que seja para terceiros deixa-me com os lbiossecos antes mesmo de proferir a primeira palavra. Sei o quanto tais inibies so imprprias em ummundo em que s se pode permanecer livre mediante a astcia e a fuga e em que, como dissesabiamente o pai Goethe, na hora do tumulto, condecoraes e ttulos amortecem muitos golpes.Mas o meu pai dentro de mim com seu orgulho secreto que me retm, e no posso me opor a ele,pois devo-lhe o que considero ser talvez minha nica posse segura: o sentimento de liberdadeinterior.
MINHA ME, cujo sobrenome era Brettauer, tinha outra origem, internacional. Nasceu em Ancona, nosul da Itlia, e o italiano era a lngua da sua infncia, tanto quanto o alemo; falava italiano toda vezque conversava com minha av ou sua irm alguma coisa que os empregados no deveriam entender.Jovem, eu j conhecia pratos como risoto e alcachofras, ainda raras na poca, e outrasespecialidades da cozinha meridional, e toda vez que visitava a Itlia sentia-me em casa desde oprimeiro momento. No entanto, a famlia da minha me no era de forma alguma italiana, mas seconsiderava internacional; os Brettauer, que originalmente possuam um estabelecimento bancrio,cedo saram de Hohenems, lugarejo na fronteira sua, e se espalharam pelo mundo seguindo omodelo das grandes famlias de banqueiros judeus, mas em dimenses bem mais diminutas, claro.Uns foram para Sankt Gallen, outros para Viena e Paris, meu av foi para a Itlia, um tio para NovaYork, e nesse contato internacional adquiriram mais traquejo social, uma viso de mundo mais amplae, alm disso, uma certa presuno familiar. Naquela famlia j no havia mais pequenoscomerciantes e corretores, apenas banqueiros, diretores, professores, advogados e mdicos. Cada umfalava vrias lnguas, e eu me lembro da naturalidade com que se transitava de uma lngua para outra mesa da minha tia em Paris. Era uma famlia que prezava cuidadosamente o seu nome, e quandouma jovem parente mais pobre chegava idade de se casar, toda a famlia contribua para ummagnfico dote, apenas para evitar que ela se casasse com algum que no estivesse altura. Comogrande industrial, meu pai era respeitado, mas minha me, embora unida a ele pelo mais felizcasamento, jamais teria tolerado que seus parentes se equiparassem aos dela. Esse orgulho de ser deuma boa famlia era inextinguvel em cada Brettauer, e quando, anos mais tarde, algum deles queriame testemunhar sua especial benevolncia, dizia, condescendente: Voc um verdadeiro Brettauer,como se quisesse dizer: puxou ao lado certo.
Esse tipo de ar de nobreza, que algumas famlias judias adotavam com uma certa onipotncia, jna infncia divertia e irritava a mim e a meu irmo. Sempre escutvamos dizer que este ou aquele erafino ou no, de cada amigo se procurava saber se era de boa famlia, investigando-se a origemdos parentes at o ltimo membro, e tambm da fortuna. Essa permanente classificao, que formava,por assim dizer, o tema principal de qualquer conversao social ou em famlia, j ento nos parecia
-
altamente ridcula e esnobe, pois, afinal das contas, em todas as famlias judias tratava-se dediferenas de apenas cinquenta ou cem anos desde que saram do mesmo gueto. S muito mais tardecompreendi que esse conceito de boa famlia, que a ns meninos parecia uma farsa parodstica deuma pseudoaristocracia artificial, expressava uma das tendncias mais interiorizadas e misteriosasda natureza judaica. De maneira geral, supe-se que enriquecer seja o verdadeiro e tpico objetivode vida de um judeu. Nada mais falso. Enriquecer, para ele, significa apenas um degrauintermedirio, um meio para o verdadeiro fim, e nunca o objetivo interior. A verdadeira aspirao dojudeu, o seu ideal imanente, a ascenso intelectual para uma camada cultural mais elevada. J nojudasmo oriental ortodoxo, em que tanto as fraquezas quanto os mritos de toda a raa se desenhamcom mais intensidade, essa supremacia da aspirao intelectual em contraposio aspiraomeramente material encontra expresso plstica: dentro da comunidade, o crente, o erudito da Bblia,vale mil vezes mais do que o rico; mesmo o mais abastado preferir dar sua filha como esposa a umintelectual miservel do que a um comerciante. Entre os judeus, essa supremacia do intelectoperpassa de maneira uniforme todas as camadas sociais; mesmo o vendedor ambulante mais pobre,que carrega seus pacotes debaixo de vento e de chuva, no poupar sacrifcios para tentar fazer comque ao menos um filho consiga estudar, e a famlia inteira considera uma honraria ter entre os seusalgum que se notabilize no campo intelectual, um professor, um sbio, um msico, como se ele, comsuas realizaes, enobrecesse a todos. H algo dentro do judeu que busca inconscientemente escapara tudo o que duvidoso sob o aspecto moral, ao que h de desagradvel, mesquinho e imoral emtodo comrcio e em tudo que apenas negcio, com o intuito de se elevar para a esfera mais pura dointelecto, sem ligao pecuniria, como se falando em termos wagnerianos quisesse libertar a si etoda a sua raa da maldio do dinheiro. por isso que, no judasmo, a volpia por enriquecer quasesempre se esgota em duas ou trs geraes de uma famlia, e so precisamente as dinastias maispoderosas que encontram seus filhos sem vontade de assumir os bancos, as fbricas, os negciosorganizados e em atividade de seus pais. No foi por acaso que um lorde Rothschild se tornouornitlogo, um Warburg, historiador da arte, um Cassirer, filsofo, um Sassoon, poeta; todosobedecendo ao mesmo impulso inconsciente de se libertar daquilo que tornou o judasmo estreito, apura atividade fria de ganhar dinheiro, e talvez se expresse ali a secreta nostalgia de, atravs da fugapara o campo intelectual, sair da esfera judaica para se dissolver no que propriamente humano.Uma boa famlia, portanto, significa mais do que a pura dimenso social que ela, com esseconceito, atribui a si prpria. Significa um judasmo que, atravs da assimilao a outra cultura, depreferncia uma cultura universal, se libertou ou comea a se libertar de todos os defeitos e de todasas estreitezas e mesquinharias a que se viu obrigado pelo gueto. Esse refugiar-se no intelecto ter-setornado fatdico para o judasmo com um inchao desproporcional das profisses intelectuais , talcomo, anteriormente, a limitao ao campo material, sem dvida um dos eternos paradoxos da sinados judeus.
Em nenhuma outra cidade da Europa o anseio pela cultura foi to passional quanto em Viena.Precisamente porque, por vrios sculos, a monarquia e a ustria no tinham sido ambiciosas nocampo poltico e nem especialmente bem-sucedidas em suas aes militares, o orgulho nacional sevoltou com mais vigor para o desejo de dominar nas artes. H muito, provncias muito importantes evaliosas, italianas e alems, flamengas e valonas, haviam se separado do antigo Imprio dosHabsburgo que j dominara toda a Europa; a capital permanecera em seu antigo brilho, sede da corte,mantenedora de uma tradio milenar. Os romanos tinham assentado as primeiras pedras daquelacidade, como um castrum, um posto avanado para proteger a civilizao latina contra os brbaros, emais de mil anos depois o ataque dos otomanos contra o Ocidente se espatifara naquelas muralhas.
-
Os nibelungos ali estiveram, a imortal pliade da msica ali brilhou sobre o mundo Gluck, Haydn eMozart, Beethoven, Schubert, Brahms e Johann Strauss, para ali confluram todas as correntes dacultura europeia; na corte, na nobreza, no povo, o alemo estava unido pelo sangue ao eslavo, aohngaro, ao espanhol, ao italiano, ao francs, ao flamengo, e o verdadeiro gnio dessa cidade damsica consistiu em dissolver todos esses contrastes harmonicamente em algo novo e inslito: noaustraco, no vienense. Acolhedora e com especial vocao para a receptividade, a cidade atraiu asforas mais dspares, atenuando as tenses; era aprazvel viver ali, naquela atmosfera de conciliaoespiritual, e inconscientemente todo cidado daquela cidade era educado para ser supranacional,cosmopolita, cidado do mundo.
Essa arte da equiparao, das transies delicadas e musicais, j se manifestava no aspectoexterior da cidade. Tendo crescido com vagar atravs dos sculos, desenvolvendo-se organicamentea partir do centro, a cidade, com seus dois milhes de habitantes, era populosa o bastante paraproporcionar todo o luxo e toda a diversidade de uma metrpole, sem ser superdimensionada a pontode se separar da natureza, como Londres ou Nova York. As ltimas casas da cidade se refletiam napossante correnteza do Danbio ou olhavam ao longe por sobre a extensa plancie, ou ento sedissolviam em jardins e campos, ou subiam pelas suaves colinas verdejantes que eram os ltimosprolongamentos dos Alpes; era difcil dizer onde comeava a natureza ou a cidade, uma se dissolviana outra sem resistncia, sem protesto. Dentro da cidade, por outro lado, sentia-se que ela cresceracomo uma rvore, formando um anel seguido de outro; e em vez de ser cercado pelos antigosbaluartes, o cerne mais antigo era circundado pela Ringstrasse, com suas casas elegantes. Dentro, osvelhos palcios da corte e da nobreza contavam a histria inscrita em suas pedras; aqui, Beethoventocara na casa dos Lichnowsky; ali, Haydn fora hspede dos Esterhzy; ali, na velha universidade, Acriao de Haydn soara pela primeira vez; o palcio Hofburg vira passar geraes de imperadores,o castelo Schnbrunn recebera Napoleo, na catedral de So Estvo os prncipes aliados pelacristandade ajoelharam-se para dar graa pela salvao da invaso turca, a universidade viraincontveis luminares da cincia entre seus muros. Em meio a isso, orgulhosa e luxuosa, comfaiscantes avenidas e esplendorosas lojas, erguia-se a nova arquitetura. Nela, o antigo brigava topouco com o novo como a pedra trabalhada com a natureza intocada. Era maravilhoso viver nessacidade que, hospitaleira, recebia tudo o que era estrangeiro e se entregava com prazer; em suaatmosfera ligeira e alegre como a de Paris era mais natural desfrutar a vida. Sabe-se que Viena erauma cidade que gostava de deleitar-se, mas o que a cultura, seno a forma de obter da matriagrossa da vida com amor e arte o que h de mais fino, mais delicado, mais sutil? Apreciadoras daculinria, preocupadas com um bom vinho, uma cerveja forte e fresca, fartos pratos doces e tortas, aspessoas nessa cidade tambm eram exigentes em relao a prazeres mais sutis. Fazer msica, danar,fazer teatro, conversar, portar-se com bom gosto e educao, tudo isso era cultivado ali como umaarte especial. Assuntos militares, polticos, comerciais no eram o principal nem na vida de cada umnem na da coletividade. A primeira olhada de um vienense mediano no jornal matutino no buscavaos debates no Parlamento ou os acontecimentos da semana, mas o repertrio do teatro, que assumiauma relevncia na vida pblica difcil de ser entendida para pessoas de outras cidades. Pois para ovienense, para o austraco, o teatro imperial, o Burgtheater, era mais do que um mero palco em queatores encenavam peas de teatro: era o microcosmo que espelhava o macrocosmo, o reflexocolorido em que a sociedade se mirava, nico cortigiano genuno do bom gosto. No ator doBurgtheater, o espectador observava como deveria se trajar, como entrar em um recinto, comoconversar, que palavras um homem de bom gosto podia empregar e que outras devia evitar. Mais doque mero lugar de entretenimento em que atores representavam seus papis, o palco era um fio
-
condutor falado e plstico da boa educao, da pronncia correta, e a aura do respeito envolvia tudoo que se relacionasse, ainda que de longe, com o Hoftheater. O primeiro-ministro, o magnata maisrico podiam caminhar pelas ruas de Viena sem que algum se virasse para eles; mas um ator doHoftheater, uma cantora de pera eram reconhecidos por qualquer vendedora e qualquer cocheiro;orgulhosos, ns, ainda rapazes, contvamos uns aos outros que havamos visto na rua um deles, cujasfotografias e autgrafos colecionvamos. Esse culto quase religioso personalidade chegava a pontode se transferir para os circunstantes. O cabeleireiro de Adolf von Sonnenthal, o cocheiro de JosefKainz eram pessoas respeitadas, secretamente invejadas: jovens dndis tinham orgulho de ter omesmo alfaiate dos famosos atores. Cada efemride, cada enterro de um grande ator se tornava umacontecimento muito mais importante do que qualquer evento poltico. Ter suas peas levadas aopalco do Burgtheater era o sonho de todo escritor vienense, pois isso conferia uma espcie denobreza vitalcia e gerava uma srie de homenagens, como ingressos gratuitos para o resto da vida,convites para todas as festas oficiais; significava que o autor se tornara hspede de uma casaimperial, e eu ainda me lembro da maneira solene com que se deu a minha primeira incluso nessemundo. De manh, o diretor do Burgtheater me convocara para uma reunio em seu gabinete para mecomunicar depois de me felicitar que meu drama fora aceito pela casa; noite, quando chegueiem casa, encontrei seu carto de visita. Ele fora me render uma visita formal de cortesia a mim, quetinha 26 anos; pelo simples fato de uma obra minha ter sido aceita, eu, autor do palco imperial,tornara-me um gentleman que um diretor do instituto imperial precisava tratar de igual para igual. Oque se passava no teatro dizia respeito indiretamente a qualquer um, mesmo a quem no tivessenenhuma ligao direta com aquilo. Lembro, por exemplo, um episdio da minha juventude, quandocerta vez nossa cozinheira irrompeu na sala com os olhos marejados, pois acabara de saber quefalecera Charlotte Wolter, a atriz mais famosa do Burgtheater. O grotesco desse luto obviamenteconsistia em aquela velha cozinheira semianalfabeta nunca ter estado uma vez sequer no eleganteBurgtheater e nunca ter visto Wolter no palco ou fora dele. Mas em Viena uma grande atriz de renomenacional era a tal ponto parte do patrimnio coletivo da cidade inteira que mesmo a pessoa maisdistante sentia a sua morte como se fosse uma grande catstrofe. Qualquer perda, a partida de umcantor ou de um artista popular, transformava-se irremediavelmente em luto nacional. Quando oantigo Burgtheater onde as Bodas de Fgaro de Mozart foram encenadas pela primeira vez foidemolido, a sociedade vienense inteira se reuniu em seus sales, solene e compungida, como para umenterro. Mal caiu o pano, todos acorreram ao palco para levar para casa, como relquia, pelo menosum fragmento das tbuas sobre as quais seus queridos artistas haviam atuado, e em dezenas de casasburguesas dcadas depois ainda se viam esses insignificantes fragmentos cuidadosamente guardadosem valiosas caixinhas, como os fragmentos da cruz sagrada nas igrejas. Ns mesmos no agimos commais sensatez quando o chamado Salo Bsendorfer foi demolido.
Na verdade, essa pequena sala de concertos, reservada exclusivamente msica de cmara, eraum prdio bastante andino e insignificante. Era a antiga escola de equitao do prncipeLiechtenstein, adaptada sem qualquer fausto para fins musicais com um revestimento em madeira.Mas tinha a ressonncia de um violino velho, era um lugar sagrado para os amantes da msica,porque ali Chopin e Brahms, Liszt e Rubinstein haviam dado recitais, porque muitos dos famososquartetos haviam ecoado ali pela primeira vez. Agora, iria ceder lugar a uma edificao funcional fato inconcebvel para ns, que ali havamos vivido tantas horas inesquecveis. Quando os ltimoscompassos de Beethoven terminaram, tocados magnificamente pelo Quarteto Ros, ningum selevantou. Aplaudimos de maneira ruidosa, algumas mulheres soluavam, comovidas, ningum quisacreditar que fosse uma despedida. As luzes foram apagadas no salo para que deixssemos o
-
recinto. Ningum, daqueles quatrocentos ou quinhentos fanticos, arredou p. Permanecemos ali maismeia hora, uma hora, como se pudssemos, pela mera presena, forar que o velho salo sagradofosse salvo. E quantas vezes ns, estudantes, lutamos com peties, manifestaes e textos para que acasa onde Beethoven morrera no fosse demolida! Cada um desses prdios histricos demolidos emViena era como um pedao de alma arrancado de dentro de ns.
Esse fanatismo pelas artes, em especial pelas artes cnicas, perpassava todas as camadas sociaisem Viena. Por sua tradio secular, Viena era uma cidade nitidamente ordenada e, como j escrevi,maravilhosamente orquestrada. A batuta ainda cabia casa imperial. O castelo imperial era o centroda supranacionalidade da monarquia, no apenas no sentido espacial, mas tambm no cultural. Emtorno do castelo, os palcios da alta nobreza austraca, polonesa, tcheca, hngara formavam, porassim dizer, a segunda muralha. Depois vinha a boa sociedade, constituda da pequena nobreza,dos altos funcionrios, dos industriais e das famlias antigas, e, abaixo dela, a pequena-burguesia eo proletariado. Cada uma dessas camadas vivia na sua esfera, at mesmo em suas prpriascircunscries a alta nobreza em seus palcios no centro da cidade, a diplomacia na terceiracircunscrio, a indstria e os comerciantes perto da Ringstrasse, a pequena-burguesia nascircunscries mais prximas do centro, da segunda nona, o proletariado na periferia; todos,porm, se encontravam no teatro e nas grandes festividades, como o corso de flores no Prater, ondetrezentas mil pessoas aclamavam, entusiasmadas, os dez mil mais ricos em seus carrosmaravilhosamente decorados. Tudo em Viena virava motivo de festa, expressando-se em cores emsica: as procisses religiosas como a festa de Corpus Christi, as paradas militares, aBurgmusik, a msica do castelo; mesmo os enterros eram concorridos, e a ambio de qualquervienense que se prezasse era ter um belo defunto com um cortejo suntuoso e muitos acompanhantes;o verdadeiro vienense transformava at sua morte em prazer visual para os outros. Nessareceptividade para tudo o que era colorido, sonoro, festivo, nesse gozo do espetculo como formaldica da vida, no palco tanto quanto no espao real, a cidade inteira era uma s.
No era difcil ironizar essa teatromania do vienense, que de fato muitas vezes degenerava e setornava grotesca pelo hbito de investigar as mnimas circunstncias de vida de seus dolos, e nossaindolncia austraca no campo poltico, nosso atraso na economia em comparao com o resolutoreino alemo vizinho efetivamente podem ser atribudos em parte a esse exagero no deleite com asartes. Mas em termos culturais essa supervalorizao dos acontecimentos artsticos gerou algo nico um respeito incomum por qualquer produo artstica e, em seguida, por meio do exerccio secular,um conhecimento mpar e, graas a ele, um nvel excelente em todos os ramos da cultura. Um artistasempre se sente bem e, ao mesmo tempo, mais estimulado onde estimado e at superestimado. Aarte costuma atingir seu pice quando se torna questo vital para um povo inteiro. Assim como, naRenascena, Florena e Roma atraam os artistas e os educavam para a grandeza, porque cada umsentia que precisava o tempo todo superar os outros e a si prprio, em uma eterna competio diantede toda a burguesia, tambm os atores e os msicos de Viena sabiam da sua importncia na cidade.Nada passava despercebido na pera de Viena, no Burgtheater; qualquer nota falsa era logo ouvida,cada entrada errada e cada abreviao eram criticadas, e esse controle no era exercido apenaspelos crticos profissionais nas estreias, e sim a cada dia pelo ouvido de todo o pblico, atento eafiado pela constante comparao. Enquanto no campo poltico, administrativo e mesmo doscostumes tudo acontecia de forma bastante confortvel, indiferente ante qualquer desleixo econdescendente com qualquer transgresso, nas coisas artsticas no existia perdo; era a honra dacidade que estava em jogo. Todo cantor, todo ator, todo msico precisava sempre dar o melhor de si,caso contrrio estava perdido. Era maravilhoso ser um dolo em Viena, mas no era fcil continuar a
-
s-lo, no se tolerava nenhum deslize. Saber dessa constante e impiedosa fiscalizao obrigava cadaartista em Viena a se superar e conferia ao todo esse nvel maravilhoso. Cada um de ns levou dajuventude para o resto da vida esses critrios rigorosos e impiedosos em relao representaoartstica. Quem conheceu na pera a disciplina frrea at o mnimo detalhe sob a batuta de GustavMahler, quem conheceu o enlevamento com perfeio da Orquestra Filarmnica como sendo algonatural, hoje quase nunca se satisfaz plenamente com uma rcita musical ou teatral. Mas assimaprendemos tambm a ser rigorosos conosco em qualquer manifestao artstica; em poucas cidadesdo mundo o artista em formao teve como modelo um nvel to alto. Esse conhecimento do ritmo edo compasso corretos tambm estava profundamente incutido no povo, pois mesmo o cidado decamadas inferiores exigia da banda to boa msica como exigia um bom vinho ao taverneiro. NoPrater, por sua vez, o povo sabia muito bem quais eram as bandas militares mais arrebatadoras, seeram os Deutschmeister ou os Ungarn, a Infantaria Hngara; era como se a percepo rtmicachegasse para os moradores de Viena com o ar que respiravam. E assim como entre ns, escritores,essa musicalidade se expressava em uma prosa muito bem-cuidada, nos demais a percepo rtmicapenetrava na atitude social e na vida cotidiana. Um vienense desprovido de senso esttico ou deprazer pela forma era inimaginvel na chamada boa sociedade, mas mesmo nas camadas inferioresos pobres absorviam na paisagem, na alegre atmosfera humana, um certo instinto para a beleza. Noexistia um verdadeiro vienense sem esse amor pela cultura, sem essa inclinao ao mesmo tempoprazerosa e crtica pelo suprfluo mais sagrado da vida.
ACONTECE QUE, para os judeus, a adaptao ao meio, ao povo ou ao pas em que vivem no s umamedida externa de proteo, e sim uma necessidade interior. Seu anseio por uma ptria, portranquilidade, por repouso, por segurana, por no serem mais estrangeiros, impele-os a se adaptarpassionalmente cultura do ambiente. Em poucos outros lugares exceto na Espanha, no sculo XV essa associao se realizou de maneira mais feliz e frtil do que na ustria. Assentados h mais deduzentos anos na cidade imperial, os judeus encontraram ali um povo alegre e propenso conciliao, que, sob a aparncia de leveza, trazia o mesmo instinto profundo para os valoresespirituais e estticos que tanto lhes importava. E eles encontraram ainda mais em Viena:encontraram uma tarefa honrosa. No sculo anterior, o cultivo da arte na ustria perdera seustradicionais guardies e protetores: a casa imperial e a aristocracia. Enquanto, no sculo XVIII,Maria Teresa mandava suas filhas aprenderem msica com Gluck, Jos II discutia com Mozart sobresuas peras e Leopoldo III compunha ele prprio, os imperadores posteriores, Francisco II eFernando, j no tinham o menor interesse por questes artsticas, e nosso imperador Francisco Jos,que em seus oitenta anos de vida nunca lera outro livro que no o almanaque militar, mostrou umaantipatia aberta msica. Da mesma forma, a alta aristocracia abandonara seu tradicional mecenato.Fora-se o tempo em que os Esterhzy hospedavam um Haydn, em que Lobkowitz e Kinsky eWaldstein rivalizavam entre si para ter em seus palcios uma estreia mundial de Beethoven, em queuma condessa Thun se jogou de joelhos diante do grande demnio para suplicar que no tirasseFidlio de cena. Wagner, Johannes Brahms e Johann Strauss ou Hugo Wolf j no encontraram maiso menor apoio da parte deles. Para manter o nvel dos concertos filarmnicos, para permitir aexistncia de pintores e escultores, a burguesia teve de acorrer, e fazia parte do orgulho e da ambioprecisamente da burguesia judaica poder estar na primeira fileira ajudando a manter a fama e oesplendor da cultura vienense. Amavam aquela cidade desde sempre e sentiam-se em casa com toda
-
sua alma, mas s atravs do amor arte de Viena sentiram-se inteiramente merecedores de umaptria e vienenses verdadeiros. Na vida pblica, de resto, exerciam pouca influncia; o brilho dacasa imperial deixava qualquer fortuna na sombra, as posies elevadas na liderana do governoeram hereditrias, a diplomacia reservada aristocracia, o exrcito e o alto funcionalismo pblicos famlias antigas, e os judeus nem tentaram penetrar ambiciosamente nessas esferas privilegiadas.Com bastante tato, respeitavam esses direitos tradicionais como se fossem leis naturais. Lembro, porexemplo, que meu pai evitou a vida inteira ir comer no Hotel Sacher, e no por razes econmicas pois a diferena em relao a outros grandes hotis era ridiculamente pequena , mas por aquelesenso natural de distncia. A ele, teria sido constrangedor ou mesmo descabido estar numa mesa aolado de um prncipe Schwarzenberg ou de Lobkowitz. S diante da arte todos em Viena sentiam-seno mesmo direito, porque amor e arte, em Viena, eram vistos como um dever comum, e incomensurvel o grau de participao da burguesia judaica pela sua maneira solidria e promotorana cultura vienense. Eram eles o verdadeiro pblico, enchiam os teatros e os concertos, compravamos livros, os quadros, visitavam as exposies e, com seu entendimento artstico mais flexvel, menoscarregado de tradies, tornavam-se por toda parte apoiadores e vanguardistas de tudo o que eranovo. Reuniam quase todas as grandes colees de arte do sculo XIX, quase todos os experimentosartsticos eram possibilitados por eles; sem o contnuo interesse estimulador da burguesia judaica, ecom a indolncia da corte, da aristocracia e dos milionrios cristos, que preferiam financiarestbulos de cavalos e caadas a promover as artes, Viena teria ficado to atrs de Berlim em termosartsticos como a ustria politicamente atrs do Imprio Alemo. Quem, em Viena, quisesse imporalgo de novo, quem, como hspede de fora, quisesse buscar em Viena compreenso e um pblico,dependia unicamente dessa burguesia judaica. Quando uma nica vez, na poca antissemita, tentou-sefundar um chamado teatro nacional, no se conseguiu reunir nem os autores, nem os atores, nem opblico, e depois de alguns meses o teatro nacional ruiu miseravelmente, e justo esse exemplorevelou pela primeira vez: nove dcimos do que o mundo festejava como sendo a cultura vienense dosculo XIX era uma cultura apoiada, alimentada e at criada pelos judeus vienenses.
Pois justo nos ltimos anos como ocorrera na Espanha antes da mesma derrocada trgica osjudeus de Viena haviam se tornado produtivos em termos artsticos, no de uma maneiraespecificamente judaica, mas conferindo natureza austraca, vienense, a expresso mais intensaatravs do milagre da sensibilidade. Goldmark, Gustav Mahler e Schnberg se tornaram figurasinternacionais na criao musical. Oscar Straus, Leo Fall, Klmn levaram a tradio da valsa e daopereta a um novo florescimento; Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann, Peter Altenbergconferiram literatura vienense um novo valor, que ela no tivera nem com Grillparzer e Stifter.Sonnenthal, Max Reinhardt renovaram no mundo inteiro a fama da cidade dos teatros; Freud e osgrandes da cincia atraram os olhares para a velha e famosa universidade por toda parte, fossemsbios ou virtuoses, pintores, diretores ou arquitetos, ou jornalistas, eles mantinham de maneirainconteste as mais altas posies na vida intelectual de Viena. Por seu amor apaixonado pela cidade,por sua vontade de se integrar, eles se adequaram totalmente e estavam felizes em poder servir glria da ustria; percebiam sua condio de austracos como uma misso no mundo e precisorepetir, por honestidade uma boa parte, se no a maior parte de tudo o que a Europa e a Amricahoje admiram na msica, na literatura, no teatro, no artesanato como expresso de uma culturaaustraca revivida, foi criada pelos judeus vienenses, os quais, por sua vez, ao assim se externarematingiram a realizao suprema de seu milenar anseio intelectual. Uma energia intelectual que porsculos no tivera rumo certo uniu-se ali a uma tradio j algo cansada, alimentando-a, vivificando-a, potencializando-a e refrescando-a com nova fora e atravs de uma infatigvel atividade. Somente
-
as dcadas seguintes mostraro que crime se cometeu contra Viena ao tentar nacionalizar eprovincializar fora essa cidade, cujo sentido e cuja cultura consistiam precisamente no encontrodos elementos mais heterogneos, em sua supranacionalidade intelectual. Pois o gnio de Viena umgnio especificamente musical desde sempre residiu em harmonizar dentro de si todos os contrastespopulares, lingusticos; sua cultura foi uma sntese de todas as culturas ocidentais; quem vivia e agiaali sentia-se livre de constrangimento e de preconceitos. Em nenhum outro lugar era mais fcil sereuropeu, e sei que devo agradecer em parte a essa cidade, que j nos tempos de Marco Aurliodefendeu o esprito romano, universal, o fato de cedo ter aprendido a amar a ideia da comunidadecomo a mais elevada em meu corao.
VIVIA-SE BEM, vivia-se facilmente e sem preocupao naquela velha Viena, e os alemes no norteolhavam um pouco zangados e desdenhosos para ns, para os vizinhos s margens do Danbio que,em vez de serem eficientes e manterem uma ordem rigorosa, viviam bem, comiam bem,deleitavam-se com festividades e teatros e, ainda por cima, faziam msica excelente. No lugar daeficincia alem, que, afinal, amargou e perturbou a existncia de todos os outros povos, em vezdesse sfrego desejo de avanar e correr frente dos outros, em Viena adorava-se conversardespretensiosamente, cultivava-se uma convivncia agradvel e deixava-se ao outro a sua parte, seminveja, numa conciliao gentil e talvez at desleixada. Viver e deixar viver era o clebreprincpio vienense, um princpio que at hoje me parece mais humano do que todos os imperativoscategricos, e ele se imps sem resistncia em todas as esferas. Pobres e ricos, tchecos e alemes,judeus e cristos conviviam pacificamente, apesar de ocasionais rixas, e at os movimentos polticose sociais estavam livres daquele terrvel dio que s entrou na corrente sangunea da poca como umresduo txico da Primeira Guerra Mundial. Na antiga ustria, as pessoas se combatiam de formacavalheiresca, insultavam-se atravs dos jornais e no Parlamento. Mas depois de suas tiradasciceronianas os deputados sentavam juntos amistosamente para tomar uma cerveja ou um caf etratavam-se por tu; mesmo quando o lder do partido antissemita, Lueger, se tornou prefeito dacidade, nada mudou no trato particular, e eu pessoalmente confesso que, como judeu, jamais senti omnimo entrave ou o menor desprezo nem na escola, nem na universidade ou na literatura. O dioentre um pas e outro, entre um povo e outro, entre uma mesa e outra ainda no nos assaltava todos osdias a partir das manchetes dos jornais, ainda no separava as pessoas das pessoas e as naes dasnaes; aquela noo de manada, de mera massa, ainda no era to nojentamente poderosa na vidapblica como hoje; a liberdade na ao individual era tida como algo natural, o que hoje inconcebvel; a tolerncia ainda era louvada como uma fora tica e no, como hoje, desprezadacomo fraqueza.
Pois o sculo em que nasci e fui educado no foi um sculo das paixes. Era um mundo ordenado,com camadas ntidas e transies suaves, um mundo sem pressa. O ritmo das novas velocidadesainda no se transmitira das mquinas, do carro, do telefone, do rdio, do avio para o homem, otempo e a idade tinham outra medida. Vivia-se com mais comodidade, e se tento despertar em mim asimagens dos adultos da minha infncia noto quantos deles eram precocemente corpulentos. Meu pai,meu tio, meus professores, os vendedores nas lojas, os msicos filarmnicos aos quarenta anos jeram homens gordos, dignos. Andavam devagar, falavam pausadamente e durante a conversacofiavam as barbas bem-cuidadas, muitas vezes j grisalhas. Mas cabelo grisalho era apenas umnovo sinal para dignidade, e um homem respeitvel evitava conscientemente os gestos e os exageros
-
da juventude como sendo algo inconveniente. Mesmo na minha primeira infncia, quando o meu paiainda no tinha quarenta anos, no me lembro de t-lo visto subir ou descer uma escada afobado oufazer qualquer outra coisa com precipitao. A precipitao no era tida apenas como deselegante;de fato, era desnecessria, pois nesse mundo burguesmente estabilizado, com suas inmeras pequenasseguranas e garantias, nunca acontecia algo repentino; as catstrofes que ocorriam l fora, naperiferia do mundo, no penetravam pelas paredes bem-revestidas da vida segura. A Guerra dosBeres, a Guerra Russo-Japonesa, mesmo a Guerra dos Blcs no penetravam um centmetro naexistncia dos meus pais. Na leitura do jornal, eles saltavam o noticirio blico com a mesmaindiferena com que saltavam a seo esportiva. E, efetivamente: o que lhes importava o queacontecia fora da ustria, o que mudava na sua vida? Na sua ustria, naquela poca de calmaria, nohavia revolues, no havia bruscas destruies de valores; se os papis uma vez se desvalorizavamem quatro ou cinco por cento na Bolsa, j se considerava isso um crack e falava-se sobre acatstrofe com o cenho franzido. As pessoas se queixavam mais por hbito do que por verdadeiraconvico dos altos impostos que, de fato, em comparao com os da poca do ps-guerrasignificavam apenas uma espcie de gorjeta para o Estado. Ainda se estipulava com preciso nostestamentos como proteger netos e bisnetos da menor perda de patrimnio, como se a segurana anteos poderes eternos estivesse garantida atravs de um ttulo de dvida invisvel, e, entrementes, vivia-se comodamente, afagando as pequenas preocupaes como se fossem bons e obedientes animaisdomsticos, que, no fundo, no se temiam. Por isso, sempre que o acaso me pe nas mos um jornalvelho daqueles dias e eu leio os artigos exaltados sobre uma pequena eleio do ConselhoMunicipal, quando procuro evocar as peas do Burgtheater com seus minsculos problemas, ou aexaltao desmesurada das nossas discusses juvenis sobre coisas no fundo irrisrias, sorrioinvoluntariamente. Como eram liliputianas todas essas preocupaes, como eram calmos aquelestempos! A gerao dos meus pais e dos meus avs teve mais sorte, viveu sua existncia de umextremo ao outro de maneira calma, reta e clara. Ainda assim, no sei se a invejo. Pois o quantocochilaram margem de todas as verdadeiras amarguras, das perfdias e dos poderes do destino,viveram ao largo de todas aquelas crises e os problemas que contraem o corao mas ao mesmotempo o ampliam de maneira grandiosa! Por estarem enredados em segurana e em suas posses e noconforto, quo pouco souberam que a vida pode ser excesso e tenso, um contnuo surpreender-se eestar fora de qualquer parmetro; quo pouco, em seu liberalismo e otimismo comoventes,imaginaram que cada dia seguinte que amanhece diante da janela pode destroar as nossas vidas.Nem em suas noites mais negras sequer sonharam quo perigoso pode se tornar o homem, mastampouco de quanta fora dispe para ultrapassar perigos e superar provas. Ns, que fomosacossados por todas as correntezas da vida; ns, arrancados de todas as razes que nos seguravam;ns, que sempre recomeamos onde somos impelidos para um fim; ns, vtimas e tambm servos fiisde msticos poderes desconhecidos; ns, para quem o conforto se tornou lenda e a segurana, umsonho infantil em cada fibra do nosso corpo ns sentimos a tenso de um polo para o outro e oarrepio do eternamente novo. Cada hora de nossa vida esteve ligada ao destino do mundo. Comsofrimento e prazer, vivemos a Histria e o tempo muito alm da nossa prpria pequena existncia,enquanto nossos antepassados se limitavam a si prprios. Por isso, cada um de ns, mesmo o maisdiminuto de nossa gerao, sabe hoje mil vezes mais sobre a realidade do que os mais sbios dosnossos antepassados. Mas nada nos foi dado de presente; pagamos o preo integral por tudo isso.
3 Em traduo livre: Criados na calma, prximos e tranquilos,/ De repente somos lanados ao mundo;/ Banhados por cem mil ondas/
-
Tudo nos excita, muitas coisas nos agradam,/ Muitas coisas nos desgostam, e de hora em hora/ Oscila o sentimento levemente inquieto;/Ns sentimos e aquilo que sentimos/ tragado pelo colorido tumulto do mundo. Do poema An Lottchen. Todas as notas de rodapforam criadas para esta edio.
-
A escola no sculo passado
TER SIDO ENVIADO para o liceu depois do primrio, no meu caso, foi algo absolutamente natural. Jpor motivos de ordem social, toda famlia abastada fazia questo de ter filhos bem-educados,mandando-os aprender francs e ingls, familiarizar-se com msica, contratando primeirogovernantas e depois professores particulares para ensinar-lhes as boas maneiras. Mas naquelestempos do liberalismo esclarecido s a chamada formao acadmica, que levava universidade, representava um valor integral; por isso, qualquer boa famlia tinha a ambio deque pelo menos um de seus filhos chegasse a doutor. Esse caminho at a universidade, no entanto, erabastante longo e nada cor-de-rosa. Era preciso passar cinco anos de primrio e oito de liceu embancos de madeira, cinco a seis horas por dia, fazer tarefas escolares no tempo livre e, ainda porcima, o que a formao geral demandava alm da escola: francs, ingls, italiano as lnguasvivas, ao lado das clssicas grego e latim portanto, cinco lnguas, alm de geometria e fsica edas demais matrias escolares. Era mais do que excessivo, quase no deixava espao para odesenvolvimento fsico, para esportes e passeios, muito menos para alegria e diverso. Lembrovagamente que, aos sete anos, tivemos que decorar uma cano sobre a infncia alegre e feliz paracantar em coro. A melodia dessa singela canozinha continua na minha cabea, mas j na poca aletra passava com dificuldade pelos meus lbios, muito menos entrava com convico no meucorao. que, para ser honesto, todo o meu tempo de escola no passou de enfado, aumentado acada ano pela impacincia em poder escapar quela rotina. No me recordo de alguma vez ter mesentido alegre ou feliz dentro daquela monotonia escolar sem corao e sem esprito, que nosestragou por inteiro a poca mais linda e livre da existncia, e confesso que at hoje no consigo melibertar de uma certa inveja quando vejo o quanto, no atual sculo, a infncia se pode desenvolver demaneira to mais feliz, livre e autnoma. Ainda me parece irreal quando observo como as crianasde hoje conversam descontradas e quase de igual para igual com seus professores; como vo semmedo para a escola, enquanto ns o fazamos com um sentimento de insuficincia; como podemadmitir abertamente, tanto na escola quanto em casa, seus anseios e inclinaes de almas curiosas ejovens seres livres, independentes, naturais, enquanto ns, mal estvamos dentro do prdio odiado,tnhamos, por assim dizer, que nos curvar para no bater com a testa contra o jugo invisvel. A escolaera para ns tdio, enfado, um lugar em que ramos obrigados a ingerir pores meticulosamentedivididas da cincia daquilo que no vale a pena ser sabido, matrias escolsticas ou tornadasescolsticas, das quais sentamos que no teriam nenhuma relao com o interesse real nem com onosso interesse pessoal. O que a antiga pedagogia nos impunha era um aprender estpido, vazio, nopara a vida, um aprender por aprender. E o nico momento realmente feliz que devo escola foi odia em que fechei sua porta para sempre atrs de mim.
No que nossas escolas austracas fossem ruins em si. Pelo contrrio, o chamado programa deensino fora cuidadosamente elaborado com base em uma experincia secular e, se tivesse sidotransmitido de maneira estimulante, poderia ter fundamentado uma formao fecunda e bastante
-
universal. Mas, justo pelo seu carter demasiado metdico e sua esquematizao rida, nossas aulasse tornavam horrivelmente inspidas e mortas, um frio aparato de ensino que jamais se ajustava aoindivduo e que parecia um autmato, mostrando atravs de notas como bom, suficiente,insuficiente o quanto se correspondia s exigncias do programa. Mas era justo esse desamor ao serhumano, essa impessoalidade austera e o jeito de quartel no trato que nos indignavaminconscientemente. Tnhamos que aprender a lio e ramos examinados para verificar o quehavamos aprendido; em oito anos, nenhum professor nos perguntou uma nica vez o que gostaramosde aprender, e justo o estmulo pelo qual cada jovem anseia era completamente inexistente.
Essa aridez j estava manifesta no prprio prdio escolar, uma construo tipicamente funcional,levantada s pressas cinquenta anos antes, com poucos meios e pouca reflexo. Com seus corredoresfrios e malcaiados, salas de aula de p-direito baixo, sem um quadro ou qualquer outro adornoagradvel para a vista, com suas privadas que exalavam o mau cheiro pelo prdio inteiro, essequartel de ensino parecia um velho mvel de hotel que inmeras pessoas j usaram antes e inmeraspessoas usariam depois, e com a mesma indiferena ou repugnncia; at hoje, no consigo esquecer ocheiro de mofo e umidade impregnado naquela casa como em todas as reparties austracas, e quecostumvamos chamar de cheiro de errio um cheiro de salas superaquecidas, superlotadas, quejamais eram arejadas, cheiro que primeiro adere roupa e, depois, alma. Ficvamos sentados, doisa dois, como prisioneiros nas gals, em bancos baixos de madeira que nos entortavam a coluna atdoerem os ossos; no inverno, a luz azulada das chamas de gs bruxuleava sobre nossos livros; novero, ao contrrio, as janelas eram cuidadosamente fechadas com cortinas para que o olharsonhador no pudesse se regozijar com o pequeno quadrado de cu azul. Aquele sculo ainda nodescobrira que jovens corpos em crescimento precisam de oxignio e movimento. Dez minutos deintervalo no frio e estreito corredor eram considerados suficientes em meio a quatro ou cinco horasde imobilidade; duas vezes por semana ramos levados para o ginsio, onde, com as janelascuidadosamente fechadas, marchvamos sem propsito algum sobre as tbuas de madeira,revolvendo a poeira a metros de altura a cada passo; com isso, a higiene fora observada, o Estadocumprira em ns seu dever para com o princpio mens sana in corpore sano. Mesmo anos maistarde, quando passava por esse prdio tristonho e desolador, eu ainda experimentava um sentimentode alvio por nunca mais ter que entrar nessa priso da nossa juventude, e quando houve uma festapor ocasio do cinquentenrio desse vetusto estabelecimento e fui convidado, na condio de ex-aluno brilhante, a fazer o discurso oficial diante de ministros e prefeito, educadamente recusei. Noprecisava ser grato escola, e qualquer palavra desse tipo teria sido mentirosa.
Nossos professores tampouco tinham culpa pela falta de alegria daquele estabelecimento. Noeram bons nem ruins, no eram tiranos e nem, por outro lado, companheiros solidrios, e sim pobres-diabos os quais, presos como escravos ao esquema e ao programa de ensino prescritos pelasautoridades, tinham um dever a cumprir, como ns tnhamos o nosso e percebamos issonitidamente ficavam to aliviados quanto ns quando o sino tocava ao meio-dia, anunciando aliberdade a eles e a ns. No nos amavam, no nos odiavam, nem havia por qu, pois no sabiamnada de ns; depois de alguns anos, raros nos conheciam pelo nome, nada mais lhes importava dentrodo mtodo pedaggico da poca alm de saber quantos erros o aluno cometera no ltimo exerccio.Ficavam sentados em sua ctedra e ns l embaixo, eles perguntavam e ns tnhamos que responder;fora isso, no havia nenhuma relao entre ns. Pois entre professor e aluno, entre ctedra e bancoescolar, entre o que estava visivelmente em cima e visivelmente embaixo havia a barreira invisvelda autoridade, que impedia qualquer contato. Que um professor tivesse que considerar um alunoseu como um indivduo que exigia especial ateno para seus talentos, ou que, como hoje natural,
-
tivesse que escrever relatrios sobre ele, ultrapassaria em muito tanto suas obrigaes quanto suaqualificao. Por outro lado, uma conversa particular teria diminudo a sua autoridade, pois issocolocaria a ns, os alunos, no mesmo nvel do professor, a autoridade. Para mim, nada maiscaracterstico da total falta de conexo que havia tanto no plano intelectual quanto no emocional entre ns e nossos professores do que o fato de eu ter esquecido os nomes e as fisionomias de todoseles. Minha memria conserva com acuidade fotogrfica a imagem da ctedra e do dirio de classeem que sempre tentvamos espiar nossas notas; vejo a pequena caderneta vermelha de anotaes emque eles primeiro registravam as classificaes e o lpis preto curtinho que desenhava as notas, vejomeus prprios cadernos, recheados de correes dos professores em tinta vermelha, mas no vejomais nem um nico rosto de nenhum deles quem sabe porque diante deles sempre nos postvamoscom os olhos baixos ou indiferentes.
Esse desprazer com a escola no era uma postura pessoal; no me lembro de nenhum dos meuscolegas que no tenha percebido com averso que nossos melhores interesses e intentos erambarrados, impedidos e reprimidos nessa fbrica de rotina. S bem mais tarde me dei conta de queesse mtodo sem amor ou alma da nossa educao juvenil no decorria do desleixo das instnciasgovernamentais, mas que expressava uma determinada inteno mantida cuidadosamente em segredo.O mundo diante ou acima de ns, que media todos os seus pensamentos unicamente pelo fetiche dasegurana, no amava a juventude, ou melhor, tinha uma constante desconfiana em relao a ela.Vaidosa do seu progresso sistemtico, da sua ordem, a sociedade burguesa proclamava moderaoe comedimento em todas as formas de vida como a nica virtude eficaz da humanidade; qualquerurgncia em nos fazer progredir devia ser adiada. A ustria era um Estado velho, dominado por umimperador idoso, regido por ministros velhos, um Estado sem ambies que apenas ansiava por semanter inclume no espao europeu ao rechaar qualquer transformao radical. Os jovens, que porinstinto sempre clamam por transformaes rpidas e radicais, eram vistos, por isso, como elementopreocupante, que deveria ser excludo ou reprimido tanto quanto possvel. Assim, no havia motivopara tornar agradveis nossos anos de escola; s depois de uma espera paciente que deveramosnos tornar merecedores de qualquer forma de ascenso. Com esse constante adiamento, as diversasfaixas etrias ganhavam um valor totalmente diferente do atual. Um colegial de dezoito anos eratratado como criana, era punido ao ser descoberto com um cigarro, precisava levantarobedientemente a mo quando quisesse deixar o banco escolar por causa de uma necessidade natural.Mesmo um homem de trinta anos ainda era visto como uma criana imatura, e at o homem dequarenta no era ainda considerado maduro para um cargo de responsabilidade. Quando certa vez,num caso excepcional, Gustav Mahler foi nomeado diretor da pera aos 38 anos, a surpresa porterem confiado a direo do principal instituto cultural a um jovem assolou Viena (esqueceu-se deque Mozart terminou sua obra de vida aos 36 e Schubert, aos 31). Essa suspeita de que nenhumjovem era inteiramente confivel existia ento em todas as esferas. Meu pai jamais teria recebidoum jovem em seu estabelecimento, e quem tivesse a infelicidade de parecer muito novo enfrentavadesconfiana por toda parte. Assim acontecia o que hoje inconcebvel: a juventude era umobstculo para qualquer carreira, s a idade era uma vantagem. Enquanto hoje, no nosso mundocompletamente transformado, pessoas de quarenta fazem de tudo para parecer ter trinta esexagenrios, para parecer ter quarenta, enquanto hoje jovialidade, energia, dinamismo e autoestimafavorecem e recomendam, naquela era da segurana quem quisesse progredir precisava tentarqualquer artifcio para parecer mais velho. Os jornais recomendavam drogas para estimular ocrescimento da barba, jovens mdicos de 24 ou 25 anos, que tinham acabado de prestar exame,usavam barbas imensas e, mesmo sem precisar, culos de aros dourados, s para poder despertar em
-
seus primeiros pacientes a impresso de serem experientes. Usavam-se longos sobretudos negros ecaminhava-se com vagar, ostentando, se possvel, uma leve barriga para corporificar esse arcircunspecto, e quem era ambicioso esforava-se para renunciar ao menos exteriormente a essajuventude suspeita de falta de solidez. J no sexto ou stimo ano de escola, ns nos recusvamos acarregar bolsas, para disfarar a condio de colegiais, passando a usar pastas. Tudo o que hoje nosparece um patrimnio invejvel o frescor, a autoestima, a ousadia, a curiosidade, a vontade deviver da juventude parecia suspeito naquele tempo, em que se prezava apenas o que era slido.
S a partir dessa estranha postura possvel compreender que o Estado explorasse a escolacomo instrumento de manuteno da sua autoridade. Acima de tudo, devamos ser treinados paraaceitar por toda parte o status quo como perfeio, a opinio do professor como infalvel, a palavrado pai como irrefutvel, as instituies de Estado como absolutas e vlidas para sempre. Um segundoprincpio cardeal daquela pedagogia empregada tambm no seio da famlia preconizava que osjovens no deviam gozar de muito conforto. Antes de terem quaisquer direitos concedidos, deviamaprender que tinham responsabilidades, sobretudo a da obedincia total. Desde o incio devamosaprender que ns, que na vida ainda no havamos realizado nada e no tnhamos nenhumaexperincia, tnhamos unicamente que ser gratos por tudo o que se nos concedia, sem o menor direitode perguntar ou exigir qualquer coisa. Na minha poca, esse mtodo estpido da intimidao eraexercido desde a mais tenra infncia. Crianas de apenas trs ou quatro anos j ouviam de suas babsou de mes estpidas que a polcia seria chamada se no parassem logo de fazer arte. Ainda no liceu,se tirssemos nota baixa em alguma matria sem importncia, ameaavam nos tirar da escola paraaprendermos um ofcio. Era a pior ameaa que podia haver no mundo burgus: o retrocesso para oproletariado. E se algum jovem, por algum genuno anseio de aprender, buscasse esclarecimentossobre problemas srios da poca junto a algum adulto, costumava ser repreendido com um arrogante:Voc ainda no entende nada disso. Esse mtodo era usado por toda parte, em casa, na escola e noEstado. Ningum se cansava de incutir no jovem a ideia de que ele ainda no estava maduro, queele no entendia nada, que apenas precisava escutar obedientemente sem nada dizer e muito menoscontra-argumentar. Por essa mesma razo, at na escola o pobre-diabo do professor, sentado l emcima na ctedra, devia continuar sendo um dolo distante, limitando todos os nossos interesses aoprograma de ensino. No importava se ns nos sentamos bem ou no na escola. Sua verdadeiramisso, na lgica da poca, no era nos fazer avanar, e sim deter nosso avano; no era formarnosso esprito e sim nos adaptar com a menor resistncia possvel ao status quo reinante; no eraaumentar nossa energia, e sim disciplin-la e nivel-la.
Uma tal presso psicolgica ou, melhor, nada psicolgica sobre uma juventude inteira spode ter dois efeitos: paralisar ou estimular. Lendo as anotaes dos psicanalistas, vemos quantoscomplexos de inferioridade esse absurdo mtodo pedaggico gerou; talvez no seja coincidncia ofato de este complexo ter sido revelado por homens que tambm passaram pelas nossas velhasescolas austracas. No meu caso, agradeo a essa presso um anseio de liberdade que cedo detecteiem mim anseio este que a atual juventude mal conhece com a mesma veemncia , bem como umdio que me acompanhou a vida inteira contra tudo o que autoritrio, ditado de cima para baixo.Durante muitos anos, essa averso a tudo o que apodctico e dogmtico foi instintiva em mim, e euat tinha esquecido suas origens. Mas quando, numa viagem de conferncias, haviam escolhido paramim o grande auditrio de uma universidade e eu de repente descobri que deveria falar do alto deuma ctedra, enquanto os ouvintes estavam sentados nos bancos, l embaixo, como ns alunosficvamos, fui tomado por um desconforto. Lembrei-me do quanto tinha sofrido durante todos os anosde escola com essa fala nada amigvel, autoritria e doutrinria, e fui assaltado pelo temor de que
-
poderia parecer aos olhos dos outros to impessoal como, na poca, nossos professores foram parans. Por causa dessa inibio, essa foi a pior conferncia da minha vida.
AT OS QUATORZE ou quinze anos, ns ainda nos arranjvamos bem com a escola. Fazamos troa dosprofessores, aprendamos as lies com uma curiosidade indiferente. Mas chegou o tempo em que aescola s nos entediava e atrapalhava. Sorrateiramente, ocorrera um estranho fenmeno: ingressadosno liceu aos dez anos, j nos quatro primeiros dos oito anos havamos ultrapassado a escola no nvelintelectual. Instintivamente, sentamos que no havia mais nada de essencial a aprender com ela eque, em algumas das matrias que nos interessavam, sabamos mais do que nossos pobresprofessores, que desde seus tempos de estudos nunca mais abriram um livro por vontade prpria. Umoutro contraste tambm se tornava a cada dia mais palpvel: naqueles bancos em que j apenassentvamos, e nada mais, no ouvamos nada de novo ou nada que nos parecesse digno de saber,enquanto, fora dali, havia uma cidade com milhares de atraes, com teatros, museus, livrarias,universidade, msica, em que cada dia trazia novas surpresas. Assim, nossa sede de saber represada,a curiosidade intelectual, artstica, esttica, voltou-se apaixonadamente para o que ocorria fora daescola. De incio, foram apenas dois ou trs entre ns que descobriram em si tais pendores artsticos,literrios, musicais; depois, foi uma dezena, e por fim, quase todos.
que o entusiasmo, entre jovens, uma espcie de fenmeno contagioso. Transmite-se numaclasse escolar de uns para os outros como o sarampo ou a escarlatina, e os nefitos, ao tentarem comuma ambio infantil e vaidosa se superar em seu saber, acabam se estimulando mutuamente. Porisso, apenas uma questo de maior ou menor acaso qual rumo essa paixo toma: se existe umcolecionador de selos em uma turma, logo far uma dezena de loucos como ele; se trs alunosadoram danarinas, os outros tambm estaro diariamente na porta do palco da pera. Trs anosdepois da nossa, veio uma turma apaixonada por futebol, e antes de ns havia outra, entusiasmadapelo socialismo e por Tolsti. O fato de eu ter ido para uma turma de fanticos por arte pode ter sidodecisivo para todo o resto da minha trajetria.
Na verdade, esse entusiasmo pelo teatro, pela literatura e pelas artes era muito natural em Viena;a imprensa dava muito destaque a todos os acontecimentos culturais; aonde quer que fssemos,entreouviam-se, entre os adultos, discusses sobre a pera ou o Burgtheater; nas vitrines de todas aslivrarias havia fotografias dos grandes atores; os esportes ainda eram considerados algo brutal, deque um colegial devia ter vergonha, e o cinema com seus ideais de massas ainda no fora inventado.Em casa, no era preciso temer qualquer tipo de resistncia; o teatro e a literatura faziam parte daspaixes inocentes, ao contrrio dos jogos de cartas ou das amizades com meninas. Afinal, o meupai, assim como todos os pais de Viena, tambm fora fantico pelo teatro em sua juventude, tendoassistido apresentao de Lohengrin com Richard Wagner com tanto entusiasmo como ns sestreias de Richard Strauss e Gerhart Hauptmann. Pois era natural que ns, colegiais, fssemos acada estreia. Teria sido um vexame ante colegas mais felizardos no poder narrar na escola, no diaseguinte, todos os detalhes da apresentao. Se nossos professores no fossem to indiferentes,teriam notado que nas tardes que antecediam uma grande estreia para conseguir ao menos um lugarem p, tnhamos de fazer fila j a partir das trs horas dois teros dos alunos haviam adoecido demaneira misteriosa. Se prestassem ateno, descobririam que nas capas dos nossos livros degramtica latina havia poesias de Rilke, e que usvamos nossos cadernos de matemtica para copiaros poemas mais belos de livros emprestados. Diariamente, inventvamos novas tcnicas para
-
aproveitar as aulas enfadonhas para as nossas leituras; enquanto o professor fazia sua peroraodesgastada sobre a Poesia ingnua e sentimental de Schiller, sob a carteira lamos Nietzsche eStrindberg, nomes que o bom e velho professor jamais ouvira. Essa sede de saber e de conhecer tudoo que acontecia nos ramos da arte e da cincia nos assaltara como uma febre; de tarde, nosmisturvamos aos estudantes da universidade para assistir s palestras, visitvamos todas asexposies de arte, amos aos anfiteatros de anatomia para assistir s disseces. Farejvamos tudocom nossas narinas curiosas. Sorrateiramente, entrvamos nos ensaios da Filarmnica,escarafunchvamos os antiqurios, passvamos em revista todos os dias as vitrines das livrarias paraconhecer as novas publicaes. E, acima de tudo, lamos. Lamos tudo o que caa em nossas mos.amos buscar livros em todas as bibliotecas pblicas, emprestvamos uns aos outros o que podamosobter. Mas o melhor lugar para aprender todas as novidades era o caf.
Para compreender isso preciso saber que o caf, em Viena, representa uma instituio especial,sem comparao com nenhuma outra do mundo. Na verdade, uma espcie de clube democrtico,acessvel a qualquer pessoa capaz de pagar por uma xcara de caf, onde o fregus pode passar horassentado, discutindo, lendo, jogando cartas, recebendo sua correspondncia e, sobretudo, consumindoum nmero ilimitado de revistas e jornais. Qualquer bom caf vienense assinava todos os jornaisvienenses, e no s de Viena, mas tambm os de toda a Alemanha, os franceses, os ingleses, ositalianos, os americanos, alm de todas as revistas literrias e importantes do mundo, o Mercure deFrance tanto quanto a Neue Rundschau, a Studio e a Burlington Magazine. Assim, sabamos emprimeira mo tudo o que acontecia no mundo, de todo livro lanado no mercado, de cadaapresentao, onde quer que fosse, e comparvamos as crticas em todos os jornais; talvez poucacoisa tenha contribudo tanto para a mobilidade intelectual e a orientao internacional dosaustracos como o fato de poder informar-se no caf de modo to amplo sobre os eventos do mundo,podendo logo discuti-los no crculo de amigos. Todos os dias, passvamos horas a fio ali, e nada nosescapava. Graas coletividade de nossos interesses, seguamos o orbis pictus dos acontecimentosno com dois mas sim com dezenas de pares de olhos; o que escapava a um, outro observava, e comoqueramos nos superar inc