Avaliacao de Tecnologias em Saude como instrumento para a ... · do direito à saúde no Brasil...
Transcript of Avaliacao de Tecnologias em Saude como instrumento para a ... · do direito à saúde no Brasil...
PATRÍCIA DE ALMEIDA E OLIVEIRA
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE COMO
INSTRUMENTO PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
ORIENTADORA: PROFª. DRª. SUELI GANDOLFI DALLARI
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
2012
PATRÍCIA DE ALMEIDA E OLIVEIRA
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE COMO
INSTRUMENTO PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
Dissertação apresentada ao Programa de Pós–
Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito
da USP, como requisito parcial para a obtenção
do título de Mestre em Direitos Humanos.
Orientadora: Profª. Drª. Sueli Gandolfi Dallari.
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
2012
PATRÍCIA DE ALMEIDA E OLIVEIRA
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE COMO
INSTRUMENTO PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
Dissertação apresentada ao Programa de Pós–
Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito
da USP, como requisito parcial para a obtenção
do título de mestre em Direitos Humanos.
São Paulo, 15 de maio de 2012.
Banca Examinadora
___________________________________________________
Profª. Drª. Sueli Gandolfi Dallari (orientadora)
___________________________________________________
Prof. Dr. Guilherme Assis de Allmeida
___________________________________________________
Prof. Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka
Ao meu pai, que teve a vida interrompida bruscamente e não pôde
estar ao meu lado neste momento, mas que foi o maior
incentivador desta empreitada, cujas orientações e estímulo foram
fundamentais, tanto na minha formação acadêmica, quanto na
vida. Ainda sim, sei que está sempre presente, e essa conquista eu
dedico a você.
Ao meu anjo, Rodrigo, meu companheiro e eterno amor, que esteve
ao meu lado em todos os momentos, bons e difíceis, sempre me
incentivando, apoiando e amparando, com toda dedicação,
compreensão e paciência (e muita), pessoa sem a qual eu não teria
razão para continuar.
AGRADECIMENTOS
Antes de mais, agradeço a Deus, em cuja mão eu segurei, buscando forças
para superar cada percalço do caminho e conseguir chegar ao final desta etapa.
À minha família, em especial à minha mãezinha, pela dedicação, pelas
orações, pela força e amparo, e à Isabelinha (Sorriso), pelas peculiares inspirações.
À minha orientadora, Dra. Sueli Gandolfi Dallari, pelo apoio, compreensão,
e por ter acreditado em mim, inclusive nos momentos mais críticos.
Aos Professores Guilherme Assis de Almeida e José Levi Mello do Amaral
Jr., pelas contribuições e incentivo.
Ao Josenir Teixeira, pelo auxílio, atenção, paciência, compreensão e apoio,
sem o qual teria sido ainda mais difícil finalizar essa tarefa.
Ao Alex e à equipe de ATS do Ministério da Saúde, em especial, o Eduardo,
a Renata e a Telma, pelas sugestões de bibliografia e auxílio nas pesquisas.
Ao Leandro, pela assistência na reta final.
Aos demais professores e amigos que, embora não citados aqui, me
apoiaram, incentivaram e estiveram ao meu lado em momentos difíceis no decorrer dos
últimos anos, pela força sem a qual eu não teria me sustentado neste curso.
RESUMO
A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é investigada neste trabalho como uma
forma de minimizar as consequências da excessiva judicialização do direito à saúde, ao
vincular o conhecimento científico à tomada de decisão, já que pondera riscos, benefícios,
custos e impactos referentes à ética e equidade, no estudo de uma determinada tecnologia.
O direito ao acesso a medicamentos é apenas uma faceta do direito à saúde, considerando a
abrangência de seu conceito. Todavia, a assistência farmacêutica é hoje uma das áreas mais
problemáticas e assíduas no debate sobre o direito à saúde, motivo pelo qual o foco deste
estudo são as avaliações das tecnologias medicamentosas. Um dos fatores mais relevantes
no incremento dos custos em saúde é a utilização de tecnologias cada vez mais caras e de
uso específico, cuja inovação, nessa área, tende a ser cumulativa, e não substitutiva. Daí a
importância de políticas públicas eficazes em saúde, que consigam gerir as tecnologias de
modo a cumprir os princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS. Este
trabalho é orientado pela interdisciplinaridade inerente ao estudo dos direitos humanos,
pautando-se em pesquisas teóricas e documentais que demonstram tanto a evolução do
direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, quanto a contextualização e a afirmação
da ATS como pressuposto à incorporação de tecnologias no SUS e auxiliar na tomada de
decisões, possuindo um papel fundamental como fator de justiça social e instrumento de
garantia dos direitos humanos.
Palavras-chave: ATS. Acesso a medicamentos. Direitos Humanos.
ABSTRACT
The Health Technology Assessment (HTA) is studied as a way of minimizing the
consequences of the excessive judicialization of the right to health when taking decisions is
linked to the scientific knowledge. It weighs risks, benefits, costs and impacts referred to
ethics and equity in the study of a certain technology. The right of access to medicines is
only a tiny part of the right to health considering the scope of its concept. However, the
pharmacy assistance is currently one of the most problem and constant subject presents in
debates about the right to health, reason why the focus of this study are the evaluations of
medicines technologies. One of the most relevant fact in the increasing of costs in health is
the using of technologies increasingly expensive and specific, which innovation tend to be
cumulative and not substitutive. That is the importance of effective public policies in
health, which are able to manage the technologies in a way of compliance with
universality, equity and integrality principles of SUS. This work is oriented by the intrinsic
interdisciplinarity of the human rights studies and guided by theoretical and documental
researches that demonstrate the evolution of the right to health in Brazilian legal system
and the contextualization and predication of HTA as an important point to be considered
when incorporating technologies in SUS and taking decisions, having an important role as
a factor of social justice and human rights guaranties.
Key-words: HTA; Medicines Access. Human Rights.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ADPF Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AES Avaliação Econômica em Saúde
AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ATS Avaliação de Tecnologias em Saúde
BRATS Boletins Brasileiros de Avaliação de Tecnologia em Saúde
CCTI Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
CEME Central de Medicamentos
CF/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CFM Conselho Federal de Medicina
CIB Comissão Intergestores Bipartite
CIT Comissão Intergestores Tripartite
CITEC Comissão para Incorporação de Tecnologias
CMED Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
CNJ Conselho Nacional de Justiça
CNS Conselho Nacional de Saúde
COMARE Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da RENAME
CONASS Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
CONITEC Comissão Nacional para Incorporação de Tecnologias
CONJUR Consultoria Jurídica
CPG Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica
DCB Denominação Comum Brasileira
DECIT Departamento de Ciência e Tecnologia
DST Doenças Sexualmente Transmissíveis
EC Emenda Constitucional
FDA Food and Drug Administration
GM Gabinete do Ministro
GT/ATS Grupo Permanente de Trabalho em Avaliação de Tecnologias em Saúde
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana
HTA Health Technology Assesment
IATS Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde
INAHTA Rede de Agências Internacionais para Avaliação de Tecnologias em Saúde
LOS Lei Orgânica da Saúde
MBE Medicina Baseada em Evidências
MP Ministério Público
MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social
MS Ministério da Saúde
NATS Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde
OMC Organização Mundial do Comércio
OMS Organização Mundial da Saúde
ONG Organização Não Governamental
ONU Organização das Nações Unidas
OPAS Organização Panamericana de Saúde
P&D Pesquisa e Desenvolvimento
PNAF Política Nacional de Assistência Farmacêutica
PNCTIS Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
PNGTIS Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde
PNM Política Nacional de Medicamentos
PTC Parecer Técnico Científico
QALY Anos de Vida Ajustados pela Qualidade
REBRATS Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde
RENAME Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
SAS Secretaria de Atenção à Saúde
SCTIE Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
STF Supremo Tribunal Federal
SUS Sistema Único de Saúde
TRIPS Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10
1 SAÚDE: UM DIREITO FUNDAMENTAL .................................................................... 14 1.1 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE ............................................................................ 14
1.2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL ........................................... 21 1.2.1 Saúde no ordenamento jurídico brasileiro .................................................................. 21 1.2.2 Carta Magna de 1988: consagração da saúde como direito fundamental ................... 24 1.2.3 Sistema Único de Saúde Brasileiro: fundamentos e princípios .................................. 26 1.3 ACESSO A MEDICAMENTOS COMO UMA FACETA DO DIREITO À SAÚDE .......................... 30
1.3.1 Ponderações necessárias no Acesso ao Direito Social à Saúde .................................. 36 1.3.2 Análise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal ......................................... 40 1.3.3 Reflexos da atuação do Judiciário .............................................................................. 44
2 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE: SUBSÍDIO AOS PROCESSOS DE
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS ................................................................. 49 2.1 TECNOLOGIAS EM SAÚDE ................................................................................................ 49
2.1.1 Enquadramento dos medicamentos na classificação das tecnologias em saúde ......... 49 2.1.2 Etapas da incorporação de medicamentos no SUS ..................................................... 52 2.2 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE ...................................................................... 65
2.2.1 Definição e propósitos da ATS ................................................................................... 67 2.2.2 Avaliação econômica em saúde .................................................................................. 73 2.3 DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE O USO DA ATS ........................................ 79
2.3.1 ATS no cenário internacional ..................................................................................... 80
2.3.2 ATS no Brasil ............................................................................................................. 83
3 ACESSO ÀS TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO BRASIL: GARANTIA DOS
DIREITOS HUMANOS ...................................................................................................... 88
3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PAUTADAS EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ............... 91 3.1.1 Política Nacional de Medicamentos ........................................................................... 94 3.1.2 Política Nacional de Assistência Farmacêutica ........................................................ 101
3.1.3 Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde ............................................ 103
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ATS COMO RESPALDO PARA TOMADA DE
DECISÃO .......................................................................................................................... 106
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 111
INTRODUÇÃO
No decorrer dos últimos anos as reivindicações judiciais ao exercício efetivo
do direito à saúde no Brasil têm sido observadas com mais veemência, mormente, no que
concerne ao acesso a novas tecnologias em saúde, principalmente, os medicamentos.
O acesso à saúde é prescrito pela Constituição Federal Brasileira (CF/88),
traduzido num direito social, garantido mediante o desenvolvimento de políticas públicas
sociais e econômicas que possibilitem, nas três esferas de governo, a implementação de
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse ínterim, enseja-se
uma interpretação mais abrangente do conceito de direito à saúde, afiançado por políticas
que contemplem não apenas a ausência de doença, mas que também sejam pautadas por
determinantes sociais relacionadas à qualidade de vida da população.
Tais políticas seriam a tradução da defesa da dignidade humana, princípio
que orienta todo o ordenamento jurídico brasileiro, o que evidencia a responsabilidade do
Poder Público para a manutenção do equilíbrio entre a atividade estatal e a preservação da
qualidade de vida da sociedade.
A partir de uma rápida análise das condições de saúde no país, desde a
promulgação da CF/88 até os dias atuais, percebe-se que inúmeros obstáculos foram
superados pelo setor de saúde no Brasil. Todavia, a despeito de toda a evolução, novos
desafios surgem a cada dia, na tentativa de superação de velhos problemas, dentre os quais,
a equidade no acesso a novas tecnologias na área da saúde, sobretudo, novos fármacos,
expressão que, neste texto, será usada indistintamente como sinônimo de medicamentos.
A evolução científica a cada dia introduz no mercado novas tecnologias,
caras e dispendiosas, algumas de fato inovadoras e necessárias, outras, nem tanto.
Justificados pela maior eficiência aparente das novidades medicamentosas, o que, por
conseguinte, melhoraria a qualidade de vida dos pacientes, profissionais da saúde muitas
vezes indicam o uso indiscriminado dos fármacos mais modernos.
11
Então, os pacientes desprovidos de recursos suficientes para aquisição das
novas e onerosas tecnologias, e até mesmo os que têm interesse em medicamentos ainda
não autorizados por órgãos regulatórios, buscam acessá-los pela via judicial.
O que se vê, muitas vezes, são decisões tomadas à revelia de fundamentação
científica, pautadas tão somente na constitucionalização dos direitos sociais. Em que pese
ser argumento suficiente para a garantia do direito à saúde em seu sentido originário, como
direito fundamental, não se pode negar que a crescente demanda nessa área onera em
demasia o Estado, causando um desequilíbrio nas políticas públicas já existentes, que
abrangem uma parcela consideravelmente maior da população.
Ressalte-se que o direito ao acesso a medicamentos é apenas uma faceta do
direito à saúde, considerando a abrangência de seu conceito. Não se trata do único ponto
relevante dessa seara, sendo, porém, o foco primordial do trabalho, até mesmo porque, a
assistência farmacêutica é hoje uma das áreas mais problemáticas e assíduas no debate
sobre o direito à saúde.
Pesquisas empíricas demonstram que o Poder Judiciário, extrapolando suas
competências, pode prejudicar o orçamento público de parcos recursos1, propiciando o
acesso aos medicamentos de alto custo a poucos indivíduos, em detrimento da melhor
alocação de recursos, abrangendo uma parcela maior da população.
O resultado de tais pesquisas serve como argumento para que o Estado se
furte à prestação dos direitos sociais. Contudo, em se tratando de direito fundamental, o
direito à saúde encontra-se acima de questões orçamentárias. Logo, intenta-se conhecer
uma forma de diminuir os impactos financeiros causados pela incorporação de novas
tecnologias na área da saúde, que, apesar de mais avançadas e quase sempre mais
eficientes, também são mais onerosas.
1 Cf. TANAKA, Oswaldo Yoshimi. A judicialização da prescrição medicamentosa no SUS ou o desafio de
garantir o direito constitucional de acesso à assistência farmacêutica. Revista de Direito Sanitário, São
Paulo, v. 9, n. 1, p. 139-143, mar./jun., 2008. FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabiola Sulpino.
Direito à saúde, recursos escassos e equidade: os riscos da interpretação judicial dominante. Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, Mar. 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582009000100007&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 10 ago. 2011. DELDUQUE, Maria Cecília; OLIVEIRA, Mariana Siqueira de Carvalho. O
papel do Ministério Público no Campo do Direito e Saúde. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação
Oswaldo Cruz. Questões atuais de direito sanitário. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série Legislação
de Saúde).
12
Com esse propósito, a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é
estudada como uma forma de minimizar as consequências da excessiva judicialização do
acesso à saúde, de forma a propiciar equidade nesse acesso. Isso porque a ATS “consiste
em um processo de sistematização das informações disponíveis quanto a benefícios, riscos,
custos e impactos referentes à ética e equidade. A ATS é a ponte entre o conhecimento
científico e a tomada de decisão2”.
Este trabalho é, portanto, orientado pela interdisciplinaridade inerente ao
estudo dos direitos humanos, o que ressalta a importância de uma análise não apenas
jurídica, mas político-econômica do tema. Não se pretende aqui o esgotamento do tema,
mas, tão somente, uma abordagem preliminar de sua essência, numa linha de raciocínio
que sirva de base para estudos futuros mais aprofundados e direcionados.
A metodologia usada para tanto pauta-se numa pesquisa essencialmente
teórica, cuja análise interpretativa das fontes bibliográficas selecionadas permitiu um juízo
crítico sobre a evolução das tecnologias em saúde e do direito ao acesso às mesmas, bem
como suas consequências no ordenamento jurídico brasileiro.
Ao mesmo tempo, fez-se cogente uma pesquisa documental em fontes
públicas, que propiciaram uma abordagem histórica e comparativa dos mecanismos de
incorporação tecnológica pelo Ministério da Saúde (MS). Considerando a abrangência do
conceito de tecnologia, o que será adiante explicitado, focalizou-se a pesquisa no universo
da incorporação e acesso a novos medicamentos. Importante, outrossim, entender a
evolução da legislação brasileira nesse âmbito, nomeadamente perante os princípios
insculpidos na CF/88 e as diretrizes da Lei Orgânica da Saúde3 (LOS) que cuida dos
fundamentos, princípios e organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
O presente trabalho foi estruturado em três capítulos. O primeiro aborda a
evolução do conceito de saúde e direito à saúde, discorrendo sobre a constitucionalização
deste direito no ordenamento jurídico brasileiro, até a instituição do SUS no Brasil, além
2 SILVA, Everton Nunes da; SILVA, Marcus Tolentino; ELIAS, Flávia Tavares Silva. Sistemas de saúde e
avaliação de tecnologias em saúde. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde:
evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 420. 3 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de set. 1990.
13
de mencionar o estado atual das decisões jurídicas pátrias nessa seara. Também aborda,
mesmo que brevemente, temas como reserva do possível e mínimo existencial,
mencionados em diversas jurisprudências, analisando-se também o posicionamento atual
do Supremo Tribunal Federal (STF) perante o crescente número de ações que pleiteiam
acesso à saúde.
O primeiro capítulo mostra, portanto, que a saúde é um direito garantido
pela Carta Magna de 1988, que não apenas o coloca no rol dos direitos fundamentais, mas
também, disciplina sua implementação no ordenamento jurídico brasileiro a partir da
instituição do SUS. Como sistema público de saúde, as políticas que regem o SUS devem
garantir o acesso à saúde a todos os cidadãos, sem restrição de qualquer espécie, o que
inclui, por conseguinte, a incorporação de novas tecnologias.
Assim sendo, o segundo capítulo cuida das tecnologias em saúde, suas
classificações e das etapas de incorporação tecnológica no SUS, dentre as quais, a ATS,
área estruturada pelo MS a partir de 2003, quando da criação do Conselho de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde (CCTI). O intuito é demonstrar a relevância da
incorporação sistemática de tecnologias no sistema público de saúde, figurando como fator
de justiça social, partindo-se do pressuposto de que essa sistematização proporciona
equidade nesse acesso, facilitando inclusive, a tomada de decisões, tanto dos gestores,
quanto do Judiciário. A ATS é tratada em todos os seus aspectos neste capítulo, incluindo
contextualização no âmbito internacional.
Para finalizar, o terceiro capítulo aborda as políticas públicas nacionais, de
medicamentos, farmacêutica e de gestão de tecnologias, que propiciam o acesso da
população aos medicamentos incorporados no sistema público de saúde. Considerando
peculiaridades dessas políticas, apresenta-se a ATS como instrumento hábil a fundamentar
tomada de decisões.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa realizada pelo método indutivo,
traduzida num estudo teórico argumentativo, de natureza reflexiva e de caráter didático,
constituído em uma iniciação à investigação do papel da ATS como fator de justiça social
e instrumento de garantia dos direitos humanos.
14
1 SAÚDE: UM DIREITO FUNDAMENTAL
1.1 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
Para entender como os mecanismos de incorporação de tecnologias em
saúde podem figurar como fator de justiça social e garantia dos direitos fundamentais, é
preciso, a priori, conhecer conceitos básicos em saúde, bem como a evolução desse direito.
A partir do momento em que a saúde passa a ser definida como o melhor
amparo às condições sociais do indivíduo e não apenas como mera ausência de doença, a
despeito das críticas a esse conceito genérico, o Direito passa a intervir ainda mais na
Medicina, que não se restringe aos hospitais4.
Constituída como um direito fundamental, a saúde tem implicações diretas
para o bem-estar do indivíduo, a integridade da sociedade e a produtividade da economia.
Nesse sentido, “a saúde tem sido identificada como uma importante variável para o
desenvolvimento econômico, sendo este entendido em seu sentido mais amplo: aumento do
crescimento e redução das desigualdades sociais5”.
Nada obstante estar agregada ao rol dos direitos humanos, cuja
reivindicação é antiga na história da humanidade, a saúde somente foi incluída no elenco
desses direitos nos documentos contemporâneos, donde se conclui ser uma reivindicação
moderna6. O amplo acesso à saúde apenas foi reconhecido constitucionalmente, como
direito fundamental quando da promulgação da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, cujo processo constituinte, num espaço democrático, teve também alicerce
em idéias de congressistas progressistas, amparados por intelectuais do movimento da
Reforma Sanitária7.
A definição de saúde evoluiu bastante ao longo da história. Já no Século IV
a.C. o filósofo grego Hipócrates alertava para as influências do meio sobre a enfermidade,
4 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
5 SILVA; SILVA; ELIAS, 2010, p. 420.
6 DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista de Saúde Pública, São Paulo,
v. 22, n. 4, p. 327-334, ago. 1988b. 7 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS. Brasília: CONASS,
2007b. (Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, 12), passim.
15
sendo mais tarde considerado o caráter mecanicista da doença, quando Descartes, ao
identificar o corpo humano à máquina, acreditou poder descobrir a causa da conservação
da saúde, que no seu entendimento seria tão somente a ausência de doenças8.
O conceito atualmente usado no Brasil foi definido na 8ª Conferência
Nacional de Saúde, em 1986, como “a resultante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de
terra e acesso a serviços de saúde9”.
Considerando todas essas determinantes, Moacyr Scliar entende que o
“conceito atual de saúde aproxima-se do conceito subjetivo de felicidade e configura antes
uma ‘imagem-horizonte do que um alvo-concreto’10
”.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) a define genericamente como “o
completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. Tal
conceituação atrai inúmeras críticas, em razão de sua abrangência, embora os
doutrinadores concordem que não há unanimidade na conceituação do termo:
[...] saúde, ainda que se dispute qual o conceito ideal, tem a ver com o equilíbrio
do homem internamente, e necessariamente, ao mesmo tempo, com o seu
equilíbrio na sociedade e com a sociedade mais próxima e também com a
sociedade um pouco mais ampla, eu diria que tem a ver com o seu equilíbrio
cultural; tudo isso ao mesmo tempo. Trata-se de um conceito complexo; nós já
ouvimos isso, certamente, várias vezes nesta audiência. [...] Se saúde é assim
complexa, é impossível que alguém possa defini-la, em última instância, numa
mesa, num gabinete11
.
A despeito da dificuldade de conceituação do termo saúde, a grande maioria
dos ordenamentos jurídicos atuais, que acompanham a evolução normativa internacional
de proteção e defesa dos direitos humanos, garante constitucionalmente esse direito, ainda
que de forma ampla e genérica, sem considerar especificamente cada um de seus aspectos.
8 DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 57-63,
1988a. 9 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 8ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1986. 29 p. Relatório.
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1124>. Acesso em: 07
mar. 2009. 10
SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 2. ed. São Paulo: Senac, 2005, p. 94. 11
DALLARI, Sueli Gandolfi. Audiência Pública – Saúde. Registro na ANVISA e Protocolos e Diretrizes
Terapêuticas do SUS. Supremo Tribunal Federal, 4, mai. 2009. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Cronog
rama>. Acesso em: 25 jul. 2010.
16
Os direitos do homem são históricos, nascidos gradativamente em
circunstâncias peculiares e qualificados por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, modificando-se conforme a evolução social, além de fatores como
carecimentos e interesses das classes no poder, meios disponíveis para sua realização,
transformações técnicas, dentre outros. Direitos sociais, como a saúde, que antes sequer
eram reconhecidos como direitos fundamentais, hoje são o foco de diversas declarações e
documentos internacionais12
.
Ao longo da história humana, os maiores problemas de saúde que os homens
enfrentaram estiveram relacionados com a natureza da vida comunitária. Por
exemplo, o controle das doenças transmissíveis, o controle e a melhoria do
ambiente físico (saneamento), a provisão de água e comida puras, em volume
suficiente, a assistência médica e o alívio da incapacidade e do desamparo. A
ênfase relativa sobre cada um desses problemas variou no tempo. E de sua inter-
relação se originou a Saúde Pública como a conhecemos hoje13
.
Historicamente importa citar que a Medicina, já na Grécia Antiga, não se
resumia apenas à prática da cura, mas também, à prevenção das doenças14
, sendo dos
gregos de Esparta o primeiro conceito conhecido de saúde15
e o mérito de afastar o
entendimento religioso do científico, a partir da figura de Hipócrates, o pai da medicina16
.
Já os Romanos, apesar do conhecimento sobre a relação entre as ocupações
e as enfermidades, pouco ou nada fizeram para proteger a saúde dos trabalhadores,
primando pelo desenvolvimento da organização dos serviços médicos, sobretudo da
construção de hospitais públicos, inovando mais na área de engenharia e administração,
construindo sistemas de esgotos e instalações sanitárias que marcaram a história17
.
Na Idade Média não se pode falar em evolução satisfatória da medicina. O
que houve foi a ênfase numa conexão entre doença e pecado. Não se falava no direito de
ser saudável. A enfermidade, portanto, seria o castigo para o pecador.
12
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus,
1992, p. 18. 13
ROSEN, George. Uma história da Saúde Pública. Tradução de Marcos Fernando da Silva Moreira com a
colaboração de José Rubem de Alcântara Bonfim. São Paulo: HUCITEC: UNESP; Rio de Janeiro:
ABRASCO, 1994, p. 31. 14
Ibidem, p. 40. 15
Mens sana in corpore sano (mente sã, corpo são). 16
CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos. São Paulo: Atlas,
2007, p. 15. 17
ROSEN, op. cit., passim.
17
Todavia o renascimento é um período significativo na história da Saúde
Pública. Com o acúmulo de informações, ganhou forma ideológica a possibilidade e a
importância de se aplicar o conhecimento científico à saúde da comunidade, muito embora,
na prática, a Saúde Pública pouco ou nada se beneficiou durante esse período, já que até o
Século XIX persistiu o padrão administrativo da Idade Média.
Enquanto legisladores e homens de negócios tentavam guiar-se pelos preceitos
do Iluminismo, uma nota de protesto humanitário se ergueu, se fez ouvir. E, com
o século XVIII se aproximando de seu término, esse protesto e esse modo de
pensar e agir tornaram-se cada vez mais importantes. De todos os lados, surgia
um interesse vivo pelos direitos e pela situação do homem. Interesse manifesto,
por exemplo, na preocupação crescente com os problemas de saúde de grupos
específicos. A avaliação dos efeitos sociais das doenças levou mercadores,
médicos, clérigos e outros cidadãos de espírito público a lutar por
melhoramentos. Ao término do século XVIII, estava enraizada na atenção
pública a convicção de serem os problemas de saúde e doença fenômenos sociais
de muita importância para o indivíduo, e para a comunidade. Reconheciam-se os
efeitos da doença sobre o corpo político e se envidavam esforços na solução do
problema.18
Os problemas de organização sanitária decorrentes das novas condições
sociais de início e meados do Século XIX foram enfrentados, sobretudo, pela França e
Inglaterra, países nos quais, pela primeira vez na história, se desenvolveram políticas
públicas de saúde em escala nacional.
Todavia, num lapso temporal de cem anos entre três dos principais
documentos modernos a proclamar direitos, o Bill of Rights inglês de 1689, a Declaração
de Independência Americana de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão francesa de 1789, não se presenciou muito além da origem de um modelo de
Estado, cujas funções limitadas não incluíam o direito à saúde19.
Na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,
promulgada pela Assembléia Constituinte, aboliu os privilégios do Ancien Régime e
proclamou a liberdade e a igualdade do indivíduo e a soberania da nação e da lei,
ocasionando mudanças que propiciaram o real enfrentamento de problemas de saúde e
bem-estar da população, embora tal documento não fizesse referência direta à saúde,
inovação trazida pela Constituição Francesa de 1791:
18
ROSEN, 1994, p. 115-116. 19
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 6 ed. São Paulo:
Brasiliense, 2007, passim.
18
[...] a Constituição Francesa de 1791 previu a criação de um estabelecimento
geral de socorros públicos para criar as crianças expostas, aliviar os pobres
enfermos e prover trabalho aos pobres válidos que não o tenham achado. Trata-
se, como assinalou Fabio Konder Comparato, do primeiro documento histórico
em que foram reconhecidos direitos humanos de caráter social. Na Convenção
que sucedeu à Constituição de 1791, surgiu a Constituição Francesa de 1793, que
em pouco inovou o que previra sua antecessora. A partir de então, considerando
que em face dos acontecimentos revolucionários a Constituição de 1793 sequer
chegou a entrar em vigor, a assistência à saúde não mais constou como função do
Estado até a transição ao século XX, com a Lei Waldeck-Rousseau, de 21 de
março de 1884, que admitiu a criação de associações profissionais, a partir da
qual proliferaram entidades por meio das quais os trabalhadores urbanos
franceses asseguraram assistência mútua à saúde20
.
Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, foi onde o custo humano da
industrialização, em termos de insalubridade e morte prematura, mais se revelou, sendo,
portanto, o local onde teve início o movimento de reforma sanitária do Século XIX. Os
serviços de saúde foram incentivados pelo Estado absolutista Francês e pelo Estado Inglês
por meio de fomento a entidades privadas, sobretudo ligadas à Igreja e à caridade.
Durante o século XX, com o aumento do comércio e a melhoria do sistema de
transportes, e a diminuição das distâncias, não se podia mais considerar, com
indiferença, as condições sanitárias em diferentes partes do mundo. Assim, a
cooperação internacional para a prevenção de doenças transmissíveis passou a
ser um assunto da maior importância. E em 1851 se deu, com a abertura da
primeira conferência sanitária internacional, em Paris, o primeiro passo para a
criação de uma organização internacional de saúde21
.
A interdependência econômica e política internacional, cada vez mais
complexa, e o entendimento de que a presença de doenças em uma área se constituía em
um perigo contínuo para muitas outras, culminou na cooperação sanitária internacional em
saúde. A mais antiga das organizações internacionais, regional, em saúde, o Escritório Pan-
Americano da Saúde, foi criado em 1902, sendo que em 1907 assinou-se em Roma um
acordo que instituiu a primeira organização internacional de saúde no âmbito mundial, o
Escritório Internacional de Higiene Pública.
Em 1923 houve a criação da Organização de Saúde da Liga das Nações. A
OMS, que assumiu os deveres e os poderes da Organização de Saúde da Liga, foi criada
em 1946, embora sua existência oficial comece apenas em 1948, quando da ratificação de
sua constituição pelos vinte e seis países necessários, num pós-guerra em que se
reivindicava em todo o mundo a proteção dos direitos humanos.
20
MÂNICA, Fernando Borges. O setor privado nos serviços públicos de saúde. Belo Horizonte: Fórum,
2010, p. 35. 21
ROSEN, 1994, p. 224.
19
A experiência de uma Grande Guerra apenas 20 anos após a anterior, provocada
pelas mesmas causas que haviam originado a predecessora e, especialmente, com
capacidade de destruição várias vezes multiplicada, forjou um consenso. Carente
de recursos econômicos, destruída sua crença na forma de organização social,
alijada de seus líderes, a sociedade que sobreviveu a 1944 sentiu a necessidade
ineludível de promover um novo pacto. Tal pacto, personificado na Organização
das Nações Unidas, fomentou a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
ao mesmo tempo em que incentivou a criação de órgãos especiais dedicados a
garantir alguns desses direitos considerados essenciais aos homens. A saúde,
reconhecida como direito humano, passou a ser objeto da Organização Mundial
de Saúde (OMS) que, no preâmbulo de sua Constituição (1946), assim a
conceitua: “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de doença”22
.
Após a Segunda Guerra Mundial (2ª GM) presenciou-se uma transição de
direitos: passa-se da liberdade como pressuposto da dignidade para a dignidade como
pressuposto da liberdade, sendo ampliados e positivados os direitos sociais voltados à
proteção da dignidade de cada pessoa humana. Assim, a OMS surge reconhecendo a saúde
como um direito fundamental do ser humano, sem qualquer espécie de distinção, figurando
como a agência oficial de coordenação mundial no campo da saúde internacional.
Nesse contexto, há que se aludir ao Beveridge Report, relatório inglês
elaborado por William Beveridge, que serviu como instrumento para ampliação do direito
à saúde de forma universal na Inglaterra, superando o até então predominante modelo
alemão do seguro-doença, por meio do qual o Estado intervinha na proteção da saúde dos
trabalhadores, apenas. Mesmo sem previsão constitucional, já que o ordenamento jurídico
inglês não possui uma Constituição escrita, o Estado britânico assumiu em 1948 a
prestação de serviços de saúde, com a implantação do National Health System23
(Sistema
Nacional de Saúde Britânico).
O desenvolvimento da legislação internacional tocante aos direitos humanos
culminou na aprovação de documentos que consagram a saúde como direito fundamental,
dentre eles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos24
e o Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais25
, o que retrata a tendência à universalização do
direito à saúde, que passa a figurar como dever do Estado de forma expressa em diversas
22
DALLARI, 1988a, p. 58. 23
MÂNICA, 2010, p. 40. 24
Editada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), consagra pela primeira vez a saúde como
direito e todos, sem distinção, a partir da defesa da dignidade humana. 25
Pacto assinado em 1966, que, além de reafirmar em seu preâmbulo o princípio da dignidade da pessoa
humana, estabelece em seu artigo 12 o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de
saúde física e mental. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 356.
20
Constituições escritas, dentre elas, a Carta Magna Brasileira de 1988. Trata-se da
intensificação do papel do Estado na promoção do bem-estar social.
Esta construção histórica mundial justifica e explica o que sejam os direitos
humanos; aqueles direitos que podem ser reclamados por todos, frente a qualquer
espécie de Estado, de forma complementar, enumerativa e não taxativa, visto que
servem à garantia e à permanência da espécie humana com dignidade e em
condições de igualdade, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento
sustentável, assim, progressivo26
.
A defesa dos direitos humanos em nível mundial não evoluiu em função da
proteção de sujeitos afortunados, mas sim, de cidadãos hipossuficientes. Nesse ínterim, no
que respeita ao direito à saúde, insta ressaltar a necessidade de organização e supervisão
dos sistemas de saúde pelos Estados, bem como a importância de que os equipamentos
públicos sejam utilizados, prioritariamente, no atendimento das pessoas carentes.
O Comitê de Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) para
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao interpretar o artigo 12 do Pacto
Internacional sobre tais direitos27
, sustenta que “o direito à saúde não deve ser entendido
como direito a estar sempre saudável”, mas sim como o direito “a um sistema de proteção
à saúde que dá oportunidades iguais para as pessoas alcançarem os mais altos níveis de
saúde possíveis”. Nessa lógica de raciocínio:
Não tendo o sistema público de saúde condições de atender adequadamente o
conjunto da população carente, ele deveria poder requisitar os serviços das
organizações privadas de saúde. Ademais, o sistema de previdência social há de,
necessariamente, abranger também as despesas com aquisição de medicamentos.
Para tanto, é indispensável que o Estado, sobretudo em países subdesenvolvidos,
intervenha largamente no setor de produção e distribuição de medicamentos, de
forma a eliminar ao máximo as perversões que o sistema capitalista provoca, em
detrimento das populações de baixa renda28
.
No que concerne aos medicamentos, a situação hodierna retrata o controle
de algumas empresas privadas transnacionais sobre a pesquisa, produção e distribuição de
26
CARVALHO, 2007, p. 13. 27
“The right to health is not to be understood as a right to be healthy. The right to health contains both
freedoms and entitlements. The freedoms include the right to control one's health and body, including
sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free
from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. By contrast, the entitlements include
the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the
highest attainable level of health.” UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Committee on
Economic, Social and Cultural Rights. The right to the highest attainable standard of health: General
Comment No. 14, para. 9, Geneva, Apr./May. 2000, E/C.12/2000/4. (General Comments). Disponível em:
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/40d009901358b0e2c1256915005090be?Opendocument>.
Acesso em: 24 out. 2011. 28
COMPARATO, 2008, p. 358.
21
fármacos, o que frequentemente, aliás, é feito com recursos públicos, deixando à míngua
multidões de miseráveis dos países subdesenvolvidos, o que é incoerente com o atual
sistema internacional de proteção aos direitos humanos.
1.2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL
A saúde foi incluída como direito fundamental nos textos constitucionais de
diversos países a partir da compreensão da evolução legislativa internacional de defesa dos
direitos humanos no pós-guerra da segunda metade do Século XX.
Após um período político conturbado pela insurreição contra a ditadura
militar no Brasil, a Constituinte não poderia deixar de garantir um rol de direitos sociais no
texto da Constituição democrática que seria promulgada no país, incluindo-se
expressamente, pela primeira vez na história da legislação brasileira, a saúde como direito
de todo cidadão, sem distinção de qualquer espécie.
1.2.1 Saúde no ordenamento jurídico brasileiro
O período colonial no Brasil foi marcado por uma “catástrofe demográfica
da população indígena”, como denominam os historiadores, decorrente da escravização e
matança que tiveram início com a desocupação das terras, o que disseminou doenças
“importadas” da Europa, dantes desconhecidas pelos indígenas. Pertencentes aos últimos
escalões da sociedade, as condições de saúde dos índios e negros eram igualmente
deploráveis, a despeito da multiplicidade de situações vividas e atividades desenvolvidas.
Não menos heterogêneas eram as condições de saúde da população branca, o que variava
conforme as classes sociais ou condições geográficas.
Certo é que não havia um eficaz sistema de proteção sanitária, sendo que a
medicina desenvolvida à época pautava-se numa combinação indiscriminada de
conhecimentos de povos diferentes:
Durante os três primeiros séculos da colonização brasileira, a sociedade branca
recorreu indiferentemente às formas de cura trazidas da Europa ou àquelas a que
22
diversas etnias, com as quais se manteve em constante contato, utilizavam para
lutar contra os males que as acometiam. Mesmo os portugueses opulentos, muito
embora se tratassem com seus médicos, cirurgiões e barbeiros vindos de
Portugal, não hesitavam, quando precisavam curar suas feridas, em se servir do
óleo de copaíba utilizado pelos indígenas para esse fim. Depois, com a vinda dos
escravos africanos, aderiram igualmente a certas curas relacionadas com a magia,
como nos revela a documentação das visitas inquisitoriais do Santo Ofício29
.
Mesmo assim, desde 1430, além da regulamentação do exercício da
medicina e cirurgia por meio de licença, Portugal ainda impunha regimentos burocráticos
quanto à produção, prescrição e comercialização de medicamentos, que na realidade não
passavam de uma forma de melhor fiscalizar e garantir a cobrança de tributos. Entretanto, a
miscigenação de raças, costumes e tradições no Brasil colonial disseminou práticas
variadas de curas e tratamentos, mesmo com toda a fiscalização.
A Proclamação da Independência, em 1822, trouxe significativas mudanças
no cenário médico brasileiro. Além de novas regulamentações quanto ao exercício da
medicina e o acesso a medicamentos e tratamentos, em 1832 foram transformadas duas
escolas médico-cirúrgicas em faculdades de medicina e em 1850 criou-se a Junta Central
de Higiene Pública. Porém, a “população não associava competência terapêutica com os
diplomas oficiais e as autoridades faziam vista grossa à multiplicidade de anúncios que
ofereciam, para os mais diversos males, remédios que prometiam curas imediatas30
”.
Inúmeras foram as regulamentações sanitárias no período compreendido
entre a Proclamação da República em 1824 até a Promulgação da Constituição Cidadã,
como foi denominada a Carta Magna de 1988.
Tanto a Constituição Brasileira de 25 de março de 1824, quanto a de 24 de
fevereiro de 1891, garantiam em seu bojo apenas os direitos individuais: liberdade,
29
PONTE, Carlos Fidélis; FALLEIROS, Ialê (Org.). Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da
história. Rio de Janeiro: Fiocruz: COC: EPSJV, 2010, p. 31. 30
As desigualdades sociais e culturais herdadas do período colonial e acentuadas até o limite com a
escravidão se refletiam também no uso dos remédios. O acesso aos produtos das farmácias, boticas e
drogarias, muitos deles importados, era quase sempre uma prerrogativa dos brancos ricos. Os setores
subalternos, formados pela imensa população de pobres e escravos, contavam com remédios caseiros,
fórmulas feitas com ervas nacionais e outros produtos recomendados ou administrados por curandeiros,
mezinheiros, barbeiros e sangradores. Como observou Gilberto Freyre (1977), foram vários os remédios de
negro, de caboclo, de matuto, de caipira, ou sertanejo que eram desprezados pelos “civilizados” como
indignos de gente fina ou delicada. Nas áreas mais requintadas em cultura europeia, alimentos, bebidas e
remédios caros, importados da Europa, constituíam indícios da ostentação senhorial. Para essa “gente
superior de raça fina”, os remédios rústicos pareciam produzir maior dano que as próprias doenças. Nos
anúncios de jornais eram frequentes os remédios recomendados para “pessoas delicadas”, “fidalgas” ou
“nobres”. Ibidem, p. 44-45.
23
segurança pública e propriedade. A Constituição de 16 de julho de 1934, pela primeira vez,
incluiu a saúde no texto constitucional, mas tão somente como uma competência
concorrente entre a União e os Estados, não a garantindo expressamente a todos os
cidadãos. Já a Constituição de 10 de novembro de 1937 amplia um pouco mais o
tratamento do assunto, determinando ser competência privativa da União legislar sobre
normas fundamentais de defesa e proteção da saúde, sobretudo da saúde da criança. Ainda
facultou aos Estados legislar sobre o funcionamento das casas de saúde, mas também, sem
incluir em seu texto uma garantia expressa desse direito.
A Constituição de 18 de setembro de 1946 manteve somente a competência
legislativa da União quanto às normas de proteção da saúde, assim como a Carta
Constitucional de 1967. Contudo, pela primeira vez, a Emenda Constitucional (EC) de
1969 estabelece aos Municípios um percentual de aplicação nos programas de saúde, dos
fundos repassados pela União. Tal EC estabelece ainda a competência do STF para julgar
originariamente causas das quais decorram riscos para a saúde pública.
Como se vê, o tema saúde já figurava nos textos constitucionais brasileiros
anteriores a 1988, embora com um sentido organizativo e administrativo, apenas:
É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só na
Constituição de 1988 tenha sido elevando à condição de direito fundamental do
homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito à vida de todos os
seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito
a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da Ciência Médica,
independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor
sua consignação em normas constitucionais. O tema não era de todo estranho ao
nosso direito constitucional anterior, que dava competência à União para legislar
sobre defesa e proteção da saúde; mas isso tinha sentido de organização
administrativa de combate às endemias e epidemias. Agora é diferente, trata-se
de um direito do homem31
.
Em harmonia com a evolução constitucional contemporânea, portanto, a
CF/88 incorporou no seu texto a saúde como direito fundamental, outorgando-lhe uma
proteção jurídica especial, reconhecendo-a como direito de todos e dever do Estado, que
deve garanti-la por meio de políticas públicas nesse âmbito, as quais cabem ao Poder
Legislativo e Executivo, mediante a elaboração de leis (inclusive orçamentárias) e a
definição de prioridades e da escolha dos meios para sua realização32
, respectivamente.
31
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 188. 32
DELDUQUE; OLIVEIRA, 2006, p. 9.
24
1.2.2 Carta Magna de 1988: consagração da saúde como direito fundamental
Os textos constitucionais anteriores à CF/88 apenas determinavam aos entes
federados a competência para legislar sobre saúde, sendo que tal direito era reconhecido
tão somente aos trabalhadores com vínculo formal no mercado de trabalho, a despeito de
seu reconhecimento internacional como direito fundamental desde meados da Década de
1940. Restava à grande maioria da população, excluída dessa classe, a assistência caritativa
prestada por entidades filantrópicas.
[...] a discussão acerca da vinculação do legislador ao estabelecimento das
políticas públicas para sua efetivação e o direito das pessoas de obter prestações
do Estado diretamente em face da previsão constitucional do referido direito,
apenas recentemente transformaram-se em objeto de debate doutrinário33
.
A saúde não passava de um benefício da previdência social. Nessa esteira de
raciocínio, durante décadas as políticas públicas de promoção à saúde foram
negligenciadas, quadro modificado pelo movimento da Reforma Sanitária, o qual atingiu
sua maturidade entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80, decorrente da indignação de
setores da sociedade, como técnicos e intelectuais, partidos políticos e movimentos sociais
diversos, mantendo-se mobilizado até o presente34.
Com a redemocratização, intensificou-se o debate nacional sobre a
universalização dos serviços públicos de saúde. O momento culminante do
“movimento sanitarista” foi a Assembléia Constituinte, em que se deu a criação
do Sistema Único de Saúde. A Constituição Federal estabelece, no art. 196, que a
saúde é “direito de todos e dever do Estado”, além de instituir o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”. A partir da Constituição Federal de 1988, a prestação do serviço
público de saúde não mais estaria restrita aos trabalhadores inseridos no mercado
formal. Todos os brasileiros, independentemente de vínculo empregatício,
passaram a ser titulares do direito à saúde35
.
A CF/88 apresenta a saúde como direito social em seu art. 6º, instituindo
nos artigos 196 a 201 uma estrutura política complexa e abrangente para o sistema de
33
MÂNICA, p. 102. 34
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à
Gestão Participativa. Caminhos do direito à saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2007b. (Série
B. Textos Básicos de Saúde), p. 7. 35
BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em:
<http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2009.
25
saúde brasileiro, integrando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal36
, na
elaboração e execução de políticas públicas que visem à promoção, proteção e recuperação
da saúde. Nesse sentido:
Promover a saúde significa intervir socialmente na garantia dos direitos e nas
estruturas econômicas que perpetuam as desigualdades na distribuição de bens e
serviços. As políticas de saúde vêm no sentido de implementar estratégias
governamentais que visam a corrigir os desequilíbrios sociais e propiciar a
redução das desigualdades sociais37
.
A constitucionalização dos direitos fundamentais no país representa a
faculdade dos indivíduos de exigirem sua tutela perante o Poder Judiciário, para a
concretização do princípio democrático pelo qual a pessoa é considerada fundamento e fim
do Estado38. Tal prerrogativa concedida aos cidadãos não foi suficiente, por si só, para a
garantia do acesso à saúde na prática, embora a CF/88 seja uma das mais avançadas do
mundo no que toca à defesa dos direitos humanos.
No que tange ao direito à saúde pode-se dizer que o desenvolvimento teórico
acompanhou – a partir de 1988, com atraso, portanto – o caminho percorrido
pela afirmação da teoria dos direitos fundamentais. O entendimento positivista-
legalista, segundo o qual o direito é a regra posta pelo legislador, cedeu espaço
para uma teoria jurídica em que as novas funções estatais constitucionalmente
previstas passaram a também ser reconhecidas como verdadeiras normas
jurídicas aptas a provocar efeitos concretos39
.
Em que pese a garantia dos direitos sociais insculpidos no bojo da CF/88,
era preciso reconhecer que a saúde, a exemplo dos demais, não devia apenas figurar como
direito no papel, mas, acima de todo mandamento, ela devia ser efetivamente garantida:
Fica evidente a dificuldade que existe para a garantia do direito quando se
considera a amplitude da significação do termo saúde e a complexidade do
direito à saúde que depende daquele frágil equilíbrio entre a liberdade e a
igualdade, permeado pela necessidade de reconhecimento do direito do Estado
ao desenvolvimento. Encontrar o meio de garantir efetivamente o direito à saúde
é a tarefa que se impõe de modo ineludível aos atuais constituintes brasileiros.
Não basta apenas declarar que todos têm direito à saúde; é indispensável que a
36
O art. 196 da CF/88 estabelece que a saúde é “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 5 de outubro de
1988. 37
PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 6 ed. São Paulo:
Loyola, 2002, p. 93. 38
Cf. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6 ed. São Paulo: Max
Limonad, 2004. 39
MÂNICA, p. 103.
26
Constituição organize os poderes do Estado e a vida social de forma a assegurar
a cada pessoa o seu direito. É função de todo profissional ligado à área da saúde
contribuir para o debate sobre as formas possíveis de organização social e estatal
que possibilitem a garantia do direito à saúde. [...] A nova Constituição do Brasil
tratará certamente da saúde, reconhecendo-a como um dos direitos fundamentais
dos brasileiros. É indispensável, porém, que ela preveja mecanismos para que
nenhum dos direitos afirmados seja negado na prática constitucional40
.
Para a efetivação do direito à saúde, o próprio texto constitucional previu a
implantação de um sistema público, de acesso universal e igualitário, regulamentado por
legislação infraconstitucional. Nesse intuito, implantou-se o SUS no país, pelo qual o
Estado garantiria a efetividade de tal direito, com universalidade de cobertura e de
atendimento, pautado nos princípios de descentralização, atendimento integral e
participação da comunidade.
Os serviços oferecidos pelo SUS, de promoção, proteção e recuperação da
saúde são, então, de relevância pública, sujeitos à fiscalização e controle pelo Poder
Público41, como não deixaria de ser num Estado Democrático de Direito.
1.2.3 Sistema Único de Saúde Brasileiro: fundamentos e princípios
O SUS foi instituído pela CF/88, sendo regido pela LOS, disposta conforme
os princípios constitucionais e a definição de saúde proposta na 8ª Conferência Nacional de
Saúde. Por outro lado, a mesma lei que efetivou a garantia da saúde consoante a
constituição, aparentemente reduziu a responsabilidade do Estado à formulação e execução
de políticas públicas:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
40
DALLARI, 1988a. 41
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 831.
27
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social42
.
(destaque nosso)
Nesse sentido, caberia presumir que a obrigatoriedade do Estado em garantir
o acesso ao direito à saúde não seria uma norma de aplicabilidade imediata, dependendo,
portanto, da formulação das tais políticas. No entanto, como direito fundamental,
pressuposto à garantia da vida e dignidade humana, o direito à saúde tem a aplicabilidade
imediata da qual trata o §1º, do art. 5º da CF/8843
, cuja expressão “direitos e garantias
fundamentais” abrange todos os artigos do referido título, o que inclui, portanto, o previsto
no art. 6º. Essa é uma interpretação sistêmica condizente com o entendimento majoritário
do Poder Judiciário44
. Além disso:
[...] para que não se tenha um direito reconhecido como programático apenas, a
norma aperfeiçoa o direito, consignando-lhe garantia. É isso que está previsto:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido (...)” – o direito é
garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena
de omissão inconstitucional45
.
Não há falar, portanto, em direito social de eficácia contida, superando-se
assim a natureza programática da norma constitucionalmente estabelecida. Entretanto, para
a efetivação do direito à saúde, nos moldes constitucionais, não basta ao Estado elaborar
políticas públicas que não possam ser executadas imediatamente46
. É sua responsabilidade
fornecer mecanismos que realmente garantam esse direito, em todos os seus aspectos:
A crescente complexidade da vida social no século vinte acarretou a
reivindicação por direitos complexos. A garantia da dignidade humana exige
contemporaneamente mecanismos sofisticados de atuação. Para sua efetivação
cobra-se do poder social tanto sua abstenção quanto sua atuação para garantir o
mesmo direito47
.
42
Lei 8.080/90. 43
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 44
CARVALHO, 2007, p. 82. 45
SILVA, José Afonso, 2010, p. 782. 46
Até porque, toda norma constitucional tocante à justiça social, inclusive as programáticas, geram direitos
subjetivos imediatos para os cidadãos. 47
DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Verbatim,
2010, p. 161.
28
Assim, salienta-se que o direito à saúde comporta duas vertentes. A
primeira, de natureza negativa, impõe ao Estado ou a terceiros a abstenção de qualquer ato
eventualmente prejudicial à saúde. A segunda, de natureza positiva, consiste no dever do
Estado de efetivar políticas que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde.
Em razão de tais vertentes, o SUS é orientado por um rol de princípios
definidos pela CF/88, que podem ser divididos em ético-políticos e organizativos, de
acordo com as Leis n. 8.080/90 e 8.142/9048
:
Hoje, compreende-se por princípios ético-políticos do SUS:
• a universalidade do acesso, compreendida como a garantia de acesso aos
serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
• a integralidade da atenção, como um conjunto articulado e contínuo de ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de
complexidade do sistema;
• a equidade, que embasa a promoção da igualdade com base no reconhecimento
das desigualdades que atingem grupos e indivíduos, e na implementação de
ações estratégicas voltadas para sua superação; e
• a participação social, que estabelece o direito da população de participar das
instâncias de gestão do SUS, por meio da gestão participativa, e dos conselhos de
saúde, que são as instâncias de controle social. Essa participação social significa
a corresponsabilidade entre Estado e sociedade civil na produção da saúde, ou
seja, na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas
e programas de saúde.
[...]
Os princípios organizativos do SUS são:
• a intersetorialidade, que prescreve o comprometimento dos diversos setores
do Estado com a produção da saúde e o bem-estar da população;
• a descentralização político-administrativa, conforme a lógica de um sistema
único, que prevê, para cada esfera de governo, atribuições próprias e comando
único;
• a hierarquização e a regionalização, que organizam a atenção à saúde
segundo níveis de complexidade – básica, média e alta –, oferecidos por área de
abrangência territorial e populacional, conhecidas como regiões de saúde; e
• a transversalidade, que estabelece a necessidade de coerência,
complementaridade e reforço recíproco entre órgãos, políticas, programas e
ações de saúde49
.
(destaque nosso)
Mediante os princípios supracitados, era de se esperar que o SUS, enquanto
sistema público de saúde num Estado Democrático de Direito, promovesse o acesso
universal ao direito à saúde a toda a população. Porém, apesar de já contar com mais de
vinte anos de implementação, a realidade ainda não é essa. Segundo publicação do MS:
48
BRASIL. Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de dez. 1990. 49
BRASIL, MS, 2007b, p. 8.
29
[...] a consolidação do SUS, como um sistema de atenção e cuidados em saúde,
não é suficiente para a efetivação do direito da população à saúde. São claras as
evidências que apontam para os limites da atuação de um sistema de assistência.
A conquista da saúde precisa estar articulada à ação sistemática e intersetorial do
Estado sobre os determinantes sociais de saúde, ou seja, o conjunto dos fatores
de ordem econômico-social e cultural que exercem influência direta ou indireta
sobre as condições de saúde da população50
.
O SUS possui as seguintes diretrizes: descentralização, com administração
única em cada esfera de governo e ênfase na municipalização das ações e serviços de
saúde; o atendimento integral, com definição das prioridades dentro de cada nível de
atenção (básica, média e alta complexidade); participação da comunidade, por meio dos
representantes que integram os Conselhos de Saúde.
São também pressupostos do SUS: a essencialidade, na qual a saúde figura
como direito fundamental do cidadão e como função do Estado; a universalidade, sendo a
saúde um direito de todos; a integração, com participação conjunta e articulada das três
esferas de governo no planejamento, financiamento e execução; a regionalização, pelo
atendimento realizado mais próximo do cidadão, preferencialmente pelo município; a
diferenciação, perante a autonomia da União, dos Estados e dos Municípios na gestão, de
acordo com as suas características; a autonomia, com a gestão independente dos recursos
nas três esferas de governo; o planejamento, mediante a previsão de que os recursos da
saúde devem fazer parte do orçamento da Seguridade Social nas três esferas de governo; o
financiamento, garantido com recursos das três esferas de governo e o controle das ações e
serviços de saúde51
.
Para a elaboração de políticas públicas que garantam a defesa da dignidade
da pessoa humana, propiciando o acesso ao direito à saúde sem qualquer distinção, o
Estado deve se guiar pelos princípios, diretrizes e pressupostos acima apontados.
Não é demais repetir que o direito à saúde não se restringe ao atendimento
médico, sendo os serviços oferecidos pelo SUS definidos a partir de determinantes sociais.
50
BRASIL, MS, 2007b, p. 10. 51
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Gestão Financeira do Sistema Único de Saúde:
manual básico. 3 ed. rev. e ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. (Série A. Normas e Manuais
Técnicos), p. 12.
30
Isso inclui a assistência farmacêutica52
, por meio da qual o Estado garante o acesso às
tecnologias farmacêuticas disponíveis e incorporadas pelo sistema público.
De acordo com os artigos 6º e 7º da LOS, as assistências terapêutica e
farmacêutica devem ser garantidas integralmente aos cidadãos brasileiros, conforme o
princípio da integralidade de assistência.
Por hora, importa ressaltar que o Estado, tendo na cidadania um elemento
norteador da política de saúde, deve ser capaz de organizar o SUS para que este realize a
universalidade e integralidade do atendimento como uma garantia da equidade, ambos os
princípios instituídos pela CF/88 no âmbito do direito à saúde.
1.3 ACESSO A MEDICAMENTOS COMO UMA FACETA DO DIREITO À SAÚDE
Ainda que o direito à saúde envolva uma série de determinantes sociais e
não se resuma à cura de doenças, geralmente, o ser humano se lembra de questionar este
seu direito individual quando aflito por alguma enfermidade da qual necessite tratamento,
o que, em regra, é feito por meio de medicamentos.
Daí a relevância do acesso aos medicamentos como uma faceta do direito à
saúde, motivo pelo qual a LOS instituiu no sistema público de saúde brasileiro as políticas
citadas no tópico anterior. Não se trata apenas da tecnologia que demanda o maior gasto
público, tanto em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) quanto em políticas de assistência,
mas também é a tecnologia com a maior demanda de ações judiciais na área da saúde,
conforme dados do MS.
A política de distribuição gratuita e universal de medicamentos, não apenas
foi reconhecida como dever do Estado quando da promulgação da CF/88, como também
ganhou força perante ações de Organizações não Governamentais (ONGs) junto aos órgãos
do governo, além de alianças com parlamentares e da visibilidade das ações judiciais para
52
A preocupação, legislativa, com o acesso a medicamentos data de antes de 1988. Entre 25 de junho de
1971 até 1997, vigorou o Decreto nº 68.806, responsável pela aquisição e distribuição de medicamentos
para a sociedade de forma centralizada. Em decorrência das políticas de municipalização, esta sistemática
foi abolida, restando a situação ser administrada pelo SUS. Cf. CARVALHO, 2007, p. 87.
31
garantia dos medicamentos, por meio da imprensa e dos meios de comunicação, a partir do
final dos anos 80.
Antes desse período, a dispensação de medicamentos era feita pelo Estado
apenas para pessoas cadastradas na rede pública, o que dava margem à sua comercialização
ilegal, já que pacientes pobres cadastrados vendiam para quem podia pagar53
.
No que tange ao acesso a medicamentos, há que se priorizar os princípios da
não-discriminação e igualdade, os quais implicam o estabelecimento de políticas voltadas a
grupos vulneráveis e desfavorecidos da população, inclusive, identificando fatores sociais e
culturais que limitem ou impeçam o acesso desses grupos. Além disso, num sistema de
financiamento público, é obrigação do Estado a dispensação, no mínimo, de medicamentos
essenciais, conforme orientação da OMS:
Por meio de um processo inclusivo de participação, exige-se que o Estado
prepare uma lista nacional de medicamentos essenciais, com base na Lista de
Medicamentos Essenciais da OMS. Se o Estado declinar de sua competência de
preparar uma lista nacional, o modelo oferecido pela OMS será auto-aplicável no
âmbito interno, obviamente sujeito às revisões necessárias em cada contexto
nacional. Tornar disponíveis e acessíveis em todo o território os medicamentos
essenciais que constam da lista nacional é uma obrigação central do Estado que
deve ser concretizada de imediato e não progressivamente. Em suma, o direito à
saúde abrange tanto o acesso a medicamentos essenciais, quanto àqueles
considerados não essenciais. Embora quanto a estes, o Estado possua o dever de
viabilizar progressivamente o seu acesso; quanto àqueles, o Estado possui a
obrigação de torná-los imediatamente disponíveis e acessíveis em todo o
território nacional54
.
Nos últimos anos, comitês internacionais vinculados à OMS, bem como
organizações da sociedade civil e acadêmicos, têm tentado analisar o direito à saúde de
maneira sistêmica, de forma a propiciar a compreensão e aplicação concreta deste direito
em políticas, programas e projetos de saúde, propondo sua formação com dez elementos
chaves, que podem ser sintetizados da seguinte maneira:
(a) Identificação das leis, normas e padrões sobre direitos humanos nacional e
internacionalmente; (b) Reconhecimento de que o direito à saúde está sujeito a
limitações materiais e a uma implementação progressiva, o que requer a
53
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. O
Remédio via Justiça: Um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em HIV/AIDS no Brasil
por meio de ações judiciais. Brasília: Ministério da Saúde. 2005, p. 20. 54
HUNT, Paul; KHOSLA, Rajat. Acesso a medicamentos como um direito humano. Sur, Revista
Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 5, n. 8, jun. 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452008000100006&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 14 dez. 2011.
32
identificação dos indicadores e parâmetros capazes de medir os avanços
alcançados (ou a falta deles) ao longo do tempo; (c) Apesar deste último aspecto,
reconhecimento de que algumas obrigações decorrentes do direito à saúde não
estão sujeitas a restrições orçamentárias, nem tampouco à implementação
progressiva; ao contrário, impõem deveres exigíveis de imediato, como, por
exemplo, a obrigação de evitar a discriminação de fato ou a discriminação
perante a lei; (d) Reconhecimento de que o direito à saúde engloba tanto
liberdades ou direitos de natureza negativa (tais como, o direito a não ser
submetido a tratamentos não consentidos e a não participar de exames clínicos
não acordados), quanto direitos de caráter positivo (como, por exemplo, o direito
a um sistema de tratamento e proteção da saúde). Na maioria das vezes, as
liberdades não possuem implicações orçamentárias, ao passo que os direitos de
caráter positivo sim; (e) Todos os serviços, bens e aparelhos em saúde devem
estar disponíveis, serem acessíveis, culturalmente aceitáveis e de boa qualidade;
(f ) Os Estados possuem o dever de respeitar, proteger e cumprir com as suas
obrigações decorrentes do direito a desfrutar do mais elevado nível possível de
saúde; (g) Em razão de sua extrema importância, a estrutura analítica demanda
uma atenção especial quanto à não discriminação, igualdade e vulnerabilidade de
certos grupos; (h) O direito à saúde exige que sejam criados mecanismos de
participação ativa e bem instruída de indivíduos e comunidades no processo de
decisão que diz respeito a sua saúde; (i) Países em desenvolvimento possuem a
responsabilidade de buscar assistência e cooperação internacionais, ao passo que
os Estados desenvolvidos carregam a responsabilidade de auxiliar os países em
desenvolvimento na implementação do direito à saúde; e (j) O direito à saúde
exige que se estabeleça mecanismos efetivos, transparentes e acessíveis de
monitoramento e responsabilização nos âmbitos nacional e internacional55
.
A aplicação concreta das políticas em questão cabe ao Poder Executivo, já
que um dos princípios norteadores de um Estado constitucional é a divisão de poderes,
com distribuição de competências entre órgãos diferentes e direcionados. Todavia, essa
compreensão tem sido mitigada no sistema atual, no qual se tem preferido a “colaboração”
à “separação” de poderes56
.
O Estado constitucional democrático de direito brasileiro, representado pelo
governo soberano da população (regido pela tripartição de poderes), pauta-se no respeito
aos direitos fundamentais. Quando há uma vulneração de tais direitos, cabe ao Judiciário
agir, exclusivamente, no intuito de preservar o direito fundamental violado previsto pela
Constituição, ou dar cumprimento a alguma lei, não podendo o magistrado agir meramente
em defesa de suas convicções pessoais.
Mas a jurisprudência, a despeito da previsão constitucional de planejamento,
por meio da implementação de políticas públicas, tem entendido que o cumprimento da lei,
em casos de fornecimento de medicamentos pelo Estado, deve ser absoluto e irrestrito,
como aduz Lopes:
55
HUNT; KHOSLA, 2008. 56
SILVA, José Afonso, 2007, p. 106-109.
33
Curiosamente, o art. 196 da CF é sempre citado apenas na sua primeira parte.
Omitem-se da citação todos os outros termos do artigo, que na sua versão
integral diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”. Como se vê, uma leitura completa mostra
que a garantia do “direito à saúde” prevista na Constituição é feita mediante
“políticas” que têm dois objetivos: redução do risco (ou seja, diminuição
estatística) e acesso universal. Pode-se, portanto, entender que o dever do Estado
consiste em realizar e executar programas (ações coordenadas, integradas e de
resultados mensuráveis) limitadas pelo objetivo de acesso universal. O problema
do acesso universal nunca é discutido pelos tribunais nos casos dramáticos e
urgentes de pedidos individuais de medicamento57
.
Em abril e maio de 2009, em decorrência de diversos pedidos de suspensão
de determinações judiciais que ordenaram ao SUS o fornecimento de medicamentos e
próteses, bem como realizar procedimentos médicos e cirurgias, entre outros, o STF
convocou audiências públicas, nas quais foram ouvidos representantes de instituições e
especialistas da área da saúde. A ideia do STF era discutir: a responsabilidade do Estado
em matéria de direito à saúde; sua obrigação de custear prestações de saúde não abrangidas
pelas políticas públicas existentes; e as eventuais fraudes ao SUS58
.
Na ocasião, o então Advogado-Geral da União e hoje Ministro do STF, José
Antônio Dias Toffoli, sustentou que a interferência do Poder Judiciário no âmbito da saúde
poderá gerar sérios riscos para as políticas públicas, mediante a judicialização
indiscriminada do tema. Dias Toffoli defendeu que a elaboração de políticas públicas
pressupõe o estabelecimento de escolhas, sendo, portanto, tarefa do Poder Público
determinar quais tratamentos e medicamentos serão garantidos a toda a sociedade, o que
não significa inviabilizar o direito à saúde. Sustentou ainda que as decisões judiciais que
garantem fornecimento de remédios e tratamentos a indivíduos criam um sistema de saúde
paralelo ao SUS, priorizando o atendimento a pessoas que muitas vezes sequer procuraram
o sistema59
, indo diretamente ao Poder Judiciário.
57
LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos Sociais: teoria e prática. São Paulo: Método, 2006, p. 250. 58
SCHEFFER, Mário. Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos medicamentos para
tratamento da AIDS no Sistema Único de Saúde. In: KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo; DE PAULA,
Silvia Helena Bastos; BONFIM, José Ruben de Alcântara (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção
do direito à saúde. São Paulo: Instituto de Saúde, 2009. (Série Temas em Saúde Coletiva, 10), p. 130. 59
TOFFOLI, Antônio Dias. Audiência Pública – Saúde. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 27 abr. 2009. O
ACESSO ÀS PRESTAÇÕES DE SAÚDE NO BRASIL – desafios ao Poder Judiciário. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Sr._Min._Jose_Antonio_Dias_
Toffoli__Advogado_Geral_da_Uniao_.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2010.
34
Quanto a essas decisões, estudos do MS atestam que elas são
demasiadamente influenciadas pela pressão popular sobre o sistema de saúde. Por meio de
atos públicos a sociedade demonstra seu interesse em modificar a situação atual. Exemplo
disso foi a pressão para efetividade das políticas de acesso gratuito e universal aos
medicamentos antirretrovirais, conforme relato descrito:
Em Campinas/SP, no dia 14 de agosto de 1995, 40 manifestantes, entre
portadores do HIV e familiares, ocuparam o paço municipal para reivindicar o
coquetel. No dia 26 de setembro, inúmeras ONGs protestaram contra a falta dos
novos medicamentos jogando litros de uma mistura que simulava sangue em
frente às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo. A Avenida
Paulista, em São Paulo, foi palco de grande ato no dia 1° de dezembro do mesmo
ano, com dezenas de corpos estendidos pelo chão. Atos semelhantes pipocavam
país afora e extrapolavam o âmbito dos grupos organizados. O estilista carioca
Luiz de Freitas, por exemplo, colocou no final de seu desfile 15 portadores do
HIV em protesto pelo preço e dificuldade de acesso aos medicamentos. Já o
cenógrafo José Roberto de Godoy fez um protesto no Pavilhão da Bienal, em
São Paulo. Nu, em meio a caixas de medicamentos, protestou contra a falta dos
anti-retrovirais60
.
A excessiva demanda de ações sobre direito à saúde denomina-se
“judicialização da saúde”. Para a devida compreensão deste fenômeno, as ações que
demandam antirretrovirais configuram estudos de casos emblemáticos61
, vez que delas
resultou a política brasileira de distribuição de medicamentos anti-HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana), que é, inclusive, modelo internacional.
Contudo, embora seja cada vez maior a disponibilidade desses
medicamentos no mercado, ainda existem barreiras de ordem econômica e alguns
mecanismos de decisões do sistema de saúde que repercutem na velocidade da
incorporação de novos fármacos. O que reflete na recorrência dessas ações, no intuito de
obrigar o Poder Público ao fornecimento de todos os medicamentos prescritos.
Pesquisas mostram que os gastos do MS com medicamentos cresceram
123,9% no período de 2002 a 2006, o que se revela um percentual de gastos com saúde
discrepante dos demais, sendo um fator preocupante, em decorrência da necessidade da
60
BRASIL, MS, 2005, p. 23. 61
SCHEFFER, 2009, p. 130.
35
União ampliar o orçamento para cobrir as despesas nessa área, possivelmente, cortando
gastos em outros setores62
.
Apesar da aparente evolução no que respeita à incorporação e acesso de
novos fármacos pelo SUS, há que se realizar um estudo mais apurado dos fatores que
levaram à discrepância citada, para saber se os gastos crescentes nessa área eventualmente
resultaram na violação de direitos fundamentais de alguma parcela da sociedade.
Não se pode tomar os avanços tecnológicos por uma panacéia, para a qual
se dirijam todos os recursos disponíveis, em detrimento de uma adequada investigação
etiológica, que conceda ao médico respaldo para melhor atuação, o que nem sempre resulta
na terapia mais onerosa. No entanto, essa tem sido a realidade atual na saúde:
A medicina tecnológica altera a fase de elaboração do diagnóstico e, no mesmo
sentido, o ato terapêutico. O verdadeiro médico não é mais aquele que assiste ao
paciente, mas sim o que cura a doença. Os inesgotáveis recursos terapêuticos
produzidos por uma ávida indústria de remédios associados aos novos
equipamentos para diagnóstico fazem da clínica uma prática superada. A
medicina será exercida cada vez mais por especialistas em áreas cada vez
menores do conhecimento. Subespecialistas e alta tecnologia são as
características da medicina moderna, entronizada como a verdadeira "medicina
científica". O "deus-tecnologia" deslocou a esfera do poder e, assim, os pacientes
não mais se submetem à figura pessoal do médico, mas surge uma subordinação
impessoal ao novo saber científico. Confia-se na medicina tecnológica e
desconfia-se dos médicos63
.
Há alternativas terapêuticas, que são medicamentos de mesmo subgrupo
farmacológico, que pertencem às listas de financiamento público e podem ser
intercambiáveis com os medicamentos demandados judicialmente64
. Porém, nos últimos
anos as decisões judiciais têm caminhado no sentido de considerar essencial o exato
medicamento prescrito pelo médico, sem solicitar qualquer tipo de parecer técnico
complementar à prescrição, deferindo indiscriminadamente, à revelia de estudos mais
apurados, a dispensação de medicamentos de alto custo pelo Estado.
62
MENDES, Andrea Cristina Rosa; VIEIRA, Fabíola Sulpino. Evolução dos gastos do Ministério da Saúde
com Medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/estudo_gasto_medicamentos.pdf>. Acesso em: 01 nov.
2011. 63
SIQUEIRA, José Eduardo de. A Evolução Científica e Tecnológica, o Aumento dos Custos em Saúde e a
Questão da Universalidade do Acesso. Bioética, Simpósio A Ética da alocação de recursos em saúde,
Brasília, v. 5, n. 1, p. 41-48, 1997. Disponível em:
<http://seer.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/364/464>. Acesso em: 13 out. 2010. 64
PEPE, Vera Lúcia Edais; VENTURA, Miriam (Org.). Manual indicadores de avaliação e monitoramento
das demandas judiciais de medicamentos. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca, 2011, p. 58.
36
No que respeita a tais estudos, o MS, por meio de um manual, orienta quais
passos devem ser seguidos na elaboração de um parecer técnico sobre ATS, bem como os
fatores que devem ser considerados. “O Parecer Técnico Científico (PTC) é o primeiro
passo no processo de avaliação de demandas pela incorporação de novas tecnologias65
”.
Ressalte-se que o PTC não é útil apenas para avaliação em razão da incorporação de novas
tecnologias, mas também, para analisar a conveniência da manutenção de uma tecnologia
já estabelecida bem como eventuais adaptações de seu uso.
Considerando-se a cientificidade dos pareceres emitidos a partir da
metodologia indicada pelo MS, um PTC poderia subsidiar decisões judiciais complexas,
sobretudo, concernentes aos medicamentos de alto custo. Todavia, alguns pontos devem
ser sopesados nesse sentido, como por exemplo, o risco de lesão ou morte perante a
demora de uma decisão judicial sobre dispensação de medicamentos.
1.3.1 Ponderações necessárias no Acesso ao Direito Social à Saúde
Apesar de ser um dos bens mais importantes do ser humano, a saúde tem
preço e, por conseguinte, limites66
, os quais devem ser impostos (reconhecidos) em
políticas públicas através de critérios de alocação eficientes e justos.
Considerando-se a escassez de recursos, a priori, há que se valorar a saúde
em relação a outros interesses da sociedade, para se determinar o montante reservado para
políticas nesta área social, em detrimento de outras. Com os recursos determinados,
priorizam-se áreas da saúde para atendimento às diversas necessidades da população (ou às
principais). Nesse sentido, importa dizer que:
[...] ao Poder Judiciário cabe apenas a interpretação e aplicação da norma e não a
valoração do que seja saúde ou vida com dignidade, valores que, assim como
outros, já o foram valorados pelo legislador. E mais, esta valoração foi realizada
pelo constituinte originário em respeito à construção internacional dos direitos
humanos. É possível ao magistrado agir socialmente em nome de conceitos
65
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas para elaboração de pareceres técnico-científicos para o
Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007a. (Série A. Normas e Manuais Técnicos), p. 11. 66
Ao que a doutrina denomina “reserva do possível”, que são os limites orçamentários previstos pela
legislação, ou seja, não é possível ao Estado concretizar direitos (individuais) que exijam esforços
materiais e/ou financeiros desproporcionais (em relação ao interesse público).
37
amplos e subjetivos, sem que lhe seja indicado o adjetivo de alternativo, visto
que este agir social é diretriz da própria Constituição. Em sendo assim, o seu agir
é conforme a Constituição67
.
O direito à saúde fatalmente contém aspectos sociais e individuais, na
medida em que cuida de limitações a eventuais condutas nocivas à sociedade e garante, a
cada ser humano, individualmente, bem-estar e qualidade de vida, sendo ao mesmo tempo
dependente e condicionante da maioria dos direitos fundamentais68
.
No entanto, o fato de ser constitucionalmente garantido não o torna absoluto
ao indivíduo em detrimento do social. Deve ser reconhecida a possibilidade de restrição e
regulamentação de todo e qualquer direito fundamental, em situações nas quais haja
justificativa social para tanto. Nesse sentido:
Se toda não-realização de direitos que exigem uma intervenção estatal é uma
forma de restrição ao âmbito de proteção desses direitos, a consequência natural,
como ocorre em todos os casos de restrições a direitos fundamentais, é uma
exigência de fundamentação. Restrição fundamentada é restrição possível;
restrição não fundamentada é violação. [...] para dar ensejo a alguma intervenção
do Judiciário nesse âmbito, não basta que se verifique que uma ação que poderia
eventualmente realizar um direito fundamental não tenha sido realizada – por
exemplo, a compra de remédios para combater determinada doença; é
necessário, além dessa verificação, que se analise se há, ou não há,
fundamentação jurídico-constitucional para a omissão. Somente nos casos de
omissão infundada é que se poderia imaginar alguma margem de ação para os
juízes nesse âmbito69
.
Então, cabe indagar se é suficiente proporcionar o básico para todos, para
que haja justiça social, ou se o essencial (sem o qual qualquer ser humano não sobrevive) é
sempre mais importante, mas não é suficiente, culminando na discussão sobre o mínimo
existencial70
. No caso do direito à saúde, o grande nó da questão é que o essencial nem
sempre é o mais importante.
Atenção primária à saúde, por exemplo, não é suficiente perante o
diagnóstico de um tipo raro de câncer, ou de doenças raras como a Doença de Wilson ou a
Síndrome de Guillain-Barré, dentre outras. O que tem desencadeado homéricas discussões
67
CARVALHO, 2007, p. 72. 68
DALLARI, 1988a, p. 59. 69
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. 2. tir.
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 251. 70
O que a doutrina entende como o núcleo essencial dos direitos humanos, ou seja, os direitos mínimos que
devem ser garantidos para que a dignidade humana seja preservada, que podem ser entendidos como o
conteúdo essencial dos direitos sociais, mas que, não necessariamente se confundem com a totalidade
destes direitos. Idem, passim.
38
judiciais em razão das limitações orçamentárias, nomeadamente em se tratando de
inovações tecnológicas caras, cujo acesso não é universal.
Cogita-se, portanto, a possibilidade do Judiciário controlar a
constitucionalidade de determinadas políticas de saúde pública. Como fizeram os Ministros
do STF, ao considerar (em várias decisões) que negar um medicamento de alto custo a um
indivíduo, ainda que o Estado não tenha previsão orçamentária para tanto, é atitude
inconstitucional, não condizente com a proteção à vida humana garantida pela CF/88.
Não se trata aqui da constitucionalidade de aplicação de leis, mas de
consequências inconstitucionais do ato administrativo, o que deve ser analisado à luz da
reserva do possível, quando há colisão entre um direito individual e o interesse da
sociedade (de forma abrangente). Logo:
Os direitos fundamentais, muito embora, por natureza, devam sempre ser
maximizados, interpretados ampliativamente, não são absolutos, e sim,
limitáveis. Isso se dá, a toda evidência, em virtude da possibilidade de ocorrência
do fenômeno da colisão de direito. É de se vislumbrar, com efeito, que, no plano
concreto, dois direitos exercidos por titulares distintos venham a se chocar,
colidir. Note-se que, neste momento, se contempla o choque de posições
subjetivas, ambas com assento na Constituição. Não há que se apontar, neste
caso, a prevalência de um direito fundamental sobe outro. Nem tampouco que
outro direito, ainda que não fundamental, mas de patamar constitucional, deva
ser anulado, rejeitando-se uma eficácia mínima à norma que o protege. Os
direitos envolvidos na colisão vão reciprocamente se impor limites, para que
ambos subsistam aplicáveis e efetivos na situação concreta71
.
Impende ressaltar que os direitos fundamentais individuais podem sofrer
restrição (de forma fundamentada e em determinadas hipóteses) em nome do interesse
coletivo, por meio da ponderação, que consiste em técnica de decisão jurídica aplicável a
casos difíceis, nos quais a simples subsunção do fato à norma se mostrou ineficaz, pedindo
uma valoração de princípios. Logo:
Constatado, portanto, um conflito entre dois (ou mais) princípios constitucionais
que se aplicam na resolução de um mesmo caso concreto, o aplicador do direito
terá que, obrigatoriamente, adotar uma solução que tenha por paradigma
(critério) o respeito maior à dignidade humana, assim, nenhuma ponderação
pode implicar em amesquinhamento da dignidade da pessoa humana, uma vez
que o homem não é apenas um dos interesses que a ordem constitucional
protege, mas a matriz axiológica e o fim último desta ordem72
.
71
DALLARI; NUNES JÚNIOR, 2010, p. 41. 72
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2000, p. 76.
39
Quanto ao direito ao acesso a novas e onerosas tecnologias medicamentosas,
é preciso sopesar se o direito à vida e dignidade humana o inclui de forma ilimitada, já que
uma atuação estatal nesse sentido, inevitavelmente sacrificaria outros direitos sociais,
também dependentes de orçamento público para sua realização73
.
Contudo, considerando ser o acesso ao medicamento uma das formas de
realização do direito à saúde, o Judiciário tem entendido que sua satisfação plena deve ser
acatada, como efetividade dos princípios constitucionais. Nesse sentido foi o julgamento
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 45:
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais
do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de
formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”,
p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência,
no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder
Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem
os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar,
presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o
caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política “não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por
um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE
MELLO)74
. (destaque nosso).
73
AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang;
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008. 74
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A
questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de
implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental.
Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade do
arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de
conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do possível”. Necessidade de
preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do
“mínimo existencial”. Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo de
concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração). ADPF 45. Relator:
Min. CELSO DE MELLO, Brasília, 29 de abr. 2004. RTJ, [Brasília], v.200, p. 191, mai, 2004.
40
1.3.2 Análise do posicionamento do Supremo Tribunal Federal
Em julgados mais antigos a linha de argumentação predominante girava em
torno da reserva do possível, alegando-se que os recursos públicos seriam insuficientes
para atender às necessidades sociais. Portanto, o investimento de recursos em determinado
setor implicaria deixar de investi-los em outro, obrigando o Estado à tomada de decisões
difíceis75
. Esse posicionamento sofreu severas modificações ao longo dos anos.
Em que pese o fato do orçamento público estar sempre aquém da demanda
social por prestação de serviços, a hermenêutica imposta pela CF/88, tocante à defesa dos
direitos fundamentais, afasta a ideia da reserva do possível como justificativa para o Estado
se furtar às prestações sociais. O entendimento hodierno é de que o direito à saúde, como
pressuposto da garantia do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, deve ser
inequivocamente garantido.
Mas nem sempre as decisões do STF, tocantes ao fornecimento de
medicamentos pelo Poder Público, são devidamente fundamentadas. O que se percebe ao
longo dos últimos anos é que argumentos como restrição orçamentária ou escassez de
recursos foram paulatinamente deixados de lado, sem critério específico, a exemplo dos
resultados descritos em pesquisa realizada por Marques e Dallari no Estado de São Paulo76
.
A orientação jurisprudencial atual pauta-se quase exclusivamente no fato de
que o direito à saúde é pressuposto à vida e dignidade humana, princípio norteador do
75
BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva. 76
OBJETIVO: Analisar como o Poder Judiciário vem garantindo o direito social à assistência farmacêutica e
qual a relação do sistema jurídico e político na garantia a esse direito. MÉTODOS: Foram analisados os
processos judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Estado de São Paulo, de 1997 a 2004. Utilizou-
se o Discurso do Sujeito Coletivo para identificar os discursos dos atores que compõem os processos
judiciais. RESULTADOS: Os discursos dos juízes subsidiaram a condenação do Estado em 96,4% dos
casos analisados. O Estado foi condenado a fornecer o medicamento nos exatos moldes do pedido do autor,
inclusive quando o medicamento não possuía registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (9,6%
dos casos analisados). Observou-se que 100% dos processos estudados foram propostos por autores
individuais; em 77,4% o autor requer o fornecimento de medicamento específico de determinado
laboratório farmacêutico e; em 93,5% dos casos, os medicamentos são concedidos judicialmente ao autor
em caráter de urgência, por meio de medida liminar. CONCLUSÕES: O Poder Judiciário, ao proferir suas
decisões, não toma conhecimento dos elementos constantes na política pública de medicamentos, editada
conforme o direito para dar concretude ao direito social à assistência farmacêutica. E assim, vem
prejudicando a tomada de decisões coletivas pelo sistema político nesse âmbito, sobrepondo as
necessidades individuais dos autores dos processos às necessidades coletivas. Cf. MARQUES, Silvia
Badim; DALLARI, Sueli Gandolfi. Garantia do direito social à assistência farmacêutica no Estado de São
Paulo. Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 1, p. 101-107, 2007.
41
ordenamento jurídico brasileiro77
, não sendo passível de limitação quando ao conteúdo.
Motivo suficiente para o deferimento de uma ação que intenta o acesso a medicamentos de
alto custo não fornecidos pelo Estado, não devendo, portanto, ser contrastado com questões
menores como finanças públicas e orçamento78
.
Porém, urge ressaltar que, apesar da importância do Poder Judiciário como
guardião maior da Constituição e dos direitos fundamentais, ele não pode induzir à
“absolutização do direito à saúde”, desestabilizando toda a organização do sistema público
de saúde, culminando na ofensa ao princípio da isonomia, haja vista se tratar de um direito
misto: é fundamental originário, vez que garantido pela CF/88, mas é também derivado, já
que disciplinado por legislação infraconstitucional.
Nesse ínterim, a prestação jurisdicional para efetivação plena do direito não
deve ser buscada assistematicamente, devendo ser admitida, apenas, nos casos em que
fique evidenciada a inconstitucionalidade da regra que disciplina o direito
constitucionalmente previsto, o que pode ocorrer em três hipóteses distintas, quais sejam:
inércia do Poder Legislativo, descumprimento, pela Administração Pública, da legislação
que regulamenta o direito à saúde em qualquer âmbito e nos casos em que a
regulamentação do direito à saúde viole o direito constitucional originário à saúde.
[...] mesmo que o direito à saúde possa ser vislumbrado sob a perspectiva de um
direito de uma pessoa concreta a receber assistência individualizada e específica,
a dimensão social, a repercussão coletiva e a incidência de outros direitos
fundamentais na hipótese concreta devem ser levadas em conta. Afinal, não se
trata, em última análise, de ponderar o direito à saúde, e mesmo o direito à vida,
com princípios como o da legalidade e da separação de poderes; trata-se de
ponderar o direito à vida e à saúde de determinadas pessoas em face do direito à
vida e à saúde de outras pessoas79
.
77
“Diante dessas considerações, ficam os seguintes questionamentos: o que determina a existência ou não do
direito ao fornecimento de medicamentos pelo SUS? É o medicamento estar previsto em algum programa
do SUS? É a hipossuficiência do solicitante, independentemente de o remédio solicitado estar ou não na
lista do SUS? É a gravidade da doença para a qual se pede tratamento? Ou é o medicamento ter um custo
razoável e ter sido aprovado pelo órgão competente para assegurar sua qualidade e segurança? Pode ser
que não haja uma única resposta a essas perguntas e que o critério a nortear as decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre medicamentos não deva ser um só. É bem provável que de fato seja assim. O
desejável é que apenas haja mais clareza na utilização dos mútiplos critérios que vierem a ser apresentados,
para que para situações semelhantes seja dado tratamento assemelhado, sob pena de cada julgado ter suas
próprias razões, e a atuação do Supremo Tribunal Federal nenhuma racionalidade.” Cf. WANG, Daniel;
TERRAZAS, Fernanda. Decisões da Ministra Ellen Gracie sobre medicamentos. Sociedade Brasileira de
Direito Público, São Paulo, 19 jul. 2007. Disponível em:
<http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=66>. Acesso em: 11 abr. 2009. 78
AMARAL; MELO, 2008, p. 87. 79
MÂNICA, 2010, p. 108.
42
O alto número de demandas judiciais com pleitos similares referentes a
medicamentos fez com que o STF declarasse repercussão geral para alguns casos80
, que
ainda serão definitivamente julgados. Trata-se de um instituto introduzido no ordenamento
jurídico brasileiro pela EC 45/04, conhecida como a Reforma do Judiciário81
.
Dentre elas citam-se: o dever do Estado de fornecer medicamento de alto
custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo82
; a
legitimidade do Ministério Público (MP) para ajuizar ação civil pública que tem por
objetivo compelir entes federados a entregar medicamentos a portadores de certas
doenças83
; o bloqueio de verbas públicas para garantia de fornecimento de medicamentos
80
Repercussão Geral - Descrição do Verbete: A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na
Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do
Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os
Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou
econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à
Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e
a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos
idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema
informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do
Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema
deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a
relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são
consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. Glossário Jurídico: Repercussão Geral. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451>. Acesso em: 01 out. 2011. 81
Dentre outras modificações, a EC 45/04 modificou o art. 102 da CF/88, introduzindo o § 3º, o qual figura
com a seguinte redação: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: [...] § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o
Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de
seus membros. BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115,
125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e
130-A, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de dez. 2004. 82
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador
de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui
repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto
custo. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, 15 de novembro de 2007. Diário da Justiça,
Brasília, DF, 07 dez. 2007, v. 02302-08, p. 01685. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+5
66471%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+566471%2EPRCR%2E%29&base=base
Repercussao>. Acesso em: 01 out. 2011. 83
Recurso extraordinário em que se discute, à luz artigos 2º; 127; 129, II e III; 196; e 197, da Constituição
Federal, a legitimidade, ou não, do Ministério Público para ajuizar ação civil pública que visa compelir o
Estado de Minas Gerais a entregar medicamentos a portadores de hipotireoidismo e hipocalcemia.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS -
LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECUSA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a
controvérsia sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com objetivo de
compelir entes federados a entregar medicamentos a pessoas necessitadas. RE 605533. Relator: Min.
43
pelo Estado84
e o dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)85
.
Do exposto depreende-se que o direito à saúde tem sido entendido no meio
jurídico brasileiro como um direito ilimitado, considerando-se a saúde em seu contexto
unidimensional, como mera ausência de doença, ignorando as determinantes sociais que
pautam as políticas públicas, reduzidas ao atendimento médico. No entanto, não se pode
negar que os recursos públicos são limitados.
Lopes entende que essa situação decorre de cinco “constrangimentos
institucionais-estruturais” sofridos pelo Judiciário, que no intuito de defender direitos
fundamentais acaba por desestabilizar o sistema:
(1) os juízes aceitam, na sua maioria e nos seus órgãos mais representativos, as
opiniões comuns da sociedade (as opiniões mainstream) e, acrescento eu, do
pensamento jurídico profissional de seu tempo; (2) os conflitos sociais que lhes
chegam pedem, no entanto, soluções de reforma social, não de garantia do status
quo; (3) aos tribunais faltam os meios institucionais (como um corpo técnico)
para executar e monitorar decisões que impliquem (exijam) programas de ação
continuada (políticas públicas); (4) como os tribunais não podem agir de ofício,
ou seja, não atuam senão por provocação (ne procedat iudex sine auctorem), os
programas de reforma não apenas não podem ser executados por eles, como dito
no item anterior, como também não podem ser iniciados por eles; isto faz com
que os tribunais ajam apenas conforme interesses episódicos e descoordenados, e
sejam proibidos de ter uma agenda de reformas – sua agenda não é ditada por
eles e não tem, portanto, unidade; (5) finalmente, o argumento bastante comum e
importante: os tribunais não têm poderes institucionais para alocar livremente
recursos orçamentários e, em caso de necessidade, não têm o poder de criar
Marco Aurélio. Brasília, 01 de abril de 2010. Diário da Justiça, Brasília, DF, 30 abr. 2010, v. 02399-09, p.
02040. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3791720&
numeroProcesso=605533&classeProcesso=RE&numeroTema=262#>. Acesso em: 01 out. 2011. 84
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 100, § 2º; e 167, II e VII, da Constituição
Federal, a possibilidade, ou não, de bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de
medicamentos. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. RE 607582. Relator(a): Min. Ellen Gracie. Brasília, 13 de agosto de 2010. Diário da Justiça,
Brasília, DF, 27 ago. 2010, v. 0412-06, p. 01185. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3819070&
numeroProcesso=607582&classeProcesso=RE&numeroTema=289>. Acesso em: 01 out. 2011. 85
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, II e § 2º; e 204 da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não
registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Reconhecida repercussão geral em
18.11.2011. (RE 657718). Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4143144>. Acesso em: 27
dez. 2011.
44
novas formas de financiamento público, constrangendo sua atuação em
programas de reformas propriamente ditos86
.
Fato é que o acesso a novas tecnologias (medicamentosas) tem sido
propiciado pelo Judiciário à revelia de estudos mais acurados que proporcionem equidade
nesse acesso, donde decorre a relevância da ATS como fundamento para tomada de
decisões. Pareceres técnicos, pautados em estudos de cunho científico, devem ser
considerados além das meras prescrições médicas apresentadas pelos autores das ações, já
que as decisões de magistrados, que não são médicos nem gestores de saúde pública,
podem resultar em prejuízos à implantação de políticas nessa área. Nesse sentido:
[...] o que queremos é aumentar a participação do Judiciário na garantia do
direito à saúde, mas o que não queremos é transformar o juiz em médico ou
gestor público. Nós queremos que ele seja um operador do Direito do Século
XXI; que ele verifique, portanto, a adequação de cada ato normativo que compõe
a política de saúde, a Constituição e as leis87
.
1.3.3 Reflexos da atuação do Judiciário
Em análise de decisão proferida pelo STF, que garantiu a um cidadão
portador de hipertensão arterial o fornecimento pelo estado de quatro drogas de alto custo,
Tanaka demonstra que o princípio ativo dessas drogas está presente em outros
medicamentos incorporados e fornecidos pelos SUS, podendo perfeitamente ser
substituídos pelos seus similares, em nada prejudicando o tratamento do paciente e
evitando um dispêndio desnecessário ao orçamento público:
Nesse contexto, estritamente programático assistencial, e não clínico individual,
podemos identificar que a prescrição medicamentosa em litígio definida pela
resolução do judiciário, em realidade, está contemplada pelas normas e
protocolos definidos pelo SUS. Então para que a determinação judicial, se, em
princípio, todos os medicamentos na ação judicial têm um análogo padronizado
dentro do SUS? O conflito que se apresenta está diretamente relacionado aos
princípios do SUS de universalidade versus equidade. Estes princípios
primordiais têm sido garantidos na assistência farmacêutica por meio da
definição e pactuação entre as três esferas de governo para garantir os três grupos
de medicamentos especificados acima, quais sejam: os da atenção básica, os
estratégicos e os excepcionais. Estes três grupos de patologias abarcam os de
maior freqüência e maior relevância e transcendência em termos de saúde
pública brasileira. Recursos financeiros consideráveis e com incremento
exponencial têm sido investidos para garantir a universalidade da atenção. No
entanto, tendo em vista que todo o provimento de medicamentos no sistema tem
86
LOPES, 2006, p. 238. 87
DALLARI, 2009.
45
a mesma fonte de financiamento, temos um dilema. Ao prover, via judicial,
medicamentos não padronizados e habitualmente mais caros, sem evidências que
os efeitos na doença sejam realmente melhores, estaremos destinando mais
recursos per capita a poucos em detrimento de garantir para a maioria os
medicamentos essenciais para controle das doenças mais freqüentes. Por
conseguinte, toda vez em que houver uma dispensação medicamentosa que esteja
fora da padronização corremos o risco de alterar uma alocação de recursos
financeiros para poucos em detrimento de benefícios que poderiam destinar-se a
muitos cidadãos. Cabe lembrar que as padronizações e os protocolos clínicos
estão baseados em evidências científicas comprovadas por análises estatísticas
disponíveis na literatura científica88
.
Num Estado Democrático de Direito é normal que decisões judiciais
influam nas tomadas de decisões no âmbito das políticas públicas de saúde, o que deve
ocorrer quando pertinentes a ações coletivas. Entretanto, o que se tem presenciado são
decisões individuais definindo políticas públicas em matéria de assistência farmacêutica.
Pior que isso, evidenciam-se decisões extravagantes, despidas de critérios
médico-científicos, que concedem até mesmo o acesso a medicamentos experimentais ou
de eficácia duvidosa, sem também aferir firmemente a qual entidade estatal deve se
reportar o solicitante89
, o que acarreta elevação dos gastos públicos e perda de função da
prestação jurisdicional90
. E essas decisões têm sido pautadas na inviolabilidade do direito à
saúde como pressuposto à dignidade humana, conforme previsto pela CF/88.
Ao abordar o aspecto democrático do controle de constitucionalidade, pode-
se entender que o tema é melhor atendido pelo juiz e não pelo legislador, que cuida mais de
aspectos sociais gerais. O que é complicado afirmar em se tratando da saúde, já que
88
TANAKA, 2008. 89
Nesse contexto cabe referência a um parecer emitido pela Consultoria Jurídica (CONJUR) do MS, no qual
afirma que a propositura de ações judiciais na área da saúde parte do princípio de que a responsabilidade
entre os entes estatais é solidária, fazendo com ações sejam propostas indistintamente contra qualquer um
ou todos os entes, conforme a conveniência do autor. Severos conflitos de competência são gerados em
razão disso, o que pode levar, inclusive, ao perecimento do direito fundamental pleiteado (direito à saúde),
perante a demora da solução para a questão processual. Segundo a jurista, o princípio da descentralização,
previsto pelo art. 198, I, da CF/88, remete a execução das ações e serviços públicos de saúde para os entes
locais (os Municípios), os quais, mais próximos do cidadão, teriam melhor condição de ampará-los. Este
entendimento ainda estaria consonante aos artigos 23, II e 30, VII da Carta Magna, figurando, então, uma
situação de subsidiariedade. A desconsideração dos princípios de descentralização e hierarquização na via
judiciária pode ter consequências como: o não cumprimento da decisão ou o cumprimento em duplicidade,
o que, além de gerar prejuízo ao erário, perante a desorganização de todo o planejamento político na área,
também viola o direito de acesso à saúde. ALVES, Alessandra Vanessa. Atribuições da União na
prestação do direito à saúde. Brasília, 31 mar. 2009. 22p. Parecer nº _/2009. AGU/CONJUR-MS/AVA.
Disponível em: <http://189.28.128.59/portalsaude/texto/3267/659/sobre-acoes-judiciais.html>. Acesso em:
10 jan. 2012. 90
BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva.
46
decisões individuais podem sobrecarregar o sistema, por mais dignas que sejam as
intenções dos magistrados.
Todavia, não há que se olvidar que um grande número de demandas
individuais com o mesmo objeto, de fato culminam na implantação de uma política pública
mais efetiva91
. É uma ponderação que merece ser feita, se o intuito é chegar a alguma
conclusão sobre instrumentos que garantam equidade e justiça social na incorporação de
tecnologias em saúde.
Em se tratando da razoabilidade em saúde pública, quando se discute meios
para aplicação de um direito dentro de uma margem de apreciação, no que tange ao acesso
a novos medicamentos, por exemplo, é preciso sopesar a adequação das necessidades mais
urgentes das pessoas desprovidas de recurso no sistema92
. Já que as políticas públicas, em
geral, ao buscar equidade, acabam por ser razoáveis em médio e longo prazo.
Ainda sim, maior importância tem a discussão, não dos meios de aplicação
de um determinado direito, mas, sobre quais são realmente os direitos mínimos
existenciais. E é preciso lembrar que no caso da saúde, a despeito de ser a equidade um
princípio do SUS, ela não oferece parâmetros para discutir o conteúdo de um direito que,
embora determinado pela Constituição, é amplo e genérico, o que muitas vezes obsta a
razoabilidade nas decisões judiciais.
Em razão desse óbice à razoabilidade, e em decorrência do alto número de
ações nessa área, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou recomendações para que
o Poder Judiciário adquira formação específica nesse setor, para tomadas de decisões, e
também determinou que as corregedorias orientem os magistrados a fundamentar suas
decisões em pareceres técnicos. Isso diminuiria a quantidade de ações sobre um mesmo
tema, principalmente, as que têm por escopo prestações sociais que já fazem parte de
alguma política pública implementada pelo Estado93
. Mato Grosso e Minas Gerais foram
os primeiros estados do Brasil a aderirem a essa recomendação94
.
91
Cf. BRASIL, MS, 2005. 92
Leia-se: as que não têm condições de arcar com os altos custos dos medicamentos de que necessitam, ainda
que não sejam totalmente desprovidas de recursos financeiros. 93
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 31. Recomenda aos Tribunais a adoção de
medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior
47
É sempre complicado falar sobre adequação e necessidade na área da saúde,
mormente quando sopesamos a relação custo-benefício perante o indivíduo ou perante a
sociedade. E nem sempre os juízes estão aptos a resolver conflitos entre maiorias e
minorias, principalmente ao se considerar a reserva do possível dentro do orçamento
público que o legislativo propõe.
O assunto é complexo e a discussão sobre a habilidade dos juízes, em
tomarem decisões baseadas no princípio da proporcionalidade, é algo a ser ponderado com
cuidado, apesar da impressão de que essa é uma discussão que não leva a lugar algum.
Em se tratando do impasse entre ofertar uma tecnologia de altíssimo custo a
apenas um cidadão, em detrimento da implantação de políticas públicas que visem o
beneficio de um maior número de pessoas, não há dúvidas de que o Judiciário decidirá pela
defesa da dignidade humana, caso a caso. Nas palavras de Ricardo Silva:
[...] ao se garantir o Direito Fundamental à saúde, se estará prestigiando, se
reconhecendo a dignidade da pessoa humana na forma estabelecida no Texto
Constitucional, destacando-se que a garantia do direito à saúde representa,
sobremaneira, uma das condições mínimas para uma existência digna95
.
Interessante citar ainda a notável atuação do MP, que nos últimos anos vem
demonstrando um notável comprometimento com a saúde, mantendo permanente contato
com usuários no SUS, promovendo real participação da sociedade na articulação de
políticas públicas e responsabilizando o Estado por sua eventual inércia ou omissão na
prestação desse direito. Porém, apesar da relevância dessa atuação, o MP não tem buscado
amparo técnico-científico próprios do setor, o que o faz atuar pela lógica do Direito Penal,
punindo gestores pela sua má atuação no sistema de saúde, o que não é suficiente para
garantir direitos a quem precisa desse sistema96
.
eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Brasília, DF, 30 de março
de 2010. DJ-e, Brasília, DF, 07 abr. 2010, n. 61, p. 4-6. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-
de-marco-de-2010>. Acesso em: 11 nov. 2010. 94
Cf. SECRETARIA de Saúde de MT e TJMG aderem à Recomendação 31 do CNJ. Conselho Nacional de
Justiça. Notícias em Destaque, Brasília, 02 ago. 2010. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/noticias/9548-secretaria-de-saude-de-mt-e-tjmg-aderem-a-recomendacao-31-do-
cnj>. Acesso em: 11 nov. 2010. 95
SILVA, Ricardo Augusto Dias da. Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo existencial e a
reserva do possível. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 66. 96
DELDUQUE; OLIVEIRA, 2006, p. 11.
48
Logo, conquanto sejam justas do ponto de vista individual, o excesso de
decisões favoráveis nessa área (valoradas somente do ponto de vista jurídico), despidas de
fundamentação técnica (tanto científica quanto política), pode violar direitos fundamentais
de uma parcela considerável da sociedade, não abrangida pelas liminares.
As decisões aqui apontadas por vezes atalham a incorporação de novas
tecnologias no SUS. Não se trata apenas de conceder a um cidadão o acesso a um remédio,
cuja responsabilidade é do Estado. A questão vai além, já que o ciclo de incorporação é
determinado por lei no Brasil, para o qual devem ser seguidas etapas predeterminadas,
consoante o planejamento das políticas públicas na área, como adiante se verá.
49
2 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE: SUBSÍDIO AOS
PROCESSOS DE INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS
2.1 TECNOLOGIAS EM SAÚDE
De forma simples e genérica, tecnologia pode ser definida como
conhecimento aplicado. Em se tratando da área da saúde, cuida-se de conhecimento
aplicado que proporciona a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças, e a
reabilitação de suas conseqüências.
O §1º do art. 3º da Portaria GM/MS n. 2.510 de 19 de dezembro de 2005,
que instituiu a Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica (CPG) no
âmbito do SUS, conceitua tecnologias em saúde da seguinte forma:
Consideram-se tecnologias em saúde os medicamentos, equipamentos e
procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, informacionais,
educacionais e de suporte e os programas e protocolos assistenciais por meio dos
quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população97
.
As tecnologias em saúde vão além dos medicamentos, equipamentos e
procedimentos usados na assistência nessa área. Trata-se de toda e qualquer forma de
conhecimento que puder ser aplicado para a solução ou a redução dos problemas de saúde
de indivíduos ou populações, sendo os medicamentos o foco deste trabalho.
2.1.1 Enquadramento dos medicamentos na classificação das tecnologias em saúde
Os medicamentos como são conhecidos hoje não eram assim outrora.
Acreditava-se que cada lugar possuía um antídoto específico para doenças próprias da
região, o que facilitava no Brasil a assimilação da farmacopeia empírica popular. Não
havia regulamentação legal para uso de terapias “alternativas”, até mesmo urina e fezes:
De todas as práticas terapêuticas, o uso das ervas medicinais brasileiras era a que
maior legitimidade popular possuía. Não se pode esquecer que o emprego dessas
97
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.510, de 19 de dezembro de 2005. Institui
Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único de Saúde –
CPGT. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de dez. 2005.
50
plantas tinha um sentido mágico ou místico. Determinados minerais, bem como
partes do corpo de animais, eram usados como medicamentos ou amuletos. Se a
antropofagia ritual era encarada com horror pelos europeus, a utilização da
saliva, da urina e das fezes, humana ou animal, era compartilhada como recurso
terapêutico, embora possuindo um significado distinto para ambas as culturas98
.
Em se tratando de desenvolvimento tecnológico na seara da saúde, desde a
prática de curandeirismo aos grandes centros hodiernos de medicina diagnóstica, pode-se
dizer que a evolução tecnológica encanta o ser humano a tal ponto que o faz menosprezar o
singelo diagnóstico clínico, antes suficiente para o início de um tratamento de saúde.
Hoje, prima-se por uma investigação etiológica tão minuciosa, que por
vezes é até exagerada. O que remete a uma analogia do médico com um pequeno operário,
sem o qual não é possível manter a máquina em funcionamento (o sistema de saúde), mas,
cujo papel parece secundário no cenário da vida:
A medicina passa a ser exercida com base em novas regras extraídas do espírito
da racionalidade moderna, que produz graves rupturas não só no relacionamento
médico-paciente mas também no atendimento do próprio ser humano doente.
Abandona-se a figura do indivíduo doente e encontra-se a doença presente em
alguma parte do corpo. O órgão doente transforma-se no objeto exclusivo da
atenção médica. Busca-se obsessivamente a instância primordial, mergulha-se
fundo na busca do celular, do molecular, do DNA, enfim, do código da vida. A
intervenção do médico migra do mundo do paciente para um universo impessoal
preenchido por equipamentos que pertencem a uma entidade chamada hospital,
que é dirigida por uma grande empresa ou pelo todo poderoso Estado. A
legitimidade da investigação se transfere do profissional isolado para um
complexo de alta tecnologia, no qual o apequenado doutor, de maneira até
caricatural, faz lembrar o operário vivido por Charles Chaplin em “Tempos
Modernos”99
.
O quadro descrito acima retrata certa fragilidade na relação médico-
paciente, sobretudo, considerando-se o excesso de informações disponíveis aos leigos,
pelos veículos de comunicação em massa, os quais (de certa forma) podem contribuir para
a obsolescência precoce100
de dada tecnologia, inclusive medicamentosa.
Sim, pois as tecnologias em saúde, em geral, possuem um ciclo de vida
determinado, que é completado quando eventualmente abandonadas por uma série de
razões, na medida em que novas tecnologias surgem, são difundidas e passam a ser
98
PONTE; FALLEIROS, 2010, p. 41. 99
SIQUEIRA, 1997. 100
Obsolescência precoce: Estratégia de marketing industrial para colocar no mercado de bens e serviços
novos produtos substitutivos de produtos eficazes e em uso, de modo a auferir ganhos exponenciais. Cf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Glossário temático: economia da saúde. 2 ed. amp. Brasília: Ministério da Saúde, 2006c.
(Série A. Normas e Manuais Técnicos ), p. 40.
51
utilizadas. Isso ocorre a partir da movimentação de um conjunto complexo de mecanismos
interrelacionados, os quais podem incluir até mesmo interesse comercial de indústrias
farmacêuticas, que se valem da mídia para incutir no consumidor determinada escolha101
.
Quanto à abrangência do conceito de tecnologias, elas podem ser
classificadas de várias formas102, inclusive, quanto à hierarquia em diversos estágios da
assistência à saúde, conforme proposto em estudo utilizado pelo MS. Nesse sentido:
No primeiro estágio, observam-se aquelas tecnologias que o senso comum
considera como tecnologias na área de saúde, aqui chamadas de tecnologia
biomédica, que são os equipamentos e medicamentos. Pode-se dizer que são
aquelas que interagem diretamente com os pacientes. Em seguida, devem ser
considerados os procedimentos médicos, como, por exemplo, a anamnese, as
técnicas cirúrgicas, as normas técnicas de uso de aparelhos e outros, que
constituem parte do treinamento dos profissionais em saúde e que são essenciais
para a qualidade na aplicação das tecnologias biomédicas. Estas tecnologias,
acrescidas dos procedimentos, constituem as tecnologias médicas. Todas as
tecnologias médicas são utilizadas dentro de um contexto que engloba uma
estrutura de apoio técnico e administrativo, sistemas de informação e
organização da prestação da atenção à saúde. Estes sistemas de suporte
organizacional, que se situam dentro do próprio setor Saúde (hospitais,
ambulatórios, secretarias de saúde, Ministério da Saúde), juntamente com as
tecnologias médicas, compõem as tecnologias de atenção à saúde. Finalmente
existem componentes organizacionais e de apoio que são determinados por
forças que atuam fora do sistema de saúde, como, por exemplo, saneamento,
controle ambiental, direitos trabalhistas, etc. Todos esses elementos, juntamente
com as outras tecnologias, constituem, então, as tecnologias em saúde. Indo mais
além, podem-se englobar diversos aspectos da organização social que são
determinantes da saúde de uma população como educação, política econômica,
etc.103
(destaque nosso)
101
Essa prática é controlada pela legislação brasileira, o que será objeto do próximo capítulo. 102
Segundo o MS as tecnologias podem ser classificadas da seguinte forma: Quanto à natureza material:
Medicamentos; Equipamentos e suprimentos: ventilador, marcapassos cardíacos, luvas cirúrgicas, kits de
diagnóstico, etc.; Procedimentos médicos e cirúrgicos; Sistemas de suporte: bancos de sangue, sistemas de
prontuário eletrônico, etc.; Sistemas gerenciais e organizacionais: sistema de informação, sistema de
garantia de qualidade, etc. Quanto ao propósito: Prevenção: visa proteger os indivíduos contra uma doença
ou limitar a extensão de uma seqüela (exemplo: imunização, controle de infecção hospitalar, etc.);
Triagem: visa detectar a doença, anormalidade, ou fatores de risco em pessoas assintomáticas
(mamografia, exame de Papanicolau); Diagnóstico: visa identificar a causa e natureza ou extensão de uma
doença em pessoas com sinais clínicos ou sintomas (eletrocardiograma, raios X para detectar fraturas
ósseas); Tratamento: visa melhorar ou manter o estado de saúde, evitar uma deterioração maior ou atuar
como paliativo; Reabilitação: visa restaurar, manter ou melhorar a função de uma pessoa com uma
incapacidade física ou mental. Quanto ao estágio de difusão: Futura: em estágio de concepção ou nos
estágios iniciais de desenvolvimento; Experimental: quando está submetida a testes em laboratório usando
animais ou outros modelos; Investigacional: quando está submetida a avaliações clínicas iniciais (em
humanos); Estabelecida: considerada pelos provedores como um enfoque padrão para uma condição
particular e difundida para uso geral; Obsoleta/abandonada/desatualizada: sobrepujada por outras
tecnologias ou foi demonstrado que elas são inefetivas ou prejudiciais. BRASIL. Ministério da Saúde.
Secretaria-Executiva. Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento. Avaliação de tecnologias em
saúde: ferramentas para a gestão do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2009b. (Série A. Normas e
Manuais Técnicos), p. 21. 103
Ibidem, p. 19 et. seq.
52
Segundo o MS, o medicamento (tecnologia classificada como biomédica) é
“um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; é uma forma farmacêutica terminada que
contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos 104
”.
Quanto à incorporação de novos medicamentos pelo SUS, é preciso
respeitar etapas determinadas pela legislação, que incluem estudos de ATS.
2.1.2 Etapas da incorporação de medicamentos no SUS
A maioria dos sistemas públicos de saúde não dissocia de suas políticas a
incorporação tecnológica, sobretudo de medicamentos, haja vista a contribuição inegável
de fármacos cada vez mais potentes no combate às doenças. Variando em grau, eles
contribuem para o prolongamento da vida, o alívio da dor, a redução do risco de
adoecimento e a melhoria ou manutenção das condições de saúde das populações.
Por meio da Política Nacional de Medicamentos (PNM) e da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) o SUS distribui medicamentos gratuitos à
população, os quais devem ser incorporados de forma sistemática, em conformidade à
LOS. As políticas citadas serão objeto de estudo no próximo capítulo, o que pede o
conhecimento prévio das etapas seguidas pelo MS até a dispensação de um novo fármaco.
Como dito antes, as tecnologias em saúde possuem um determinado ciclo de
vida, que compreende o período desde a inovação em P&D até o momento de seu
abandono, o que ocorre, por vezes, em razão da difusão e incorporação de uma nova
tecnologia. A regulação desse ciclo no Brasil é feita pela ANVISA105
, pela Comissão
104
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento
de Ciência e Tecnologia. Diretrizes Metodológicas: estudos de avaliação econômica de tecnologias em
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. (Série A. Normas e Manuais Técnicos), p. 46. 105
Com o objetivo de ampliar o acesso da população às tecnologias, a ANVISA tem atuado desde 2000 no
campo da regulação econômica de medicamentos. Porém, foi a partir de 2003, com a criação de uma
unidade organizacional dedicada à área de avaliação econômica de tecnologias em saúde, que a Agência
passa a ter uma atuação mais forte na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). A partir de
2004, a ATS passa a ser aplicada à tomada de decisão relativa aos preços de novos medicamentos, a partir
de Resolução aprovada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão
interministerial cuja função de secretaria-executiva é exercida pela ANVISA. A articulação desta Agência
com o DECIT/SCTIE e com a ANS foi muito importante para diversas iniciativas na área, entre as quais
53
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)106
e pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)107
, apesar das decisões judiciais terem influenciado
consideravelmente estes órgãos nos últimos anos, no que toca à utilização de tecnologias
de alto custo. Assim:
A judicialização deve ser entendida não como um fenômeno isolado, mas como
parte do processo da incorporação de novos medicamentos e novas tecnologias
pelo sistema de saúde. Ao estudarmos a incorporação dos ARVs no SUS,
identificamos que existem diversos percursos e processos decisórios que, se
melhor analisados, compreendidos e regulados, podem, sincronicamente a outras
medidas, propiciar a sustentabilidade do acesso universal aos medicamentos. Em
linhas gerais, para entender, é preciso percorrer o caminho – fragmentário, sem
sequência – tomado pelos ARVs no Brasil, que pode ser assim resumido: um
novo medicamento geralmente chega ao país via ensaio clínico, os médicos
passam a conhecê-lo e a ter experiência de uso com ele; a empresa faz divulgar
os resultados que tratam do desempenho do produto, elementos que passam a ser
compartilhados por uma rede cada vez maior de pessoas; as autoridades
sanitárias quase sempre concedem o pedido de registro submetido pelo produtor,
mas também convocam especialistas para decidirem, com base em evidências
científicas, o momento da incorporação e os critérios de uso do ARV; as
prescrições médicas aumentam progressivamente, ao tempo em que se
expressam as necessidades de saúde dos pacientes; a promoção e o marketing
deflagrados pela empresa produtora e as ações judiciais movidas por pacientes
que reivindicam o acesso ao novo fármaco, antes mesmo da aquisição pelo
sistema de saúde, despontam como elementos que podem influir no processo de
incorporação do ARV; as regras de mercado são então aclaradas, com
caracterização da oferta e da demanda, formação e discussão do preço do ARV,
na Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos (CMED), e definição das
margens de atuação das empresas farmacêuticas, tanto das multinacionais quanto
das nacionais públicas e privadas produtoras. A distância do Estado de uma visão
íntegra de todo o processo de incorporação dos ARVs implica em risco de que se
manifestem efeitos e interesses diversos daqueles previstos quando da
formulação da política pública. Ao Ministério da Saúde, que ocupa o
privilegiado lugar de comprador único dos ARVs, caberia interagir em todos os
meios e etapas da incorporação dos ARVs. Essa interação é determinante para a
se pode destacar o lançamento, em 2006, do Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(BRATS), que hoje já é uma publicação consolidada no País. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Política Nacional de
Gestão de Tecnologias em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011, p. 12. 106
Instituída pelo Decreto n. 7.646/11, a CONITEC substitui a antiga Comissão de Incorporação de
Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC), estabelecida pela Portaria nº 2.587/08, com algumas
modificações em suas atribuições. BRASIL. Decreto n. 7.646 de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo
administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de
Saúde - SUS, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 de dez. 2011. 107
A ANS, instituída pela Lei 9.961/00, dentre outras atribuições, fiscaliza a atuação das operadoras e
prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;
fiscaliza aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da legislação referente aos aspectos
sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde
suplementar e avalia os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde. BRASIL. Lei n. 9.961 de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de jan. 2000.
54
sustentabilidade do programa. Caso contrário, mantêm-se lacunas que implicam
em desequilíbrios de interesses relacionados ao processo de incorporação108
.
A invenção de um novo produto dá início ao processo de inovação
tecnológica, a qual termina quando ocorre seu primeiro emprego prático. Nesse intervalo
de tempo procede-se a alguma forma de avaliação econômica e testes com voluntários,
para que a nova tecnologia seja avaliada em termos de custo-benefício, apesar de limitada,
nessa etapa, a capacidade de calcular futuros impactos após sua difusão109
.
A fase de incorporação, propriamente dita, começa no momento em que
uma nova tecnologia se estabelece passando a ser reconhecida pelos provedores de
assistência à saúde. O que amiúde acontece quando o governo ou seguradoras resolvem
reembolsar pacientes ou subsidiar o acesso, a partir de um consenso sobre seus benefícios.
Em se tratando de tecnologias de baixo custo, a incorporação pode passar
despercebida, ao contrário das tecnologias de alto custo ou de utilização em larga escala,
cuja incorporação é crítica, por abrir caminho para sua utilização crescente, o que demanda
considerável dispêndio de recursos e prévio conhecimento sobre casuais efeitos
adversos110
.
O fluxo para incorporação de tecnologias no SUS foi normatizado pela
primeira vez pelas Portarias GM/MS n. 152/06 e 3.323/06, sob a coordenação da Secretaria
de Atenção à Saúde (SAS). No ano de 2008, a Portaria n. 2.587/08111
instituiu a Comissão
Para Incorporação de Tecnologias (CITEC), transferindo sua coordenação para a Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), à qual se vincula a atual
CONITEC.
As demandas de incorporação no SUS são priorizadas para análise pelo MS
de acordo com questões relacionadas ao interesse público, como: a existência de política de
saúde que possivelmente se beneficie com a nova tecnologia; a existência de situação
epidemiológica que justifique a avaliação de uma dada tecnologia; a revisão ou elaboração
108
SCHEFFER, 2009, p. 136. 109
BRASIL. MS, 2009b, p. 22. 110
Ibidem, p. 23. 111
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.578, de 30 de outubro de 2008. Dispõe
sobre a Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde e vincula sua gestão à
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de
out. 2008.
55
de protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas, de doenças para as quais as tecnologias
sejam indicadas; demandas apresentadas pelo MP, dentre outras112
.
A LOS determina o campo de atuação do SUS e as ações a serem
executadas, dentre as quais se encontra a assistência terapêutica integral, inclusive a
farmacêutica, definida pelo art. 19-M da mesma Lei113
:
Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso
I do art. 6o consiste em:
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em
protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do
protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único
de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado
ou contratado.
As diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos114
, têm por intuito
estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da
doença ou do agravo à saúde de que tratam, garantindo que tais medicamentos sejam
avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as
diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde.
Faltando o protocolo clínico ou a diretriz terapêutica, a dispensação115
no
SUS será realizada conforme as relações de medicamentos instituídas pelas três esferas de
governo, sendo seu fornecimento responsabilidade de cada uma delas.
112
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Profissional e Gestor. Pesquisa em Saúde. Incorporação de tecnologia em
saúde: perguntas mais frequentes. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Perguntas_e_respostas_jan2011.pdf>. Acesso em: 24 out.
2011. 113
Artigo incluído na LOS pela Lei 12.401 de 28 de abril de 2011. BRASIL. Lei nº 12.401, de 28 de abril de
2011. Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 29 de abr. 2011. 114
Art. 1º - III - protocolo clínico e diretriz terapêutica - documento que estabelece critérios para o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais
produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
BRASIL. Decreto n. 7.646 de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para
incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 de dez. 2011. 115
Dispensação é “o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente,
geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Nesse
ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos
56
A LOS também determina que sejam atribuições do Ministério da Saúde: a
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica. Tais imputações devem ser exercidas com respaldo no relatório da
CONITEC116
, cuja composição deve contar com a participação de um representante
indicado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e de um representante, especialista na
área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
O relatório da Comissão deverá considerar:
I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a
segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo,
acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;
importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos,
a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de
conservação dos produtos”. Cf. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Política nacional de medicamentos 2001. Brasília: Ministério da Saúde,
2001. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios, n.25). Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2011, p. 34. 116
Com a instituição da CONITEC o fluxo para incorporação de tecnologias no SUS sofreu algumas
modificações. As condições atuais para submissão de pedidos são as seguintes: qualquer interessado, a
qualquer tempo, pode solicitar a incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias no elenco do SUS. Os
membros da CONITEC devem firmar termo de confidencialidade e declaração de conflito de interesse
relativamente aos assuntos deliberados nesse âmbito. O requerente deverá apresentar: a) formulário
integralmente preenchido, de acordo com modelo estabelecido pela CONITEC; b) os documentos exigidos
para o processamento do pedido; e c) as amostras de produtos, se cabível, nos termos do regimento interno
da Comissão. Incluem-se entre os documentos exigidos: a) número e validade do registro na ANVISA; e
b) no caso de inclusão de novas tecnologias em saúde, deverá apresentar também: evidência científica que
demonstre que a tecnologia pautada seja, no mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas disponíveis no
SUS para determinada indicação; estudo de avaliação econômica comparando com as tecnologias atuais
disponibilizadas no SUS; no caso de medicamentos, o preço fixado pela CMED. A CONITEC poderá
estabelecer outros documentos exigíveis no ato da protocolização do pedido administrativo. Os
documentos e amostras serão previamente analisados pela Secretaria-Executiva da CONITEC. Caso não
preencham os requisitos legais, o processo poderá ser indeferido sem avaliação do mérito. Nada impede
que o interessado apresente novamente o pedido, perante a complementação da documentação. A
CONITEC providenciará consulta pública para recebimento de contribuições e sugestões sobre todas as
matérias em avaliação e, havendo relevância da matéria, o Secretário da SCTIE pode solicitar a realização
de audiência pública. A maior novidade do processo de avaliação pela CONITEC é o prazo máximo, que a
partir de agora não deverá ser superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolizado o pedido,
admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. O termo final do
prazo é contado pela decisão do Secretário da SCTIE/MS sobre o pedido formulado no processo
administrativo. Na hipótese de descumprimento do prazo, o processo administrativo entrará em regime de
urgência, ficando sobrestadas todas as deliberações a respeito de processos prontos para avaliação até a
emissão do relatório sobre o processo pendente. A partir da publicação da decisão de incorporar
medicamento, produto ou procedimento, ou mesmo protocolo clínico e diretriz terapêutica, as áreas
técnicas terão prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta ao SUS. Aplica-se a Lei
9.784/99, sendo cabível recurso, no prazo de dez dias corridos contados da divulgação oficial da decisão,
em face de razões de legalidade e de mérito, o qual não tem efeito suspensivo. O recurso será dirigido ao
Secretário da SCTIE. Caso não reconsiderada a decisão no prazo de 5 dias, o recurso será encaminhado de
ofício ao Ministro da Saúde, para decisão final.
57
II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às
tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos
domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.
Geralmente, após análise e emissão de parecer favorável da CONITEC117
a
nova tecnologia é incorporada pelo MS e adicionada à lista do SUS. Todavia, nada impede
que mesmo após recomendação da CONITEC, o Ministro da Saúde indefira a
incorporação.
A composição e competências da CONITEC foram definidas pelo Decreto
7.646/11. Nele também constam suas diretrizes, com fulcro nos princípios que regem o
SUS e na necessidade de racionalizar os gastos públicos com incorporação de novas
tecnologias em saúde:
Art. 3o São diretrizes da CONITEC:
I - a universalidade e a integralidade das ações de saúde no âmbito do SUS com
base no melhor conhecimento técnico-científico disponível;
II - a proteção do cidadão nas ações de assistência, prevenção e promoção à
saúde por meio de processo seguro de incorporação de tecnologias pelo SUS;
III - a incorporação de tecnologias por critérios racionais e parâmetros de
eficácia, eficiência e efetividade adequados às necessidades de saúde; e
IV - a incorporação de tecnologias que sejam relevantes para o cidadão e para o
sistema de saúde, baseadas na relação custo-efetividade.
Ressalte-se que, para a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de
novos medicamentos, há que se instaurar um processo administrativo118
, o qual não deve
demorar mais de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 (art. 19-R da Lei 8.080/90), prazo esse
já razoavelmente longo para um paciente que eventualmente esteja precisando de um
medicamento com maior urgência. A LOS ainda prevê a realização de consulta pública,
que inclua a divulgação de parecer emitido pela CONITEC e de audiência pública antes da
tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar.
Considerando-se a burocracia que se sabe existente no Brasil, é possível
supor a ultrapassagem do prazo previsto, resultando em mais um motivo para a propositura
de ações judiciais para fornecimento de medicamentos pelo Estado, a despeito da previsão
de incorporação de tecnologias no SUS pelo próprio Ministro da Saúde, mediante processo
simplificado, em casos de relevância pública.
117
A quem também compete a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. 118
Que deve ser instaurado em conformidade à Lei do Processo Administrativo. BRASIL. Lei n. 9.784 de 29
de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 01 de fev. 1999.
58
Em se tratando de medicamentos experimentais ou ainda não autorizados ou
registrados pela ANVISA119
, a LOS proíbe em todas as esferas de gestão do SUS seu
pagamento, ressarcimento, reembolso e dispensação.
Todavia, há controvérsias a esse respeito. Em algumas ações judiciais os
requerentes alegam que medicamentos já aprovados por agências internacionais
renomadas, como a Food and Drug Administration (FDA), por exemplo, apenas não são
aprovados imediatamente no Brasil por questões burocráticas.
A polêmica do assunto fez com que o STF reconhecesse a repercussão geral
do tema em recurso extraordinário, no qual será julgada a possibilidade do Estado fornecer
um medicamento não registrado na ANVISA, mesmo contrariando o dispositivo da lei,
com fundamento nos artigos 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, II e § 2º; e 204 da CF/88120
.
Apesar do ciclo de incorporação tecnológica ser determinado por lei no
Brasil, já foi dito que as decisões judiciais têm tido peso importante nesses processos. Não
raras vezes, o Judiciário julgará constitucional a incorporação de novas tecnologias ao
sistema, ainda que o pedido seja feito por pessoa, grupos ou organizações não
determinadas pela lei, ou sem o devido processo, já que, além do fato e do conjunto de
normas, analisará também o valor de justiça das decisões.
O problema dessa valoração é que tem sido feita para casos pontuais, sem
considerar as políticas sociais como um todo. Mesmo assim, alguns autores entendem
legítima a dispensa do registro para incorporação:
Quando não se tratar de medicamento que já possua impedimento ou restrição de
uso, diante da constatação médica de sua necessidade e eficácia e frente ao fato
de ser reconhecido pelos órgãos competentes do país de origem, não existem
motivos para desprestigiar o acesso a medicamento. Ocorre que, desde que
restem demonstradas nos autos, por meio de parecer médico ou junta médica, a
119
A LOS instituiu no sistema de saúde brasileiro um sistema de vigilância sanitária, regido pela Lei
9.782/99 que, dentre outras atribuições, criou a ANVISA, agência reguladora que tem por finalidade
institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção
e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes,
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos,
aeroportos e de fronteiras. A obrigatoriedade jurídica do registro de medicamentos junto à ANVISA
protege a própria saúde nacional, bem como os direitos de patente, já que o medicamento deve demonstrar
a sua fórmula, a sua aplicação e as suas implicações. BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 de jan. 1999. 120
Vide Capítulo 1, nota 81.
59
eficácia e a qualidade do medicamento junto a órgãos de funcionalidade
semelhantes à ANVISA em outros países ou, nacionalmente, por meio de
estudos preliminares ao registro, não há motivos que impeçam o necessário
acesso. As soluções apresentadas são condizentes com a proteção que se faz à
saúde, visto que questões administrativas não podem corresponder a empecilho
para o acesso a medicamentos121
.
No Brasil, cabe à ANVISA a concessão do registro de medicamentos para
que sejam comercializados em território nacional. Para tanto, a legislação determina que a
agência deve proceder a análises sobre sua qualidade (a medicação deve ser fabricada
conforme as regras sanitárias brasileiras), segurança (o uso do medicamento deve propiciar
mais benefícios que efeitos colaterais) e eficácia (o medicamento deve de fato combater a
doença para o qual foi criado)122
.
No entanto, a ANVISA não realiza estudos sobre os impactos futuros da
incorporação de uma nova tecnologia, a partir de seu uso em ambiente real. Para a
incorporação de um novo medicamento no sistema público de saúde o MS realiza
avaliações bem mais abrangentes. Para ilustrar a afirmação, eis um trecho de um parecer
emitido pela Consultoria Jurídica (CONJUR) do MS123
:
20. Logo, observa-se que o Ministério da Saúde tem grupo de trabalho instituído
para analisar os tratamentos das doenças tratadas pelo Ilaris, bem como avaliou a
solicitação de incorporação dessa tecnologia no âmbito do sistema, e, após
profundo estudo decidiu pela não incorporação do referido medicamento no
âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro.
21. Nesse sentido, caso deferido algum provimento jurisdicional para a entrega
forçada da medicação pela Administração, entende-se que o mérito
administrativo próprio às decisões do Poder Executivo estará sendo violado,
usurpando-se, por via transversa, a competência da Administração para
proceder à análise de incorporação de tecnologias no SUS, sendo
desconsiderada toda a estrutura administrativa do Sistema Único, uma vez
que o Poder Executivo já deu uma resposta à presente demanda, isto é,
DECIDIU NÃO INCOPORAR O MEDICAMENTO, consoante critérios
técnicos pertinentes à análise administrativa, tendo em vista a construção
das políticas públicas. 22. Saliente-se que, conforme referenciado, o simples registro na ANVISA é
mera indicação de que a medicação é minimamente segura, eficaz e fabricada
com qualidade, considerando os estudos feitos em âmbito de laboratório
(ambiente ideal). Ao reverso, o Ministério da Saúde, ao analisar a inclusão de
nova tecnologia de saúde no SUS, procede à análises infinitamente mais
profundas do aquelas [sic.] feitas pela ANVISA, perquirindo a respeito, por
121
CARVALHO, 2007, p. 97. 122
Art. 16 – BRASIL. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização
de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 11 de fev. 1999. 123
PESSOA, Higor Rezende. Parecer CANAQUINUMABE. Brasília, 28 out. 2011. 14p. PARECER Nº
1.300/2011-AGU/CONJUR-MS/HRP. Disponível em:
<http://189.28.128.59/portalsaude/texto/3267/659/sobre-acoes-judiciais.html>. Acesso em: 10 jan. 2012.
60
exemplo, da efetividade e do custo-efetividade de determinada medicação, além
da análise de segurança e eficácia. Após profundo estudo do MS, a solicitação do
medicamento ILARIS, princípio ativo CANAQUINUMABE, recebeu decisão
desfavorável da Administração quanto à sua incorporação no âmbito do Sistema.
(destaque nosso)
O registro, portanto, não se confunde com a incorporação. Um medicamento
registrado na ANVISA pode ser comercializado, mas não necessariamente incorporado ao
sistema público de saúde.
Com o registro dos medicamentos a ANVISA valida os esforços e
investimentos realizados pela indústria farmacêutica, além de proteger o segredo industrial,
em respeito ao direito de propriedade e à livre iniciativa, teoricamente propulsando
pesquisas no setor. Entretanto, o direito à propriedade (segredo industrial) nesse caso, deve
ficar condicionado à função social, sendo unânime na ordem jurídica nacional e
internacional, que sua disposição pode proteger o interesse público, mormente, em se
tratando da produção de medicamentos genéricos124
, os quais necessitam de testes que
demonstrem a produção de efeitos idênticos aos dos medicamentos de referência, quando
com a mesma dosagem e dentro do mesmo período de prescrição.
Apesar da ANVISA se responsabilizar pela proteção da saúde de todas as
pessoas, de forma igualitária (princípio do SUS), motivo pelo qual regulamenta e impede a
disponibilização indiscriminada de novos fármacos de alto custo, há que se atentar ao fato
de que a excessiva burocracia, bem como a proteção industrial e patentária pode culminar
na dificuldade de acesso aos medicamentos.
Em audiência pública realizada no STF, na qual foi discutida a questão da
judicialização da saúde, a Drª Sueli Dallari chamou a atenção para a necessidade de se
vincular o registro de medicamentos à obrigação de comercializar, como faz a Agência
Européia de Medicamentos125
, o que já diminuiria a iniquidade no acesso.
124
Definidos pela Lei 9.787/99: “Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência
ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou
renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia,
segurança e qualidade”. 125
DALLARI, 2009.
61
Isso porque, para serem registrados pela ANVISA, os medicamentos passam
por estudos em fases distintas126
. Todavia, é possível alcançar proteção patentária de suas
fórmulas, mesmo antes da autorização do registro para comercialização, o que pode obstar
o desenvolvimento de pesquisas no setor127
.
A CF/88, em seu capítulo destinado ao direito à saúde, prevê o atendimento
integral pelo Estado, o que não pode ser entendido como a obrigação de disponibilizar
todas as tecnologias oferecidas no mercado para todas as pessoas. Isso causaria sérios
prejuízos à sociedade, como um todo, ante o risco de procedimentos de indicação
duvidosa, além de ser absolutamente inviável do ponto de vista econômico e operacional.
Novidades tecnológicas precisam ser incorporadas com prudência ao
sistema público. Os lançamentos sedutores, e de alto custo no mercado, são inúmeros a
cada ano, muito embora uma pequena porcentagem, apenas, apresente alguma vantagem.
Portanto, o impacto financeiro é alto, mormente num sistema como o brasileiro, que a
exemplo do canadense e de diversos outros países europeus, oferece mediante
financiamento público acesso universal ao sistema de saúde.
126
Para a concessão do registro o laboratório deve comprovar que o medicamento cumpriu algumas fases da
pesquisa clínica (ensaios clínicos). Na fase anterior aos testes em humanos, antigamente denominada “pré-
clínica”, são realizados estudos in vitro e em animais de experimentação, para se avaliar o potencial
terapêutico de uma molécula. Os estudos clínicos começam na Fase I, quando testes são realizados em
humanos saudáveis, para análise de segurança. Na Fase II participam centenas de pessoas já doentes, para
análise da eficácia do medicamento. Na Fase III os estudos geralmente são multicêntricos, pela
necessidade de um número alto de voluntários. Nessa fase são realizadas comparações com outros
medicamentos já firmados no mercado, ou com placebo, caso ainda não haja tratamento para a doença em
questão. É também nessa fase que são fornecidas as informações necessárias à inclusão na bula do
medicamento, na qual serão estabelecidas indicações, contra-indicações e efeitos colaterais. Os dados
obtidos nessa fase podem resultar na aprovação do registro pelas autoridades sanitárias, para
comercialização do medicamento. Na última etapa, a Fase IV, são realizadas pesquisas de
acompanhamento, para conhecimento de detalhes adicionais sobre o medicamento, com eventual
descoberta de efeitos colaterais não previstos. DAINESI, Sonia Mansoldo. Pontos Controversos em
Estudos Clínicos Randomizados. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde:
evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p, 52-54. 127
“Os laboratórios farmacêuticos geralmente obtêm uma patente de uma nova droga antes do início dos
ensaios clínicos, porque é difícil manter a informação sobre a droga em sigilo a partir desse ponto. As
patentes protegem os laboratórios de concorrência durante o período de ensaios. Entretanto, os ensaios
clínicos podem consumir alguns anos; e, durante esse período, o medicamento não pode ser vendido. Isso
significa que os ensaios clínicos corroem parte dos vinte anos de vigência da patente de uma droga – o
tempo em que ela pode ser vendida sem concorrência. Por esse motivo, os laboratórios farmacêuticos têm
uma pressa terrível para ultrapassar o período dos ensaios e poder começar a comercializar a droga”.
PESSOA, Higor Rezende. Parecer CANAQUINUMABE. 2011.
62
Daí a importância da análise das informações pelo MS para decisão sobre
incorporação de novas tecnologias, inclusive, medicamentos, geralmente os mais onerosos
ao sistema. Dessa maneira,
[...] quando diversas necessidades concorrem pelos mesmos recursos, sua
priorização subordina-se à política nacional de saúde, formulada e pactuada
pelos gestores das três esferas de governo e aprovada pelas instâncias de
participação do SUS, os conselhos de saúde. A dificuldade da escolha é
diretamente proporcional à distância entre necessidades e as possibilidades
conferidas pelas atuais receitas do setor público de saúde128
.
As decisões da CONITEC pautam-se em estudos de ATS promovidos pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT), o que
representou um ganho ao setor de incorporação de tecnologias, já que a CONITEC, além
de hoje ser a única porta de entrada para as solicitações, ainda propicia o mesmo
tratamento a todas as demandas, com base na melhor evidência científica.
Antes da existência da CITEC, as decisões eram tomadas de forma
individual por cada secretaria do MS responsável por um determinado setor, conforme suas
atribuições, sem um critério definido para tal129
. Por isso, a reunião numa única comissão,
de todas as secretarias que incorporavam tecnologias para o setor público, em parceria com
a ANVISA, representa uma evolução no sistema de saúde brasileiro. Ademais, ressalte-se
que a incorporação tratada aqui se dá no âmbito federal, o que não impede os estados e
municípios de incorporarem outros produtos para além da lista do MS, caso seja de seu
interesse e possuam recursos próprios para arcarem com tal decisão130
.
A incorporação indiscriminada de medicamentos pode ser prejudicial não
apenas para o orçamento público, mas também, aos próprios pacientes. Sobretudo, em se
tratando de “incorporação via justiça”. Em agosto de 2001, o Programa Nacional de
DST/AIDS divulgou nota oficial em que demonstrava preocupação com a grande
128
HENRIQUES, Cláudio Maierovich Pessanha. O SUS e a incorporação de novas tecnologias. Portal da
Saúde. Artigos e Publicações. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=33161&janela=1>. Acesso em:
24 out. 2011. 129
Citam-se os exemplos da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), que tem por responsabilidade a gestão
do tratamento do HIV/AIDS e das hepatites virais, sendo incumbida, também, da incorporação das
tecnologias desta área. Ainda, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), responsável pelo desenvolvimento
de políticas para diversas doenças, como hipertensão e diabetes, deveria definir as tecnologias que seriam
incorporadas para seus tratamentos. 130
SANTOS, Vania Cristina Canuto. As análises econômicas na incorporação de tecnologias em saúde:
reflexões sobre a experiência brasileira. 132 f. Dissertação (Mestrado) Escola Nacional de Saúde Pública,
Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2010, p. 111.
63
quantidade de ações judiciais, cujas decisões favoráveis acabaram por deferir a
dispensação de um produto fitoterápico ao pacientes portadores de HIV, sem qualquer
comprovação de benefício terapêutico:
Reconhecemos que o acesso a tratamento é direito indiscutível e decisões dos
Tribunais Superiores têm obrigado a disponibilização de medicamentos de todos
os tipos, tanto para o tratamento específico do HIV, quanto de suas
complicações. Todavia, devemos estar atentos para a possibilidade de ocorrência
de interações medicamentosas impróprias e a prescrição de substâncias que não
têm eficácia e segurança reconhecidas cientificamente, tais como certos
fitoterápicos, e outros fármacos que ainda estão em fase de estudo clínico. Na
defesa contra solicitações judiciais tecnicamente inadequadas de medicamentos
anti-retrovirais ainda não padronizados e, mais recentemente, dos testes de
avaliação de resistência aos anti-retrovirais (cuja indicação parece ser mais
restrita do ponto de vista de benefício aos pacientes) deve ser ressaltado que a
literatura médico-científica mundial tem, reiteradamente, afirmado que tanto o
início como a substituição de drogas anti-retrovirais por eventual falha
terapêutica não caracterizam uma emergência médica, como grande parte dos
advogados que ajuízam esses pedidos vêm colocando em suas petições judiciais.
Freqüentemente, essa argumentação coloca os juízes em situação difícil, pois
como não são conhecedores de assunto tão especializado, vêem-se muitas vezes
obrigados a expedirem seus mandatos para disponibilização de medicamentos ou
exames para cumprimento imediato (24 a 48 horas). Assim, a Coordenação
Nacional recomenda que se solicite perícia médica judicial, com avaliação
individualizada do caso, para permitir a decisão final do juiz, da mesma forma
que normalmente ocorre com outros problemas de saúde, particularmente nas
áreas cível e trabalhista131
.
A grande quantidade de ações judiciais que visam o acesso a medicamentos
é influenciada pela burocracia e demora no processo de registro e incorporação de um novo
medicamento no SUS, já que sua inclusão nas listas públicas padronizadas decorre da
certeza de sua superioridade em relação ao medicamento utilizado até então.
No caso dos medicamentos antirretrovirais, após a aprovação e liberação da
FDA132
busca-se o registro junto à ANVISA133
, obrigatório por lei, mediante uma série de
avaliações minuciosas. Em seguida, submete-se o medicamento a um consenso terapêutico.
131
Extraído de documento do Programa Nacional de DST/AIDS divulgado em 14/08/2001 apud BRASIL,
MS, 2005, p. 28. 132
“O processo de registro de medicamentos no FDA inclui a avaliação dos ensaios clínicos em seres
humanos; a comprovação da segurança e eficácia para o uso e indicação pretendidos; a toxicidade; a
certeza de que seus benefícios compensam os riscos; a garantia de que a forma como o medicamento será
produzido irá manter as características originais do novo medicamento aprovado.” Ibidem, p. 43. 133
De acordo com o art. 8º, § 5o da Lei 9.782/99: “A Agência poderá dispensar de registro os
imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por
intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo
Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas”. Exemplos de tais organismos são ao ONU e a OEA. Tal
ressalva é condizente com as finalidades estatais, tanto no âmbito nacional quanto internacional,
objetivando garantir o direito ao acesso a medicamentos e, indiretamente, a defesa da vida, da dignidade e
do desenvolvimento.
64
Somente depois de superadas essas três etapas é que o medicamento segue autorizado para
compra pelo MS, porém, acompanhando a execução orçamentária e financeira prevista na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, o que geralmente leva
tempo.
Se um medicamento não constar na lista dos padronizados pelo MS ou pelos
demais entes federados, pode-se consegui-lo pela via administrativa, sob certas condições
irrenunciáveis, como o registro na ANVISA134
. Também não se admite a dispensação de
medicamentos que possuam alerta da farmacovigilância acerca de eventuais efeitos
colaterais, ou ainda, uma utilização off label135
. Todas essas restrições são uma forma de
salvaguarda dos direitos da pessoa humana. Nesse sentido:
Se, por um lado, o avanço tecnológico no setor da indústria de medicamentos
trouxe inestimáveis benefícios à coletividade, por outro lado, não é menos
sentida a necessidade de incrementar os sistemas de vigilância de medicamentos
em face dos efeitos indesejáveis desses produtos, assinalados em vários centros
especializados. Centenas de medicamentos são lançados anualmente no mercado
interno dos países, precedidos de planejada propaganda, devendo, pois, o Poder
Público, adotar as medidas cautelares, a fim de diminuir os riscos advindos do
consumo imoderado desses produtos, estabelecendo adequados procedimentos
para diminuir os casos de agravos à saúde e banir as ações fraudulentas e
mistificadoras. Os usuários não devem ser vítimas da tecnologia, e seus
beneficiários não devem estar orientados apenas pela propaganda das empresas,
mas orientados para o seu bem-estar; e o lucro não deve ser obtido à custa da
saúde dos demais136
.
A incorporação de tecnologias no sistema público de saúde segue um fluxo
determinado por lei, cujas etapas incluem estudos em ATS. Tais estudos, por cuidarem de
análises éticas, sociais e econômicas, além da mera análise clínica sobre a eficácia de uma
nova tecnologia, podem pautar, não apenas decisões políticas dos gestores do SUS, mas
também decisões judiciais.
134
BARATA, Luiz Roberto Barradas; MENDES, José Dínio Vaz. Uma proposta de política de assistência
farmacêutica para o SUS. In: BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, José Sebastião dos (Org.). Direito
à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São Paulo: Atlas, 2010, p. 75. 135
Trata-se do uso de medicamento registrado na ANVISA, para tratamento de doença cuja indicação não
consta em sua bula. Alguns estudos podem defender o uso off-label de produtos, quando há evidência
científica que justifica uma indicação que não foi submetida à ANVISA no pedido de registro, em especial
por conveniência comercial. Em alguns casos, mediante forte evidência científica, o MS pode solicitar à
agência a ampliação de indicações, mesmo contrariando o interesse e a opinião do detentor de registro. 136
DIAS, Helio Pereira. Flagrantes do ordenamento jurídico-sanitário. Brasília: ANVISA, 2000, p. 43.
65
2.2 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
A OMS estima que aproximadamente 50% dos avanços terapêuticos
disponíveis nos dias atuais não existiam há dez anos, o que atesta severas transformações
na seara da saúde. Apesar dos benefícios dessa evolução, por vezes a incorporação de
novas tecnologias médicas à prática clínica ocorre sem uma devida avaliação, inclusive de
sua eficácia e segurança137, colocando em risco a saúde da população que a elas tem acesso.
O processo de inovação tecnológica tem início perante a invenção de um
novo produto, processo, ou prática, findando quando da primeira utilização prática. Entre o
início e o fim desse processo, usualmente, procede-se a alguma avaliação econômica e
clínica, para avaliar custos, benefícios e riscos da nova tecnologia. Contudo, tais avaliações
são limitadas quanto à capacidade de prever os impactos após a difusão da tecnologia.
São diversos os fatores impactantes no que concerne à inovação no setor de
saúde, sendo os principais, a persistência da doença e de incapacidades, além de
considerações de ordem econômica, pesquisas biomédicas e legislação regulatória. Ao
final do processo de inovação, quando as novas tecnologias já estão no mercado, o
processo de difusão passa a ser direcionado por outras forças que determinarão seu grau de
aceitabilidade, como expectativas do paciente, dos profissionais da saúde, dos gestores, e
até mesmo condições geográficas e demográficas de sua comercialização138.
Após a Segunda Guerra Mundial o intenso desenvolvimento tecnológico fez
com que os gastos na área da saúde crescessem significativamente, mesmo com a limitação
de recursos, culminando na preocupação de gestores de todo o mundo com os impactos
decorrentes da situação. Em princípio, a proposta apresentada por diversos agentes de
política em saúde foi a contenção de custos. Por outro lado, profissionais de saúde
começaram a enfatizar a necessidade de avaliar os resultados de suas práticas, surgindo,
destarte, o movimento da Medicina Baseada em Evidência (MBE)139
. No entanto:
137
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ciência e Tecnologia em Saúde. Brasília:
CONASS, 2007a. (Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, 4), p. 56. 138
BRASIL. MS, 2009b, p. 22-23. 139
O movimento da MBE incorpora nas questões individuais da prática médica o rigor metodológico advindo
de estudos populacionais e de vigilância sanitária. Ela reconhece que a experiência clínica e os
mecanismos fisiopatológicos de doenças são insuficientes para a tomada de decisão mais adequada,
66
[...] para o gestor, que deveria decidir sobre a alocação de recursos limitados
frente a uma demanda cada vez maior de intervenções, o problema não se
resolve apenas com a identificação dos benefícios ao paciente, mas necessita
também identificar pelo menos o custo da intervenção. Uma distribuição de
recursos, atendendo a princípios de eqüidade, deveria considerar: quem irá se
beneficiar, quem deveria arcar com os custos envolvidos e, inevitavelmente,
quem ficaria sem cobertura para seu problema de saúde. Paralelamente ao
movimento anterior, os economistas em saúde desenvolvem métodos
sistemáticos de associar efetividade e eficiência, incluindo a variável custo no
processo de decisão e tornando explícita a alocação de recursos limitados140
.
Nesse contexto surge a ATS, definida como “a síntese da evidência
científica disponível sobre as implicações da utilização das tecnologias em saúde, visando
orientar tecnicamente a tomada de decisão sobre a gestão de tecnologias, seja com vistas a
incorporação, descarte ou organização do acesso141
”.
Valendo-se de ferramentas da epidemiologia clínica, da estatística, da
metodologia científica e da informática para elaborar a pesquisa, o conhecimento e a
atuação em saúde, a MBE propicia o alcance da melhor informação disponível para a
tomada de decisão. Objetivamente, a MBE pode ser um instrumento útil à ATS, já que tem
por intuito a redução do nível de incerteza, de empirismo e de subjetividade nas decisões
sobre a aplicação de intervenções, o que evita erros, especialmente, quando referentes aos
abusos da utilização de novas tecnologias142
.
Adotar os conceitos da MBE perante o novo paradigma da prática sanitária
é uma necessidade que urge na medida em que se reconhece a realidade da escassez de
recursos financeiros no setor, a despeito do crescimento exponencial da demanda, o que
exige um reexame dos possíveis benefícios e custos das ações estatais, para assegurar a
efetividade das políticas públicas e a devida alocação recursos143
.
portanto, integra nas expectativas e valores pessoais dos pacientes e de seus familiares a experiência
clínica individual, com a melhor evidência externa disponível de pesquisas sistemáticas. 140
BRASIL. MS, 2009b, p. 14. 141
SILVA; SILVA; ELIAS, 2010, p. 426. 142
FOLLADOR, Wilson; SECOLI, Silvia Regina. A farmacoeconomia na visão dos profissionais da saúde.
In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e
análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 251. 143
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento.
Avaliação econômica em saúde: desafios para gestão no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2008d. (Série A. Normas e Manuais Técnicos), p. 7.
67
2.2.1 Definição e propósitos da ATS
O termo ATS foi cunhado pela primeira vez pelo Escritório de Avaliação
Tecnológica dos Estados Unidos, em 1976. Tratava-se de uma abordagem à política de
pesquisa, fitando o exame das consequências sociais da aplicação e do uso da tecnologia.
Sua finalidade precípua, então, seria auxiliar o gestor na tomada de decisão relacionada às
tecnologias em saúde144
.
Em relação aos demais setores da economia, o setor da saúde apresenta
algumas peculiaridades. Dentre elas, o fato de, em geral, novas tecnologias serem
agregadas ao sistema sem substituírem as antigas. Portanto, os gastos são cumulativos.
Além disso, as tecnologias em saúde apresentam impactos distintos nos
sistemas de assistência à saúde, podendo ser de grande impacto, proporcionando amplos
benefícios comprovados por evidências consistentes ou possuírem apenas um incremento
marginal, com impacto reduzido. As demais sequer são impactantes, ou ainda são
deletérias, já que não apresentam efetividade e segurança comprovadas a partir de
evidências de qualidade145.
Essas particularidades culminam no aumento do gasto agregado dos países
frente às despesas em saúde, pondo em xeque a capacidade dos sistemas de melhorarem ou
mesmo manterem seus resultados. Dentro desse quadro a ATS aparece com o objetivo de:
[...] subsidiar a tomada de decisão quanto ao uso racional das tecnologias em
saúde. Isso implica a seleção de tecnologias a serem financiadas e a identificação
das condições ou dos subgrupos em que elas deverão ser utilizadas, no sentido de
tornar o sistema de saúde mais eficiente para promover, proteger e recuperar a
saúde da população146
.
A ATS não apenas focaliza os impactos das tecnologias em saúde, como
também sistematiza informação relevante, que servirá de subsídio para decisões de gestão
e organização dos sistemas, lembrando que:
A ATS constitui um processo abrangente de investigação das conseqüências
clínicas, econômicas e sociais da utilização das tecnologias em saúde,
144
BALBINOTTO NETO, Giácomo. Utilização de diretrizes nacionais e internacionais para execução da
avaliação de tecnologias em saúde. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde:
evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 507. 145
SILVA; SILVA; ELIAS, 2010, p. 424. 146
Ibidem, p. 426.
68
emergentes ou já existentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até a
obsolescência. Apresenta como fontes de investigação: eficácia, efetividade,
segurança, riscos, custos, relações de custo-efetividade, custo-benefício e custo-
utilidade, eqüidade, ética, implicações econômicas e ambientais das tecnologias,
entre outras variáveis envolvidas na tomada de decisão dos gestores em saúde147
.
A ATS abrange ainda a avaliação econômica da incorporação dessas
tecnologias, já que, independentemente do modelo de financiamento adotado, o custo com
os cuidados em saúde é crescente na maioria dos países, donde decorre a busca pela
eficiência na alocação dos recursos. Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde (CONASS):
As avaliações econômicas em saúde são técnicas analíticas formais para
comparar propostas alternativas de ação, tanto em termos de seus custos como de
suas conseqüências, positivas e negativas [...]. A medida central de qualquer AE
é uma relação custo/resultados entre diferentes alternativas de intervenção e
essas avaliações se baseiam no custo de oportunidade, isto é, na compreensão de
que a aplicação de recursos em determinados programas e tecnologias implica a
não-provisão de outros (ou seja, em não benefícios para alguns)148
.
Destarte, tanto por meio de avaliação clínica, como econômica, a ATS
subsidia o processo de incorporação tecnológica, vetando inclusão de tecnologias
inapropriadas ou deletérias. No âmbito público, sobretudo, ela direciona os recursos à
incorporação das tecnologias mais adequadas ao perfil epidemiológico do país,
propiciando melhor proporção de custo-efetividade.
Nesse sentido, a ATS acaba por figurar como fator de defesa do direito
fundamental à saúde, já que, ao proporcionar ao Poder Público uma forma de minimizar
seus gastos em saúde, contendo despesas dispensáveis, favorece a melhor alocação de
recursos para políticas públicas de fato necessárias, conforme cada região.
Segundo informações do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(IATS)149
, os principais tipos de estudos usados em ATS são: revisões sistemáticas e
metanálises (que reúnem de forma organizada estudos científicos já existentes sobre um
novo tratamento); ensaios clínicos (geralmente utilizados na avaliação de novos fármacos,
147
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Avaliação de Tecnologias em Saúde: institucionalização
das ações no Ministério da Saúde. Revista Saúde Pública, v. 40, n. 4, p. 743-747, 2006a. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/artigo_ats_institucionalizacao_acoes_ms.pdf>. Acesso em:
10 jan. 2011, p. 743. 148
BRASIL. CONASS, 2007a, p. 65. 149
IATS. Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde. O que é ATS? Disponível em:
<http://www.iats.com.br/atividades.php?id_cms_menu=9>. Acesso em: 10 jan. 2012.
69
comparam a eficácia de uma ou mais tecnologias diretamente em pacientes, em condições
controladas); estudos observacionais (avaliam o desempenho dos tratamentos de saúde no
mundo real, fora de condições controladas) e estudos econômicos (sobretudo, os de custo-
efetividade, que definem a melhor forma de se empregar os recursos financeiros de um
sistema de saúde para se obter o maior benefício para a população).
Além disso, a IATS também descreve cinco etapas para a realização de
estudos em ATS, quais sejam: Etapa 1: verifica-se a necessidade da sociedade de que uma
nova tecnologia, quando lançada, seja logo disponibilizada pelo sistema de saúde; Etapa 2:
procede-se à verificação da eficácia e segurança da nova tecnologia, valendo-se de
pesquisas já existentes, ou dando início à condução de ensaios clínicos ou estudos
observacionais; Etapa 3: faz-se avaliação econômica (custo-efetividade) da nova
tecnologia para saber se o capital nela investido proporciona tanto ou mais benefício para a
saúde do que outras opções para a mesma enfermidade, determinando-se, ainda, seu
impacto orçamentário em caso de implementação; Etapa 4: tomada de decisão do gestor do
sistema de saúde sobre a incorporação de nova tecnologia, o que considera fatores como: a
demanda da sociedade; os fatores econômicos e orçamento; os fatores políticos; os estudos
de ATS; Etapa 5: financiamento e disponibilização da nova tecnologia para a população.
A despeito da amplitude do conceito de tecnologia em saúde, sem dúvida, a
maior proporção de recursos destinados à ATS é direcionada para avaliações de
medicamentos, motivo pelo qual se escolheu essa tecnologia como foco da dissertação,
embora os produtos farmacêuticos representem aproximadamente 10-15% do total dos
custos na área de saúde, apenas. E no tocante às prioridades de avaliação, segundo o
DECIT, os principais elementos envolvidos no processo de seleção incluem:
1. gravidade e prevalência da condição de saúde: magnitude do problema,
indicadores de morbidade, mortalidade, incapacidade, carga de doença e fatores
de risco da doença ou agravo para a qual a tecnologia está sendo indicada.
2. custo social da condição de saúde: estigmas sociais, perdas da capacidade de
trabalho e de convívio social, gastos previdenciários decorrentes de
aposentadorias por invalidez, entre outros fatores que interfiram no bem-estar da
sociedade.
3. potencial dos resultados do estudo para melhorar o resultado/benefício para a
saúde: possibilidade em contribuir para a melhoria da qualidade de vida,
considerando a efetividade e a eficácia da tecnologia avaliada.
4. potencial dos resultados do estudo para mudar os custos para o sistema de
saúde: possíveis alterações, de aumento ou de redução, nos custos de
procedimentos ou de intervenções geradas pelo estudo.
70
5. potencial dos resultados do estudo para contribuir para a melhoria da
qualidade da assistência: possibilidade de gerar melhorias em todos os níveis de
atenção à saúde.
6. potencial dos resultados do estudo em reduzir os riscos para a saúde: possível
contribuição da tecnologia a ser estudada na redução dos riscos para a saúde em
relação à segurança da intervenção.
7. custo unitário ou agregado da tecnologia frente à demanda de utilização:
análise do custo da tecnologia e do seu impacto para o sistema de saúde, frente à
demanda de utilização, como tecnologias de baixo custo unitário, com grande
impacto econômico final para o sistema, dependendo da demanda, ou
tecnologias de alto custo com pequena demanda.
8. suficiente disponibilidade de evidência científica: análise da disponibilidade
de estudos de qualidade na área e da necessidade de realização de pesquisas.
9. controvérsia ou grande interesse entre os profissionais da saúde: análise dos
interesses das classes profissionais e da discussão ou discordância sobre a
efetividade da intervenção a ser avaliada, além da pressão por parte dos
profissionais.
10. exigência de ações do Estado: análise da pressão política de associações de
portadores de patologias, pesquisadores, Ministério Público, Judiciário,
organismos internacionais, países do Mercosul, para que as tecnologias sejam
avaliadas ou rapidamente incorporadas. Relaciona-se também à necessidade de
tomada de decisão reguladora quanto à incorporação ou ao abandono da
tecnologia150
.
A ATS avalia os impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em
saúde, considerando, dentre outros aspectos, a eficácia, a efetividade, os custos, a
segurança e o custo-efetividade de uma tecnologia, tendo por finalidade precípua o auxílio
aos gestores da saúde na tomada de decisão quanto à incorporação de tecnologias151
.
Cuida-se de um processo interdisciplinar sistemático, que, a despeito de sua
orientação política, considerando o ator interessado em determinada avaliação, precisa ser
enraizada na ciência e no método científico. Sua realização deve se pautar pela integridade
para que sejam válidos seus resultados, no intuito de auxiliar na formulação de políticas de
incorporação de novas tecnologias nos três níveis de governo, até porque visa, não apenas
à incorporação de novas tecnologias, mas também, ao estudo sistemático e contínuo da
eficácia e eficiência das tecnologias já existentes.
Nos anos recentes pesquisas evidenciaram a falta de inovação terapêutica
real de muitos dos medicamentos comercializados, os quais constituíram novas entidades
químicas para uso farmacêutico que não implicaram qualquer melhoria terapêutica, apesar
150
BRASIL. MS, 2006a, p. 746. 151
BRASIL. Ministério da Saúde. Avaliação de tecnologias em saúde. rev. e ampl. Brasília: Ministério da
Saúde, 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/pub_destaques.php>. Acesso em: 17 jun.
2009.
71
do aumento de seus custos. Segundo estudos da Organização Panamericana da Saúde
(OPAS):
A incorporação de um novo medicamento à lista de produtos que recebem
financiamento público constitui um momento crítico no qual devem ser
consideradas várias circunstâncias, por exemplo, a melhoria terapêutica que o
novo produto garante. A incorporação a listas positivas ou formulários deve estar
condicionado à demonstração de suas vantagens terapêuticas e econômicas em
termos de eficiência comparados com aqueles já existentes. Isso evitaria o
problema das prescrições influenciadas por estratégias de comercialização dos
produtores e o emprego de recursos públicos no financiamento de tecnologias de
duvidosa efetividade152
.
A OPAS divulgou resultados de uma pesquisa brasileira, que confirma
estatísticas internacionais de que 70% dos medicamentos do mercado farmacêutico
mundial são duplicados, não essenciais e variantes menores de um fármaco original.
“Nesse sentido, parece essencial, especialmente para efeitos de regulação e financiamento
público, definir inovação em termos de aporte terapêutico e condicionar o financiamento
público ao alcance desse aporte153
”.
Assim, no que respeita à incorporação de novas tecnologias ao sistema
público de saúde, a ATS pode ser fundamental para evitar problemas judiciais futuros, uma
vez que possui o condão de indicar se uma determinada inovação será satisfatória, tanto
clinicamente, quanto economicamente.
Avaliações são realizadas pela indústria, pelos centros de pesquisa e pelas
universidades, sobretudo na fase de desenvolvimento da tecnologia, mencionando-se
também o interesse de outros atores, como as operadoras de planos de saúde. Nada
obstante, os órgãos governamentais necessitam de estudos de ATS pelos quais possam
estabelecer prioridades para formular políticas públicas de incorporação e reembolso.
Papel importante ainda é desempenhado pelas instituições de saúde,
sociedades profissionais e grupos de pacientes, que monitoram o uso das tecnologias e sua
eventual obsolescência, propiciando a obtenção de informações tocantes à efetividade da
tecnologia. Isso permitirá, portanto, a promoção de justiça social no acesso à saúde, já que,
152
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. O acesso aos medicamentos de alto custo nas
Américas: contexto, desafios e perspectivas. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério
da Saúde; Ministério das Relações Exteriores, 2009, p. 34. 153
Ibidem, p. 11.
72
conforme leciona Bergel154: “em um mundo caracterizado por profundas desigualdades,
não é possível falar em saúde sem nos referirmos à equidade, à solidariedade e por natural
consequência, à justiça social”.
Conquanto usual que o ponto de partida da ATS seja a tecnologia, ela pode,
na verdade, ser orientada a três focos distintos: à tecnologia em si (avaliando o impacto de
uma ou mais tecnologias); ao problema (quando objetivar a propositura de uma diretriz
clínica, a partir do estudo de questões sobre a melhor maneira de gerenciar um problema
clínico ou de saúde) e ao projeto (quando focaliza a implantação de uma tecnologia
específica)155
.
Algumas barreiras à efetiva implementação da cultura da ATS como
subsídio para tomada de decisão são ainda persistentes, a despeito de todos os esforços
empreendidos nos últimos anos. Dentre elas, a mútua descrença entre os pesquisadores e os
responsáveis pela decisão, bem como o desconhecimento das técnicas de ATS pelos
últimos. Além disso, as estratégias pouco efetivas implementadas pelos pesquisadores na
transmissão das recomendações dos estudos de ATS aos decisores e a incapacidade de
adaptar a evidência científica ao contexto da tomada de decisão156
.
Além disso, alguns campos de investigação têm encontrado barreiras no
estudo da ATS, como a Ética, por exemplo, geralmente não usada no momento da
avaliação, já que valores éticos não são inerentes à tecnologia em si, mas à sua aplicação,
motivo pelo qual a Bioética é considerada uma ferramenta à parte. Insta ressaltar que para
a efetiva implantação da ATS, há que se considerar sua natureza multidisciplinar bem
como as visões de diferentes atores, com interesses peculiares no sistema.
No presente texto, priorizou-se a perspectiva social, na qual custos e
benefícios devem ser ponderados para abranger a maior parcela possível da sociedade, vez
que o intuito é apresentar a ATS como fator de justiça social e instrumento auxiliar na
eficácia de políticas públicas e na gestão do SUS. Daí a importância da abordagem de uma
área específica da ATS, qual seja, a AES.
154
BERGEL, Salvador Darío. Responsabilidad social y salud. Revista Brasileira de Bioética, Brasília, v. 2, n.
4, p. 443-467, 2006. 155
BRASIL. MS, 2009b, p. 34. 156
SILVA; SILVA; ELIAS, p. 419.
73
2.2.2 Avaliação econômica em saúde
Embora o uso corriqueiro do termo economia remeta a meras compreensões
de natureza monetária, urge esclarecer que a economia é na verdade uma ciência social, o
que permite à ATS estabelecer as preferências das pessoas quando diante de escolhas, bem
como quais dessas escolhas trarão maiores benefícios à sociedade157
. Em um ambiente no
qual a demanda é grande e os recursos escassos, fundamentos da economia podem auxiliar
a tomada de decisão.
A AES é uma forma de ATS que auxilia as várias esferas de governo a
avaliar a possível existência de recursos suficientes para sustentar uma decisão, enquanto
garante, ao mesmo tempo, que outros serviços já consolidados não percam viabilidade,
estimando impactos orçamentários de curto e médio prazo, já que uma das maiores
preocupações da Administração Pública no âmbito social é o impacto orçamentário de uma
política. As AES:
[...] baseiam-se no custo de oportunidade, isto é, na compreensão de que a
aplicação de recursos em determinados programas e tecnologias implica a não-
provisão de outros (ou seja, em não-benefícios para alguns) [...] uma alocação
eficiente de recursos é aquela em que os custos de oportunidade são
minimizados, isto é, em que se obtém o maior valor dos recursos empregados158
.
Uma AES compara diferentes tecnologias no que se refere aos seus custos e
aos efeitos sobre o estado de saúde de uma população159
. São quatro os principais tipos de
avaliação econômica em saúde: custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e
custo-benefício. A primeira é utilizada quando duas ou mais intervenções proporcionarem
exatamente o mesmo benefício.
A segunda, encontrada com maior frequência na literatura, vale-se do
parâmetro clínico para uma doença específica, capaz de mensurar e refletir o potencial
ganho de saúde. Sua realização é vantajosa, por já se valer de muitos dados e informações
disponíveis na literatura. Por outro lado, procede apenas a uma avaliação parcial do
157
FOLLADOR; SECOLI, 2010, p. 258. 158
BRASIL. MS, 2009a, p. 13. 159
Idem, 2006c, p. 18.
74
paciente, a partir de parâmetros que não consideram seus valores e preferências, o que
reduz os resultados em qualidade de vida.
No que concerne à equidade no sistema de saúde, há que se identificar com
clareza tanto os beneficiários quanto os possíveis grupos negativamente afetados pela
incorporação de uma nova tecnologia, análise essa que deve ser realizada separadamente
dos estudos de custo-efetividade.
Na terceira avaliação, do tipo custo-utilidade, procura-se utilizar um único
parâmetro clínico relevante, geralmente a mensuração dos Anos de Vida Ajustados pela
Qualidade (QALY), como denominador comum a diversificadas doenças e especialidades.
Nessa avaliação, conferem-se os ganhos (ou perdas) em anos de vida subseqüentes a uma
intervenção em saúde, por meio da qualidade de vida durante esses anos160
.
A conveniência disso é que, pelo fator QALY, o paciente pode ser avaliado
em sua plenitude, incluindo seus valores e preferências, considerando-se tanto os
potenciais ganhos de qualidade e quantidade de vida, como eventuais conflitos entre
ambos. Nesse sentido:
A busca por métodos objetivos de avaliação do valor das intervenções em saúde
é um desafio constante. Os métodos em ATS buscam preencher a lacuna
existente entre as preferências (subjetividade) e a ciência (objetividade, validade,
reprodutibilidade). Nesse âmbito, uma das grandes dificuldades dos responsáveis
pelas decisões em saúde está na escolha de indicadores que possam representar o
maior benefício para a população. Os maiores benefícios esperados na aplicação
de intervenções em saúde são representados pela longevidade e pela qualidade de
vida161
.
Já na análise de custo-benefício, tanto os benefícios quanto os custos de uma
tecnologia em saúde são avaliados monetariamente.
Para que uma avaliação econômica seja realizada e acreditada, é necessário que
as evidências sobre o ganho de saúde adicional e uso de recursos e custos sejam
inquestionáveis do ponto vista metodológico, ou seja, é necessário reconhecer a
existência de evidências que sejam válidas e extrapoláveis para o meio em que
esta intervenção será utilizada. Somente com o exercício destes conhecimentos,
estaremos aptos a tomar decisões que aliem a ciência a uma melhor utilização
pelo sistema de saúde dos escassos disponíveis162
.
160
BRASIL. MS, 2009b, p. 93. 161
FOLLADOR; SECOLI, 2010, p. 255. 162
FERRAZ, Marcos Bosi. Avaliação econômica em saúde. In: VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana
Maria. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, p. 189.
75
O Ministério da Saúde apresenta as diretrizes metodológicas para estudos de
AES, nas quais se fundamentam as avaliações realizadas por este órgão, devendo ser claras
durante o estudo as seguintes características e parâmetros: caracterização do problema;
população-alvo; desenho do estudo; tipos de análise; descrição das intervenções a serem
comparadas; perspectiva do estudo; horizonte temporal; caracterização e mensuração dos
resultados; eficácia e efetividade; medidas intermediárias e finalísticas; obtenção de
evidências; qualidade de vida; medidas de benefício; quantificação e custeio de recursos;
modelagem; taxa de desconto; resultados; análise de sensibilidade; generalização dos
resultados; limitações do estudo; considerações sobre impacto orçamentário e equidade;
aspectos éticos e administrativos; conclusões e recomendações do estudo e eventuais
conflitos de interesses entre as fontes de financiamento163
.
Uma análise econômica terá sempre por finalidade esclarecer qual a melhor
alternativa tecnológica a ser escolhida para uma população, considerando-se suas
peculiaridades e a realidade da escassez de recursos. Ao seguir as diretrizes apontadas
acima, uma AES considera fatores como eficácia, efetividade, custos, risco, segurança,
custo-efetividade, impactos clínicos, sociais e econômicos.
Nesse contexto, a medida de eficácia é probabilidade de benefícios
decorrentes de uma tecnologia em condições ideais de uso. Já a efetividade retrata a
expectativa de benefício de uma tecnologia em condições normais de uso. Há que se
considerar ainda o impacto social, ético e legal, que são todos os impactos não
relacionados à efetividade, à segurança, e aos custos, incluindo as conseqüências
econômicas secundárias para indivíduos e comunidades164
.
Considerando ser a equidade um dos pilares do SUS, nesse âmbito faz-se
imperioso identificar, precisamente, quem são os beneficiários das intervenções ou
programas de saúde analisados, e também, os subgrupos que podem ser negativamente
afetados pela incorporação da tecnologia.
Partindo-se do pressuposto de que os recursos são finitos e escassos, os
custos em saúde devem ser estimados em três etapas: a partir da identificação dos custos
relevantes à avaliação, em seguida, pela mensuração dos recursos usados e por último, pela
163
BRASIL. MS, 2009a, passim. 164
Idem, 2009b, p. 29.
76
sua valoração. Ademais, os resultados do estudo deverão ser apresentados de maneira a
permitir o seu exame e revisão, uma vez que as inovações não cessam, devendo-se garantir
resultados em termos de obsolescência, seja natural, precoce ou artificial.
Compartilha-se do entendimento de Porter165 sobre o objetivo de uma
assistência em saúde, que não deve ser o de minimizar custos, mas sim, o de aumentar o
valor (importância) para os pacientes, ou seja, melhorar a qualidade da assistência em
relação aos gastos despendidos, o que inclui acesso a tecnologias.
Nessa análise, importa considerar que as avaliações nas quais se pautam as
políticas de saúde devem mensurar todo o ciclo de atendimento, e não apenas situações
pontuais, como a incorporação de um novo fármaco independente do contexto do sistema
de saúde. Não se deve, portanto, incentivar economias de curto prazo que incorram em
aumentos de gastos desnecessários em longo prazo. Por outro lado, eventualmente, um
severo dispêndio para um tratamento específico de um indivíduo num determinado
momento, pode poupar anos de gastos de assistência posterior em enfermagem, já que o
ciclo de atendimento não se resume à cura, mas também, à reabilitação para minimizar
recorrências e progressão. Nessa ótica:
Existem oportunidades para grandes melhorias no valor da assistência à saúde
através de novas tecnologias na medicina. No entanto, mais importante ainda
serão novas maneiras de se organizar, mensurar e gerenciar a prestação dos
serviços de saúde ao longo de todo o ciclo de atendimento. Existem enormes
ganhos a serem alcançados simplesmente fazendo um uso mais eficaz da atual
ciência médica. Chegamos à firme conclusão de que a tecnologia é importante,
mas que o principal problema do sistema, hoje, não é tecnologia, mas o
gerenciamento. [...] O foco no valor ao longo de todo o ciclo de atendimento, em
vez de simplesmente em custo e benefício de curto prazo, transformaria a
maneira de encarar a prestação de serviços de saúde. Por exemplo, o atual foco
no controle dos gastos com medicamentos troca economias de curto prazo com
medicamentos por despesas maiores mais adiante, leva alguns pacientes a não
cumprirem as prescrições e desestimula inovações. O foco no valor ao longo de
todo o ciclo de atendimento mudaria o curso do debate de controle de custos para
o uso mais eficaz de medicamentos e outros tratamentos, com fins a melhorar a
qualidade e a eficiência no atendimento e gestão de certas doenças específicas.
Na atual competição nem sempre é escolhido o medicamento com melhor
eficácia de custo166
.
É preciso, portanto, investigar as implicações globais da incorporação de
novas tecnologias, antes de culpar exclusivamente empresas farmacêuticas e fornecedores
165
PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a Saúde: estratégias para melhorar a
qualidade e reduzir os custos. Tradução de Cristina Bazan. Porto Alegre: Bookman, 2007, p. 100. 166
PORTER, 2007, loc. cit.
77
de tecnologias pelo incremento dos custos no sistema, uma vez que o melhor uso das
tecnologias já existentes para melhorar a qualidade de vida dos pacientes é uma ferramenta
capaz de minimizar gastos em longo prazo e ampliar o valor de um tratamento ao paciente.
No que respeita aos medicamentos, saliente-se que:
[...] na avaliação econômica global de um medicamento, distinguem a avaliação
clínica, pautada na eficácia ou na efetividade, e a ATS, baseada na eficiência, na
qual está incluído o cálculo de custos. Dessa forma, qualquer método que traga
informações sobre custos e efeitos de um medicamento pode ser utilizado como
base para a realização de uma avaliação farmacoeconômica167
.
Insta esclarecer que farmacoeconomia, de modo geral, refere-se ao conjunto
de atividades como: a gestão de serviços farmacêuticos, a avaliação da prática profissional
e a avaliação econômica de medicamento, voltadas à análise econômica no campo da
Assistência Farmacêutica. De modo peculiar, cuida da descrição e análise dos custos e das
consequências da administração de medicamentos para o paciente, para o sistema de saúde
e para a sociedade168
.
Nesse contexto, estudos de avaliação econômica podem se valer do nível
farmacológico ou terapêutico para intercambialidade de medicamentos169
, desde que haja
justificativa para uso de um ou outro. O primeiro cuida de produtos da mesma classe
farmacológica, ou seja, fármacos semelhantes em seu alvo de ação bioquímica. Já no
segundo nível estão os medicamentos da mesma classe terapêutica, o que significa
remédios direcionados ao tratamento de uma mesma enfermidade.
Em um mesmo grupo de medicamentos devem ser abordadas questões
potencialmente relacionadas à heterogeneidade, como formas, graus e efeitos dela
decorrentes, atribuindo-se a diversos fatores170
possíveis respostas diferentes a
medicamentos administrados. Fatores os quais, uma vez erroneamente considerados,
podem ocasionar diferenças na efetividade e no custo dos produtos.
Como escolha da alternativa a ser comparada, deve-se selecionar o medicamento
de menor custo e que seja mais frequentemente utilizado para a indicação clínica
167
FOLLADOR; SECOLI, 2010, p. 258. 168
BRASIL. MS, 2009a, p. 137. 169
A intercambialidade equivale à escolha de um medicamento entre dois ou mais para os mesmos fins
terapêuticos ou profiláticos. 170
Como diferenças na qualidade do medicamento, na preparação química, nas formas de aplicação, na
relação potência/dose, na biodisponibilidade, nos efeitos colaterais e no desempenho (rapidez de absorção,
efeitos).
78
em análise. Quando a avaliação econômica estiver apoiada em um estudo clínico
de efetividade, deve-se tomar por base a dose proposta no ensaio clínico. Em
estudos que tomam por base protocolos do próprio Ministério da Saúde ou de
Associações Profissionais, a dose a ser considerada deverá ser aquela
preconizada por suas respectivas diretrizes. Por fim, em análises de custo-
efetividade ou de custo-utilidade que necessitem a homogeneização das doses de
utilização de medicamentos, o estudo deverá indicar claramente a metodologia
adotada no processo171
.
A avaliação econômica de medicamentos é facilitada pela exigência para
seu registro e comercialização, bem como pelos testes clínicos rigorosos previamente
realizados para sua liberação, além da vigilância pós-comercialização, o que amplia o
volume de estudos e publicações.
Quanto à disseminação dessas informações, há que mencionar ainda a
possibilidade de uso por um país, de avaliações realizadas em outro, por meio de
transferabilidade ou adaptação172
. No que concerne aos requisitos desse intercâmbio:
A extrapolação dos resultados de avaliação econômica da saúde feitos no
exterior para o Brasil é uma tarefa extensa, mas não impossível. A objetividade e
a simplicidade devem ser levadas em consideração, da mesma forma que a
avaliação econômica apresentada deve refletir o máximo possível a realidade do
país no qual se pretende que ela seja levada em consideração. A adaptação de
uma avaliação econômica pode precisar não só da correção dos parâmetros como
também da modificação total do desenho inicial, o que denota a necessidade de
construção de uma nova avaliação adequada à realidade local. Desse modo, uma
avaliação estrangeira pode servir de inspiração, principalmente quando os
métodos se encontram disponíveis, e críticas feitas a essa avaliação estrangeira
representam um ponto fundamental a ser considerado na construção de novas
avaliações173
.
Ao se proceder a uma AES é preciso antes avaliar a tecnologia em questões
cruciais, como eficácia, efetividade e disponibilidade. Após essas análises é que se busca
uma comparação com outros medicamentos em relação a custos. Nesse sentido, é possível
saber quando uma nova tecnologia será mais efetiva que outra já existente, sem acarretar
maiores custos (ou até mesmo propiciar economia ao sistema), o que é uma questão-chave
171
BRASIL. MS, 2009a, p. 46-48. 172
Transferabilidade refere-se à utilização de resultados da avaliação conduzida em um país em outros, com
mínima ou nenhuma alteração dos métodos de dados. Adaptação refere-se à modificação do projeto
executado em determinado país, com alteração, possivelmente extensa, dos métodos e dos dados quando
adotados em outro país. Para o Brasil, considerando que a realidade de saúde local é diferente da norte-
americana e europeia, o caso mais comum é a adaptação. Cf. ARAÚJO, Gabriela Tannus Branco de;
FONSECA, Marcelo Cunio Machado. Extrapolação para o Brasil dos resultados de avaliação econômica
da saúde feitos no exterior. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência
clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 530. 173
Ibidem, p. 540.
79
para uma tomada de decisão racional. O exemplo abaixo ilustra a relevância da AES para o
SUS, nomeadamente no que concerne à alocação de recursos:
Imagine-se que o SUS ofereça indistintamente – sem considerar como se faz
hoje o perfil de segurança, eficácia (faz o que se propõe a fazer em condições
controladas) e custo-efetividade (faz o que se propõe a fazer em condições reais
e no menor custo) – aos estimados 1,9 milhão de afetados por hepatite viral
crônica do tipo C e por artrite reumatóide, respectivamente peginterferona na
primeira doença, e infliximabe, etarnecepte e adalimumabe na segunda afecção.
O custo total dos tratamentos seria de R$99,5 bilhões, nada menos que 4,32% do
PIB brasileiro. O gasto público total com ações e serviços de saúde, teria tido,
por extrapolação de dados de 2004 (3,69% do PIB), em 2006, de R$85,7 bilhões!
Ou seja, para fornecer apenas quatro produtos para o tratamento destas duas
doenças, que afetariam 1% da população, gastar-se-ía [sic.] mais que o que é
atualmente gasto com todo o atendimento feito pelo SUS com internação,
diagnóstico, cirurgias, ações de educação em saúde, vigilância sanitária e
epidemiológica, entre outros174
.
Certamente a hipótese acima não é motivo para o desprezo de quaisquer
setores da saúde pelo Estado, por mais onerosos que sejam. Trata-se apenas de uma
ilustração, que justifica a importância da devida alocação de recursos e implantação de
políticas públicas efetivas, que de fato primem pelos princípios norteadores do SUS, o que
pode ser facilitado pela AES, já que:
A avaliação econômica é uma atividade cujo objetivo é maximizar a eficácia de
programas ou projetos na obtenção de seus fins e a eficiência na alocação dos
recursos para sua consecução. Pressupõe-se, de modo inerente ao ato de avaliar
no campo da economia, a possibilidade de otimização das ações para obtenção
do melhor resultado possível a partir do uso racional dos recursos175
.
2.3 DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE O USO DA ATS
A inovação incessante de tecnologias na área da saúde, principalmente
medicamentos, resulta em acréscimo nos custos de seu acesso, dificultando sua oferta aos
usuários. Nessa lógica, a ATS (propriamente dita) surge em meados da década de 1990 nos
174
BONFIM, José Ruben de Alcântara. Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde:
direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso. In: KEINERT, Tânia Margarete
Mezzomo; DE PAULA, Silvia Helena Bastos; BONFIM, José Ruben de Alcântara (Org.). As ações
judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo: Instituto de Saúde, 2009. (Série Temas em
Saúde Coletiva, 10), p. 140. 175
SARTI, Flavia Mori; CAMPINO, Antônio Carlos Coelho. Fundamentos de economia, economia da saúde
e farmacoeconomia. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica,
análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 229.
80
países desenvolvidos, com o escopo de respaldar as decisões políticas sobre incorporação
ou exclusão de tecnologias em saúde, após avaliação de seu impacto social.
Já nos países em desenvolvimento, além da questão orçamentária perante o
incremento dos custos na saúde, o sistema ainda é pressionado pela intensa difusão de
informações técnico-científicas, cominada com a ação de laboratórios multinacionais que
criam uma demanda local pela inovação.
Não obstante seu valor como programa de pesquisa em diversos países, a
forma de organização e incorporação dos resultados da ATS no processo de formulação de
políticas públicas difere sobremaneira de um país para outro, sem se olvidar ainda das
influências de um amplo conjunto de grupos disciplinares (epidemiologistas, economistas,
etc.), setoriais (acadêmicos, gestores, profissionais de saúde), e de interesses (indústria,
pacientes, prestadores de serviço, governo)176
.
2.3.1 ATS no cenário internacional
A concepção da dimensão social da avaliação de medicamentos foi
introduzida na Noruega na década de 1940 e perdurou por mais de 50 anos, até ser
descontinuada neste país ante a ausência de regulação, ressurgindo com outra roupagem,
em países desenvolvidos, cujos sistemas de saúde, de acesso gratuito ou subsidiado,
procedem a avaliações no intuito de evitar a prescrição de fármacos que não representem
verdadeiramente um ganho terapêutico177
, o que se coaduna com os propósitos da MBE.
Dada a necessidade do fomento de pesquisas que respaldem o
direcionamento de custos nos sistemas de saúde, diretrizes para execução e orientação de
ATS têm sido adotadas desde o início da década de 1990178
por diversos países, cujas
agências ou órgãos de avaliação integram a Rede de Agências Internacionais para
176
BRASIL. MS, 2009b, p. 95. 177
BONFIM, 2009, p. 146. 178
1992: Austrália; 1994: Canadá e Japão; 1995: Espanha; 1998: Portugal, Dinamarca e Suíça; 1999:
Finlândia e Irlanda; 2000: Holanda, Inglaterra e País de Gales; 2001: Noruega; 2002: Itália; 2003: Latvia,
Lituânia, Estônia, Hungria, Federação Russa e Israel; 2004: Suécia e Cuba; 2006: França; 2007: China,
Coreia, Áustria, Alemanha, Nova Zelândia e Brasil; 2008: Bélgica, Tailândia e México. Cf.
BALBINOTTO NETO, 2010, p. 508.
81
Avaliação de Tecnologias em Saúde (INAHTA), em decorrência da patente necessidade de
cooperação e compartilhamento de informações acerca das diferentes culturas.
A INAHTA é uma rede internacional, fundada em 1993, cuja secretaria está
localizada na Suécia, que tem por missão fornecer um fórum para a identificação e a
persecução de interesses comuns à HTAi (Health Tchnology Assessment International179
),
visando acelerar o intercambio e a colaboração entre agências. Ademais, promove a
partilha de informação e comparação, evitando, portanto, duplicações desnecessárias das
avaliações. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que conta hoje com 53
agências membros de 29 países de todos os continentes180
. Todos os seus membros são
agências de ATS, vinculadas a políticas regionais ou governo nacional181
.
A INAHTA promove uma abordagem coerente e transparente dos estudos,
por meio da divulgação on line de listas de verificação que fornecem informações
referentes à finalidade, métodos e conteúdo de um relatório de ATS. Também promove
conferências internacionais, oficinas, exposições e atividades educacionais e seminários,
além de publicar seus boletins em três línguas diferentes para facilitar o acesso de seus
membros.
No âmbito internacional os países desenvolvidos com forte financiamento
público no setor da saúde, como Reino Unido, Canadá e Austrália, cada vez mais se valem
da ATS para tomada de decisão quando da incorporação de novas tecnologias.
Um dos primeiros países a se valer da prática da ATS, em especial, da AES,
para incorporação de novas tecnologias foi a Austrália, quando, em 1993 o Ministério da
Saúde criou um departamento (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee) para o
desenvolvimento de estudos que comparassem as vantagens das novas tecnologias em
relação às alternativas terapêuticas vigentes. Em princípio, os estudos retardavam a
179
Associação internacional de indivíduos e agências envolvidos em ATS. 180
A lista de agências internacionais vinculadas à INAHTA está disponível em seu site, divididas por países
da seguinte forma: Alemanha – DAHTA@DIMDI; Argentina – IECS; Austrália – AHTA, ASERNIP-S e
MSAC; Áustria – ITA; Bélgica – KCE; Canadá – AETMIS, AHFMR, CCOHTA, IHE e MAS; Chile –
ETESA; Cuba – INHEM; Dinamarca – DACEHTA e DSI; Espanha – AETS, AETSA, AVALIA-T,
CAHTA, OSTEBA e UETS; Estados Unidos – AHRQ, CMS e VATAP; Finlândia – FinOHTA; França –
HAS(ANAES) e CEDIT; Holanda – CVZ, GR e ZonMW; Hungria – HunHTA; Israel – ICTAHC; Letônia
– HSMTA; México – IMSS; Noruega – NOKC; Nova Zelândia – NZHTA; Reino Unido – CRD, IAHS,
NCCHTA, NHS-QIS e NHSC;Suécia – CMT e SBU; Suíça – MTU-FSIOS e TA-SWISS. 181
Disponível em: <http://www.inahta.org/>. Acesso em: 10 out. 2011.
82
incorporação de novos medicamentos, o que foi objeto de severas críticas, mas, em longo
prazo, os resultados foram positivos, observando-se um decréscimo ou estabilização dos
preços dos medicamentos da lista de produtos distribuídos gratuitamente pelo governo182
.
Enquanto na Austrália as avaliações são feitas no âmbito federal, no Canadá
os estudos em ATS são realizados por agências nas províncias. À agência nacional
(Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) cabe a coordenação das
avaliações, o que é fomentado no país desde 1989. “Apesar de serem países com elevado
desenvolvimento, eles adotam padrões diferenciados de avaliação e incorporação de
acordo com as características sociais, culturais e de seus sistemas de saúde183
”, o que
ocorre também com a Inglaterra:
A Inglaterra, na constituição do National Institute for Clinical Excellence
(NICE), estabeleceu um novo modelo mundial nas avaliações de tecnologias.
Atualmente, o Instituto estabelece quais os segmentos e setores de Saúde a serem
avaliados, quais novos insumos precisam ser revisados e, de um modo prático,
fornece recomendações nacionais que orientam clínicos e gestores sobre as
práticas em saúde. Ele segue o modelo australiano de ATS [...] incorporando
sempre em seus segmentos uma revisão crítica de estudos econômicos existentes,
a possibilidade ou não de generalização de seus resultados e o estabelecimento
da necessidade ou não de desenvolvimento de modelos locais para estimar custos
e custo-efetividade de novas intervenções. Na maioria dos relatórios produzidos
nos últimos anos, aspectos econômicos têm sido decisivos nas recomendações
adotadas pelo grupo. A principal limitação, freqüentemente apontada pelos
autores das avaliações, é a falta de estudos econômicos para todas as tecnologias,
além da qualidade e validade questionável dos estudos existentes. Em alguns
casos, por exemplo, na avaliação das endopróteses coronarianas recobertas por
drogas (stent), o relatório do NICE [...] reconhece a eficácia da nova intervenção,
bem como sua efetividade, mas aponta uma relação de custo-efetividade
desfavorável para o sistema inglês da adoção desta nova tecnologia de forma
rotineira. Em outras situações, apesar dos resultados econômicos desfavoráveis,
os apelos clínico e ético são maiores e sobrepujam o peso das conseqüências
econômicas184
.
Nos Estados Unidos a FDA preceitua, desde a expedição de um ato
normativo em 1998, a necessidade de avaliações econômicas pelas indústrias antes da
submissão de um novo medicamento para registro. Essa linha de gestão ainda é seguida
por outros países europeus, sob diversas diretrizes que orientam modelos
182
BRASIL. MS, 2008d, passim. 183
SANTOS, 2010, p. 15. 184
BRASIL. MS, op. cit., passim.
83
farmacoeconômicos, embora os resultados dessas AES sejam confidenciais, restritos às
agências reguladoras185
. Mesmo assim, pode-se dizer que:
[...] as diversas experiências internacionais em avaliação de tecnologias
sanitárias estão definindo um novo caminho, onde a determinação do preço ou as
condições de financiamento do medicamento será resultado de uma avaliação
que considerará, não só a utilidade terapêutica agregada que aporta o novo
medicamento, como também as circunstâncias que envolvem essa inovação (se
cobre uma lacuna terapêutica anteriormente não coberta, impacto orçamentário,
necessidades da população, gravidade da patologia para as quais o medicamento
é indicado etc.). Nesse sentido, esses novos instrumentos de apoio à tomada de
decisões ajudarão a fomentar o uso racional dos medicamentos com uma série de
instrumentos como os reembolsos condicionados, que vinculam o financiamento
à realização da prescrição segundo a indicação terapêutica para a qual foi
registrada o produto, e não para outra, com as consequentes vantagens de evitar
os incentivos à prescrição ineficiente186
.
A regulação direta de preços dos medicamentos pode ser feita de várias
formas diferentes, sendo a escolha dos critérios uma faculdade da cada país, conforme sua
experiência. No Brasil, a regulação é feita por base na utilidade do fármaco, sua avaliação
econômica e comparação internacional de preços. Já em países como Colômbia, Cuba e
Equador, o custo de produção prevalece na regulação187
.
2.3.2 ATS no Brasil
Desde a década de 1980 observa-se no Brasil o interesse do estabelecimento
de uma estrutura formal para avaliação de tecnologias, que auxiliasse na incorporação no
sistema de saúde, o que foi obstado por fatores como resistência a mudanças, falta de
coordenação e recursos financeiros, dificuldades metodológicas, insuficiência de recursos
humanos para as atividades e até ausência de vontade política dos dirigentes.
Porém, o incremento dos custos, perante o reconhecimento do desperdício
de recursos, frente a uma nova ordem constitucional que primava pela garantia de direitos
fundamentais, somada à crescente intervenção do Poder Judiciário no setor de saúde,
culminou na procura de meios para aprimorar os processos de decisão188
.
185
BRASIL. MS, 2008d, passim. 186
OPAS, 2009, p. 33. 187
Ibidem, p. 36. 188
BRASIL. MS, 2009b, p. 16.
84
A ATS no Brasil foi impulsionada pela afirmação do SUS no ordenamento
jurídico, sendo notadamente influenciada por seus princípios e políticas, já que:
[...] os processos decisórios em saúde no SUS são fortemente determinados pelos
contextos social, econômico e político em que as políticas de saúde são
concebidas, estruturadas e implementadas. Para tal são necessários diferentes
mecanismos de integração e articulação entre as instancias político-
administrativas dos três níveis de gestão do SUS (União, Estados e Municípios),
além de um complexo processo de cotejamento entre as decisões baseadas em
evidências científicas e o contexto decisório em que são utilizadas. Da mesma
maneira, o pressuposto constitucional – de que a saúde é um direito de todos e é
dever do Estado – determina a existência de mecanismos de avaliação crítica e
incorporação racional de tecnologias em saúde, de modo a garantir
sustentabilidade dos programas de saúde pública, bem como o atendimento aos
demais princípios do SUS, que incluem a universalidade do acesso, a equidade e
a integralidade189
.
A área de Avaliação de Tecnologias e Economia da Saúde desenvolveu 88
projetos de 2002 a 2007, sendo contemplada com R$ 5.577.971,49 (cinco milhões
quinhentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)
em recursos do MS190
.
A institucionalização da área de ATS no MS teve como marco a criação do
DECIT em 2000. Mas sua estruturação de fato se iniciou em 2003, quando da
reestruturação do DECIT e a criação do CCTI, instância ministerial responsável pela
condução de diretrizes e promoção da avaliação para incorporação de novas tecnologias no
SUS. O CCTI foi criado com os propósitos de promover estudos de ATS para subsidiar a
tomada de decisão no SUS, monitorar a utilização de tecnologias já incorporadas, capacitar
os gestores e profissionais de saúde e disseminar resultados da ATS para os gestores.
Na ocasião da 12ª Conferência Nacional de Saúde, em 2004, a ATS foi
reconhecida como instrumento estratégico para subsidiar a gestão crítica de tecnologias de
saúde. No ano seguinte, houve a realização do I Seminário Internacional de Gestão de
Tecnologias em Saúde191
, no qual se estabeleceu a cooperação interinstitucional, em
189
POLANCZYK, Carisi Anne; VANNI, Tazio; KUCHENBECKER, Ricardo S. Avaliação de Tecnologias
em Saúde no Brasil e no Contexto Internacional. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias
em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 439. 190
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamentos
de Ciência e Tecnologia. Construindo pontes entre a academia e a gestão da saúde pública. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008b. (Série A. Normas e Manuais Técnicos), p. 44. 191
O evento ocorreu em Belo Horizonte/MG, sendo organizado em parceria a SAS, contando com a presença
de representantes da presidência da INAHTA e de agências de ATS da Argentina, Chile, Espanha, Suécia
e Canadá. Do intercambio de experiências e das recomendações emanadas do Seminário, o MS iniciou a
construção coletiva de uma política nacional que norteasse o processo de gestão de tecnologias, posteriori
85
âmbito internacional, com a associação do DECIT/SCTIE à INAHTA, o que representou
um marco para a ATS no Brasil.
Para o desenvolvimento de estudos em ATS, sob a coordenação do DECIT,
o CCTI criou em 2005 o Grupo Permanente de Trabalho em Avaliação de Tecnologias em
Saúde (GT/ATS), constituído por representantes de diversas secretarias do MS, além do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), da ANVISA e da ANS.
Ainda em 2005, foi instituída a Comissão para Elaboração de Proposta para
a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), a qual foi instituída em
2009. Uma das recomendações da proposta de criação da PNGTS foi a constituição de
redes de pesquisa para realização de estudos estratégicos, o que se deu com o
estabelecimento de parcerias do MS com instituições de ensino, que fitavam à realização
de cursos de pós-graduação em gestão de tecnologias em saúde voltados para os
profissionais do SUS, o que resultou no lançamento da Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologias em Saúde (REBRATS) em 2008.
A REBRATS, sob a coordenação do DECIT, tem por escopo promover e
difundir a ATS no Brasil e no âmbito internacional, produzindo e disseminando estudos e
pesquisas prioritárias nessa área, mediante metodologias padronizadas que monitoram o
horizonte tecnológico e validam a qualidade dos estudos, através do uso da MBE para o
processo de tomada de decisão em saúde. A REBRATS intenta estabelecer vínculos entre
instituições gestoras do SUS, de ensino e pesquisa, unidades de saúde, hospitais,
sociedades profissionais e usuários, primando pela qualidade e excelência nas diversas
fases de avaliação de tecnologias (incorporação, difusão, abandono), no tempo oportuno e
no contexto para o qual a atenção é prestada.
Um marco normativo importante desse processo foi a elaboração da Política
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS)192
, em 2004. Como
a fase de inovação e que subsidiasse a deliberação sobre o uso racional e sustentável das tecnologias no
SUS. BRASIL. MS, 2011, p. 44. 192
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento
de Ciência e Tecnologia. Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde. 2 ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008c. (Série B. Textos Básicos em Saúde).
86
desdobramento dessas atividades de estruturação da ATS no Brasil, em 2009, foram
ampliadas as atividades da REBRATS e aprovada a PNGTS193
.
As atividades desenvolvidas pela REBRATS têm por escopo a redução da
assimetria de informação para a tomada de decisão frente às alternativas tecnológicas
existentes, dentre elas:
[...] publicações dos Boletins Brasileiros de Avaliação de Tecnologia em Saúde
(BRATS), dos Boletins Saúde e Economia (voltado ao público leigo, apresentam
as diferenças entre os custos mensais de tratamentos que possuem a mesma
eficácia), a participação da Rede Brasileira de Avaliações de Tecnologias em
Saúde (REBRATS) e o incentivo da criação de Núcleos de Avaliação de
Tecnologias em Saúde (NATS) em hospitais de ensino, vinculados à
universidades194
.
Para a identificação das necessidades e certeza de disponibilização dos
recursos é necessária a participação de gestores das três esferas de governo na elaboração e
condução de políticas públicas, como tem ocorrido no Brasil desde a instituição do SUS195
.
Embora ainda, em muitos lugares, haja um hiato entre os centros da pesquisa acadêmica e
a gestão pública, uma participação crescente das Secretarias de Saúde nos programas de
elaboração de pesquisas e avaliação para o SUS já é perceptível196
.
Quanto ao papel do Brasil no cenário internacional, cumpre esclarecer que o
MS passou a pertencer à maior rede mundial de cooperação em ATS, no momento em que
o DECIT integrou a INATHA, em 31 de maio de 2006.
Por todo o exposto observa-se nos últimos anos um sério esforço dos
Poderes Legislativo e Executivo tocante à formulação e execução de políticas públicas em
saúde. No que respeita ao acesso a novas tecnologias, como se viu, a ATS tem sido um
instrumento de grande valia.
193
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos. Consolidação da área de avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. Revista de
Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 2, abr. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102010000200022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 dez. 2011. 194
CALDEIRA, Telma Rodrigues. Acesso ao medicamento: direito à saúde no marco da regulação do
mercado farmacêutico. Dissertação de mestrado – Departamento de Serviço Social, Instituto de Ciências
Humanas, Universidade de Brasília, Brasília. 2010. 179 f. Disponível em:
<http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/8378/1/2010_TelmaRodriguesCaldeira.pdf>. Acesso em:
24 out. 2011, p. 125. 195
O que fica evidente perante a presença de representantes do CONASS e do CONASEMS nas principais
comissões de elaboração de políticas públicas. 196
BRASIL. MS, 2008b, p. 9.
87
O problema é que as necessidades em saúde não cessarão, e serão maiores e
mais complexas quanto maior a disponibilidade de tecnologias nessa área. Portanto, é
preciso entender exatamente qual o papel das políticas públicas no ordenamento jurídico,
já que, a despeito de sua implementação (sem adentrar no mérito de questões como
corrupção ou incompetência da gestão), sempre haverá alguém buscando no Poder
Judiciário a garantia do seu direito à saúde. Entretanto:
Se os recursos fossem infinitos, como popularmente se pensa que sejam, o
princípio do acesso universal igualitário poderia ser facilmente concretizado pela
alocação de recursos de acordo com as necessidades de saúde de cada um. Em
face da escassez de recursos, porém, a necessidade individual é claramente
insuficiente como critério alocativo. Outros critérios são necessários para se
determinar quais, entre os inúmeros indivíduos necessitados dos recursos
escassos, terão suas necessidades atendidas, e quais não o terão, muitas vezes
com conseqüências fatais197
.
197
FERRAZ; VIEIRA, 2009.
88
3 ACESSO ÀS TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO BRASIL: GARANTIA
DOS DIREITOS HUMANOS
Com a evolução tecnológica sem precedentes dos últimos anos, os gastos
com medicamentos cresceram significativamente em todo o mundo, sendo que estes
figuram como a principal terapêutica existente e a maior expectativa dos pacientes em
relação ao tratamento. Isso representa um grande impacto no orçamento público em saúde,
sobretudo, dos países em desenvolvimento, nos quais os medicamentos ocupam o segundo
lugar, perdendo apenas para os gastos com recursos humanos. “Diante desse quadro,
observa-se a tendência internacional para a contenção de gastos em saúde, sobretudo os
farmacêuticos, gerando a necessidade de desenvolvimento de métodos para avaliação e
controle de seu uso198
”.
Tais métodos são, na verdade, objeto de políticas públicas, as quais devem
se pautar pela participação social, a partir do interesse público, conforme preconizado num
Estado Democrático de Direito:
As políticas públicas, como instrumentos de gestão pública, concebidas a partir
do interesse público com os referenciais democráticos aduzidos, no Estado
Constitucional, necessitam ser articuladas de maneira integrada com a sociedade
civil para a efetivação dos Direitos Fundamentais199
.
Contudo, as pessoas têm interesses e necessidades diferentes. Não se deve,
portanto, aferir e delimitar o interesse público em critérios puramente quantitativos, como
se a discrepância entre os interesses da maioria e os da minoria refletisse exatamente o
caminho a ser seguido pelo Estado200
. Na verdade as metas e objetivos das políticas
públicas devem ser definidos pelo senso de justiça social. Nesse sentido, Sen entende que:
[...] todas as políticas públicas dependem de como se comportam os indivíduos e
grupos na sociedade. Esses comportamentos são influenciados, inter alia, pela
compreensão e interpretação das exigências da ética social. Para a elaboração das
políticas públicas é importante não apenas avaliar as exigências de justiça e o
alcance dos valores ao se escolherem os objetivos e as prioridades da política
198
RIBEIRO, Eliane; CROZARA, Marisa Aparecida. Farmacoeconomia aplicada ao Hospital. In: NITA,
Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de
decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 461. 199
SILVA, Ricardo Augusto Dias, 2010. p. 160. 200
Vide o exemplo dos pacientes portadores de HIV ou deficientes. Ibidem, p. 154.
89
pública, mas também compreender os valores do público em geral, incluindo seu
senso de justiça201
.
Daí a importância de políticas na área da saúde, pautadas pelos princípios de
universalidade, equidade e integralidade do SUS, partindo-se do pressuposto de que os
usuários terão interesse em participar da elaboração desses instrumentos. Assim:
Uma das formas de enfrentar os desafios da Saúde com Equidade será constituir
sujeitos sociais comprometidos com novas utopias, estabelecendo canais de
comunicação com outros sujeitos sociais que passem da condição de usuários ou
destinatários de serviços públicos e de políticas de saúde para um patamar, mais
elevado, de parceiros e cidadãos202
.
A OMS definiu equidade em saúde como a ausência de diferenças injustas,
evitáveis ou remediáveis na saúde de populações ou grupos definidos com critérios sociais,
econômicos, demográficos ou geográficos. Já a iniquidade se traduz no fracasso para evitar
ou superar desigualdades em saúde que infringem as normas de direitos humanos,
possuindo raízes na estratificação social, o que somente será modificado, portanto, com
alteração nas estruturas do poder.
Então, no que concerne à formulação de políticas públicas equitativas em
saúde, pode-se dizer que “as análises dos direitos humanos enfatizam não somente direitos
individuais, mas também o direito das pessoas à participação informada nos processos de
tomada de decisões que afetam suas vidas e o exercício de sua liberdade203
”,
Disparidades sócio-econômicas entre diferentes áreas e grupos
populacionais podem influenciar a prestação de cuidados de saúde, o financiamento do
sistema, o nível de investimento no setor, a formação de pessoal qualificado para os
serviços de saúde, e alocação eficiente dos recursos existentes204
.
201
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010, p. 349. 202
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar. A crise da saúde pública e a utopia da saúde
coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000, p. 113. 203
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Comissão de Determinantes Sociais da Saúde. Rumo a um
Modelo Conceitual para Análise e Ação sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Genebra, 2005, p. 8.
Disponível em: <http://www.determinantes.fiocruz.br/pdf/texto/T4-
2_CSDH_Conceptual%20Framework%20-%20tradução%20APF.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2011. 204
LOPEZ ACUÑA, Daniel, et al. Access to Financing of Health Care: Ways to Measure Inequities and
Mechanisms to Reduce Them. In: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Equity and Health:
Views from the Pan American Sanitary Bureau. Washington, D.C.: PAHO, 2001. (Occasional Publication
n. 8). Disponível em: <http://www.paho.org/english/dbi/Op08/OP08_11.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.
90
Áreas mais carentes tendem a ter uma carga maior de doenças e menor
disponibilidade de recursos, de financiamento e de acesso. Nessas áreas há que se ressaltar,
ainda, a capacidade limitada para solução de problemas de saúde mais complexos, que
exigem um nível tecnológico de cuidado mais alto.
Além disso, importa considerar também que fatores culturais e sociais são
determinantes para a existência de barreiras de acesso aos cuidados, o que não é
necessariamente refletido em medidas econômicas205
. Nessa lógica de entendimento:
Uma economia pobre pode ter menos dinheiro para despender em serviços de
saúde e educação, mas também precisa gastar menos dinheiro para fornecer os
mesmos serviços, que nos países mais ricos custariam muito mais. Preços e
custos relativos são parâmetros importantes na determinação do quanto um país
pode gastar. Dado um comprometimento apropriado com o social, a necessidade
de levar em conta a variabilidade dos custos relativos é particularmente
importante para os serviços sociais nas áreas de saúde e educação206
.
Todavia, eventualmente, a desconsideração desses fatores pode ser
traduzida em violações de direitos fundamentais. Quando se trata de acesso à saúde pela
via judicial, insta ressaltar que a inefetividade da proteção dos direitos humanos não se
traduz apenas na violação dos direitos, mas também, na ineficiência da máquina estatal207
.
A execução de políticas públicas de saúde são ações afirmativas do Estado,
de natureza preventiva e organizativa, uma vez que as mudanças por elas provocadas
propiciam o bem-estar do conjunto da população. Assim:
As ações afirmativas tratam de políticas e de instrumentos utilizados pelo Poder
Público e pela iniciativa privada, com vistas à concretização de um objetivo
constitucional, qual seja, o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos
têm, direito, igualdade material já referida alhures, respeitando-se assim, por
imperativo, a dignidade da pessoa humana em sua essência208
.
205
LOPEZ ACUÑA, et al, 2001. 206
SEN, 2010, p. 70. 207
Motivo pelo qual, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos admite o recebimento de
ações em casos de violação do direito à saúde. Como ocorreu com El Salvador, que, embora tenha
aceitado ação proposta por pacientes aidéticos que solicitavam a distribuição gratuita do coquetel
antirretroviral, não solucionou o caso em tempo hábil. Cf. INTER-AMERICAN COMMISSION ON
HUMAN RIGHTS.
culturales: estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos.
Washington, D.C., 2007. 106 p. Disponível em:
<http://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07eng/Accesodescindice.eng.htm>. Acesso em: 26 jun.
2009. 208
SILVA, Ricardo Augusto Dias, 2010. p. 128.
91
A garantia de acesso a medicamentos é uma ação afirmativa que tem sido
observada no SUS. Considerando-se todos os fatores supracitados, o Brasil estabeleceu
políticas tocantes à incorporação e dispensação de tecnologias, importantes no contexto
social do SUS, as quais serão adiante discutidas.
3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PAUTADAS EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Segundo o dicionário Aurélio209
, política seria o conjunto dos fenômenos e
das práticas relativos ao Estado ou a uma sociedade. O verbete também apresenta como
definição a “arte e ciência de cuidas dos negócios públicos” ou “habilidade no trato das
relações humanas”.
Nesse sentido, no que toca à atuação do Estado no âmbito da saúde, afirma-
se a necessidade da implementação de programas que visem à satisfação (ou garantia)
deste direito fundamental, em cumprimento ao fim social a que se destinam as ações de um
Estado Democrático, principalmente, através do devido direcionamento dos recursos
públicos às áreas mais necessárias.
Objeções quanto à alocação de recursos públicos para distribuição de
medicamentos, no contexto da análise econômica do direito, costumam induzir ao singelo
entendimento de que o benefício decorrente dessa prestação social, em detrimento do
investimento de recursos em outras políticas de saúde pública (como, por exemplo,
saneamento básico e construção de redes de água potável) é expressivamente menor210
, o
que, a priori, violaria o senso de justiça social inerente às políticas públicas.
Por outro lado, ainda que seja responsabilidade do Estado a disponibilização
de serviços essenciais (não apenas no âmbito da saúde, mas também, na área de educação e
trabalho, por exemplo), a utilização desses serviços pelo cidadão é uma escolha
209
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa dicionário.
7 ed. Curitiba: Positivo, 2008, p. 640. 210
BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva.
92
individual211
, cuja imposição não cabe ao Poder Público. E dessas escolhas podem decorrer
necessidades secundárias, que não deixam de ser fundamentais.
Portanto, não há falar em interesse público abstratamente considerado, que
deva prevalecer sobre os interesses particulares eventualmente envolvidos, até porque, a
noção de equidade incorporada ao ordenamento jurídico pressupõe um tratamento igual a
cada um na medida da sua desigualdade.
Ainda sim, quando o Estado, por qualquer motivo, não garante direitos
sociais de forma efetiva, o recurso ao Judiciário ainda é a opção mais visada, a despeito da
possibilidade de controle social das políticas públicas prevista em lei. No entanto:
O recurso ao sistema judiciário como mecanismo para tornar efetivo o acesso a
medicamentos e tratamentos que os indivíduos não obtiveram do sistema público
de saúde por vias habituais é um fenômeno crescente e merece especial atenção.
Por um lado, permite ao cidadão fazer valer seus direitos legais à saúde como
parte de seus direitos humanos fundamentais. Por outro, sua utilização
sistemática pode derivar em disfunções que tornam duvidosos os objetivos de
uso racional e eficiente de recursos sanitários limitados. Além disso, também
pode resultar em um conjunto de decisões, juridicamente vinculantes, mas
ineficientes em termos de gasto público. Trata-se de um problema nacional,
centralizado na interpretação constitucional do direito à saúde e do acesso aos
medicamentos, interpretação realizada independentemente da evidência
científica e de critérios de custo-efetividade, e que podem colocar, em algumas
situações, em risco a sustentabilidade do sistema. Resulta, portanto, que é
importante diferenciar aqueles casos em que é exigido que o Estado torne efetivo
o acesso a medicamentos essenciais para salvaguardar a vida e dignidade
humanas daqueles outros onde é solicitado a um tribunal de justiça que obrigue o
Estado a proporcionar medicamentos específicos para respectivas doenças,
habitualmente de alto custo e sob proteção de patente212
.
Um dos fatores mais relevantes no incremento dos custos em saúde é a
utilização de tecnologias cada vez mais caras e de uso específico. Ademais, na área da
saúde, a incorporação tende a ser cumulativa, e não substitutiva213
. Daí a importância de
políticas públicas eficazes em saúde, que consigam gerir as tecnologias de modo a cumprir
os princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS214
.
211
SEN, 2010, p. 367. 212
OPAS, 2009, p. 24. 213
BRASIL. MS, 2008d, p. 12. 214
No que toca à elaboração de políticas públicas no SUS não há hierarquia entre os três entes federativos,
mas, competências específicas para cada gestor. No âmbito municipal, as políticas são aprovadas pelo
Conselho Municipal de Saúde (CMS); no âmbito estadual, são negociadas e pactuadas pela Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) (composta por representantes das secretarias municipais de saúde e secretaria
estadual de saúde) e deliberadas pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) (composto por vários segmentos
da sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades de classe, etc.); e, por fim, no âmbito federal, as
93
As políticas públicas, entendidas como ações que se destinam à alteração
das relações sociais existentes, comandadas por entes estatais, refletem o momento em que,
por meio de seus órgãos, o Estado estabelece gastos no orçamento e os realiza com o
escopo de promover os Direitos Fundamentais, ocasião em que passa a configurar tema de
interesse para o direito.
Na percepção de Bucci, quando o direito concebe políticas públicas, aceita
maior entrelaçamento entre as esferas jurídica e política, evidenciando os processos de
comunicação na estrutura burocrática do poder, Estado e Administração Pública215
.
Diante disso, o direito à saúde deve ser interpretado dentro da vasta gama de
dimensões dos determinantes de saúde, o que significa conferir se as políticas estatais são,
em sua totalidade, adequadas para enfrentar tais determinantes. Ainda que sejam, isso não
seria suficiente para garantir o mais alto grau de saúde possível a toda a população, uma
vez reconhecida a finitude dos recursos disponíveis, já que esse não é o único bem do qual
a sociedade necessita usufruir216
.
Dessa realidade decorre a necessidade de escolhas, o que é feito quando da
elaboração das políticas públicas, cujas principais, no que concerne à incorporação e
dispensação de medicamentos pelo sistema público, serão adiante abordadas.
Em que pese o fenômeno da judicialização da saúde, sobretudo no que
respeita ao acesso a medicamentos de alto custo (como visto no Capítulo 1), não se pode
dizer que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil têm estado inertes ou omissos. Ao
menos, no que concerne à elaboração de instrumentos que tendem ao alcance dos direitos
nessa área, como os que serão apresentados no tópico seguinte, já que, por meio destes
instrumentos (cujas diretrizes aludem às ATS) o Estado garante aos cidadãos o acesso às
tecnologias em saúde.
políticas do SUS são negociadas e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) (composta por
representantes do Ministério da Saúde, das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais de
saúde). 215
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
242. 216
FERRAZ; VIEIRA, 2009.
94
3.1.1 Política Nacional de Medicamentos
A Política de Medicamentos no Brasil, efetivamente, iniciou-se em 1971,
quando da criação da Central de Medicamentos (CEME), cujo escopo era o fornecimento
de remédios à população carente. O Brasil elabora listas de medicamentos considerados
essenciais desde 1964, sendo que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME)217
, como é conhecida hoje, foi homologada em 1980, pela Portaria
Interministerial n. 6 MPAS/MS218
, sendo periodicamente atualizada até os dias atuais.
Medicamentos essenciais são considerados pela OMS como os que
satisfazem as necessidades de atenção à saúde da maioria da população, selecionados
conforme sua relevância na saúde pública, após estudos comparados de custo-efetividade
que provem sua eficácia e segurança. Ou seja, não se trata de medicamentos de “segunda
categoria”, mas sim, os selecionados para tratamentos mais efetivos com o menor custo,
considerando-se as necessidades da coletividade. A esse respeito:
Foi durante a 28ª Assembléia Mundial de Saúde em 1975 que a OMS
estabeleceu a necessidade do atendimento mínimo aos medicamentos essenciais.
Estes devem constar de listas atualizadas periodicamente (a primeira é de 1977 e
foi emitida pela própria OMS) e contar com o apoio técnico de profissionais
especializados para o apontamento de formas de aquisição e preços, mantendo-se
217
O Ministério da Saúde é responsável pela publicação da Relação Nacional de Medicamentos – lista com
os medicamentos essenciais para tratar as doenças mais comuns na população. Com base nela, estados e
municípios constroem sua própria relação de medicamentos. A lista encontra-se na sétima edição -
RENAME 2010 - e possui 343 fármacos, 8 produtos correspondentes a fármacos, 33 imunoterápicos, em
372 DCB distintas, contidas em 574 apresentações farmacêuticas. Na RENAME, constam os nomes dos
princípios ativos dos medicamentos, baseados na Denominação Comum Brasileira (DCB) – denominação
do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovado pelo órgão federal responsável pela
vigilância sanitária. Estes medicamentos possuem um ou mais princípios ativos, registrados na ANVISA e
que apresentam menor custo nas etapas de armazenamento, distribuição, controle e tratamento. Além
disso, todas as fórmulas apresentam valor terapêutico comprovado, com base em evidências clínicas. O
Brasil elabora listas de medicamentos considerados essenciais desde 1964. Em 2005, o Ministério da
Saúde instituiu a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da RENAME (COMARE).
Participam da revisão 20 membros, entre representantes de universidades brasileiras, entidades civis e
científicas, além das três instâncias gestoras do SUS. Todos os membros firmaram Termo de Declaração
de Interesses, nos moldes exigidos internacionalmente. O termo delimita o tipo de vínculo que o membro
da COMARE possa vir a ter com um trabalho financiado por empresa privada. Além disso, o participante
da COMARE, ao iniciar cada reunião deve declarar inexistência de conflito para as votações que serão
realizadas naquele encontro. Cf. PORTAL DA SAÚDE. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32820&janela=1>.
Acesso em: 24 out. 2011. 218
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ministério da Saúde. Portaria
Interministerial n. 6 de 18 de março de 1980. Homologa a relação nacional de medicamentos essenciais -
RENAME, atualizada pela Central de Medicamentos - CEME, constante da presente portaria. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar. 1980.
95
a qualidade. Mas, além dessa atuação, os países devem estender o atendimento
da saúde à população que estiver afastada do sistema público219
.
Cumpre esclarecer que uma lista de medicamentos essenciais também inclui
opções terapêuticas destinadas às situações de assistência à saúde de média e alta
complexidade, ainda que seu custo seja elevado, o que não o excluirá da lista de
financiamento público, caso represente a melhor opção de tratamento para uma patologia
epidemiologicamente relevante.
De acordo com a OMS, por serem imprescindíveis à realização de uma
efetiva política de medicamentos, “devem estar sempre disponíveis, nas quantidades
adequadas, nas formas farmacêuticas requeridas e a preços que os indivíduos e a
comunidade possam pagar220
”. Porém, apesar da importância da elaboração e atualização
dessa lista, e mais ainda, da efetivação de um plano detalhado para sua implementação, na
virada do século muitos países não possuíam uma política nacional de medicamentos, o
que os tornava inadimplentes com suas obrigações decorrentes do direito à saúde221
.
No âmbito judicial, quando levantada a discussão sobre a definição do que
seria medicamento essencial, em regra, a Administração Pública alega que, quando houver
medicamentos alternativos para determinada moléstia, os requisitados judicialmente
podem não ser essenciais. Justificativa que por vezes fundamenta a negativa da prestação
jurisdicional.
Entretanto, insta ressaltar que a autoridade competente para afirmar quais
são os medicamentos essenciais para o indivíduo, ou não, em cada caso, é o médico. Meros
pareceres administrativos não devem pautar restrições de acesso a outros medicamentos,
eventualmente mais eficazes, o que fere direitos fundamentais222
.
A CF/88, ao instituir o SUS no Brasil223
, fundamentou a Política Nacional
de Medicamentos224
que hoje existe no país. Conforme publicação do MS:
219
CARVALHO, 2007, p. 20. 220
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação nacional de medicamentos essenciais:
RENAME. 7 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos de Saúde), p, 15. 221
HUNT; KHOSLA, 2008. 222
CARVALHO, op. cit., p. 90. 223
Desde a promulgação da CF/88, algumas leis e atos normativos se destacam na evolução da legislação
tocante a incorporação e dispensação de medicamentos pelo SUS, como: a Lei n. 8.080/90 que regula as
96
A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional
de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva
implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da
assistência à saúde da população. [...] O seu propósito precípuo é o de garantir a
necessária segurança, eficácia, qualidade dos medicamentos, a promoção do uso
racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. A Política de
Medicamentos aqui expressa tem como base os princípios e diretrizes do SUS e
exigirá, para a sua implementação, a definição ou redefinição de planos,
programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. Esta
Política concretiza metas do Plano de Governo, integra os esforços voltados à
consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do País e orienta
a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde.
Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação – incluindo a
regulamentação – inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e
distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos
humanos e desenvolvimento científico e tecnológico225
.
A PNM, aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e pelo CNS
foi efetivamente instituída pela Portaria GM/MS n. 3.916/98. Dentre as suas prioridades
está a revisão permanente da RENAME. O intuito da PNM, além de promover o uso
racional e acesso da população aos medicamentos essenciais, é ainda o de garantir a
segurança, eficácia e qualidade dos mesmos conforme as diretrizes seguintes:
Adoção de Relação de Medicamentos Essenciais: meio fundamental para
orientar a padronização da prescrição e do abastecimento de medicamentos;
ações e serviços de Saúde; a Lei n. 9.294/96 que regulamenta o Decreto n. 2.018/96, o qual dispõe sobre a
restrição ao uso e à propaganda de medicamentos; a Lei n. 9.279/96 que regula direitos e obrigações
relativos à propriedade intelectual; a Lei n. 9.313/96 que dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS; a Portaria GM/MS n. 3.916/98 que aprova a
Política Nacional de Medicamentos; a Portaria GM/MS n. 344/98 que dispõe sobre medidas de
fiscalização de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; a Lei n. 9.782/99 que define o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a ANVISA e dá outras providências; a Lei n. 9.787/99 que
dispõe sobre a vigilância sanitária e estabelece o medicamento genérico; o Decreto n. 3.181/99 que dispõe
sobre a Vigilância Sanitária e o medicamentos genérico e sobre nomes genéricos em produtos
farmacêuticos; a Portaria GM/MS n. 176 que estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos
municípios e Estados ao Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores a serem
transferidos; a Portaria SPS/MS n. 16/00 que estabeleceu o elenco mínimo o obrigatório de medicamentos
para a pactuação na atenção básica; a Lei n. 10.213/01 que definiu normas de regulação para o setor de
medicamentos e criou a Câmara de Medicamentos; a Portaria GM/MS n. 131 que constituiu a Comissão
Técnica e Multidisciplinar de Atualização da RENAME; a Resolução ANVISA/MS n. 47 que dispõe sobre
embalagens dos medicamentos genéricos; a Lei n. 10.742/03 que definiu normas para o setor farmacêutico
e criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED); a Resolução ANVISA/MS n. 4
que definiu o Preço Fabricante e o Preço Máximo ao Consumidor de medicamentos; o Decreto n. 5.090/04
que instituiu a Farmácia Popular do Brasil; a Portaria GM/MS n. 843 que criou a Rede Brasileira de
Produção Pública de Medicamentos; o Decreto n. 5.775/06 que dispôs sobre o fracionamento de
medicamentos, dentre outros. 224
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Aprova a
política nacional de medicamentos, cuja íntegra consta no anexo desta portaria. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 10 de nov. 1998. 225
BRASIL. MS, 2001, p. 9.
97
Regulamentação Sanitária de Medicamentos: enfatiza o controle do
registro de medicamentos e a autorização para o funcionamento de empresas
e estabelecimentos, além de buscar restringir e eliminar produtos que
revelem-se inadequados ao uso, consoante informações decorrentes da
farmacovigilância;
Reorientação da Assistência Farmacêutica: ações que tenham por escopo
a implementação, nas três esferas do SUS, de todas as atividades
relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos
essenciais, facilitadas pela ATS;
Promoção do Uso Racional de Medicamentos: especial atenção às
repercussões sociais e econômicas do receituário médico, sobretudo, no
nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes, além da ênfase ao
processo educativo dos usuários no tocante à necessidade da receita médica
para dispensação de medicamentos tarjados, e quanto aos riscos da
automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita;
Desenvolvimento Científico e Tecnológico: incentivo à revisão das
tecnologias de formulação farmacêutica e dinamização de pesquisas na área,
além de ser continuidade e expansão do apoio a pesquisas que visem o
aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais,
enfatizando-se a certificação de suas propriedades medicamentosas, com
estímulo ainda de medidas de apoio ao desenvolvimento de tecnologia de
produção nacional de fármacos, em especial os constantes da RENAME;
Promoção da Produção de Medicamentos: concentração de esforços no
para o estabelecimento de uma efetiva articulação das atividades de
produção de medicamentos da RENAME, a cargo dos diferentes segmentos
industriais (oficial, privado nacional e transnacional);
Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade dos Medicamentos:
atividades de inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação
regular e sistemática de medicamentos, para garantir sua qualidade,
segurança e eficácia, em cumprimento à regulamentação sanitária;
Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos: essa diretriz se
configura nos mecanismos privilegiados de articulação intersetorial, para
que o setor saúde possa dispor de recursos humanos, tanto em qualidade
98
como em quantidade, sendo responsabilidade das três esferas gestoras do
SUS seu provimento adequado e oportuno;
Destarte, entre seus principais objetivos estão: o estabelecimento da relação
de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, o estímulo à
produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária226
.
Nesse contexto, a conjugação dos dispositivos da CF/88, da LOS e da PNM
atribui a cada uma das esferas de gestão do SUS uma responsabilidade e competência
determinada para a garantia do direito à saúde e acesso a medicamentos, sendo
estabelecida a obrigação de se implementar cooperação técnica e financeira intergestores.
O que envolve a aquisição direta e transferência de recursos, com base na realidade
epidemiológica de cada região, priorizando-se os medicamentos essenciais e de
denominação genérica.
Apesar disso, a responsabilidade do Brasil em matéria de política pública
voltada ao acesso de medicamentos não se resume à dispensação de medicamentos
essenciais, mas abarca todo e qualquer medicamento necessário à vida digna, inclusive, os
de uso excepcional, que são os medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de
alto custo, que atende a casos específicos. As necessidades individuais devem ser
contextualizadas na política de medicamentos sob a noção de justiça distributiva.
E para que haja menor dispêndio e maiores resultados sociais em termos
financeiros, a PNM prioriza o uso racional dos medicamentos227
. A OPAS ressalta a
relevância do uso racional de fármacos para a equidade em saúde:
O desenvolvimento do uso racional do medicamento exige um correto
reconhecimento por parte de todos os atores, para o qual é imprescindível a
sensibilização, a capacitação e fortalecimento institucional nos diferentes níveis,
tanto decisórios quanto de implementação. Uma política de Estado que, além do
acesso a medicamentos de qualidade, contemple uma estratégia para promover
seu uso racional, estará favorecendo a equidade e evitando a utilização
inadequada dos mesmos228
.
226
BRASIL. MS, 2001, passim. 227
É o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a
dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no
período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 228
OPAS, 2009, p. 39.
99
Importante notar uma das responsabilidades das esferas de governo
previstas pela PNM, tocante à articulação intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da
Justiça, que intenta efetivar medidas para coibir eventuais abusos econômicos na área de
medicamentos, com base nas Leis Antitruste229
, da Livre Concorrência e de Defesa do
Consumidor.
Mas, ao contrário de outras classes do direito à saúde, o direito ao acesso a
medicamentos engloba tanto interesse público quanto privado. O primeiro, por
corresponder a direito humano fundamental, garantido constitucionalmente. O segundo, em
decorrência da necessidade de P&D, a partir de investimentos da iniciativa privada para a
fabricação de medicamentos, geralmente sob a proteção da propriedade industrial. Assim:
[...] englobados pelo direito à saúde, as políticas adotadas no mercado de
medicamentos possuem importância não só econômica como também social.
Não há dúvida, portanto, de que esse “objeto híbrido”, por estar situado entre
terapêutica e bem de consumo, requer que a atuação do Estado nessa seara
considere, dentre outros fatores, os aspectos de natureza mercadológica. Uma
intervenção estatal eficaz no campo dos medicamentos exige, assim, a análise do
mercado farmacêutico, para que se conheça a influência da indústria
farmacêutica e suas estratégias de mercado, sem olvidar as demais variáveis e
atores que compõem esse cenário, para que se possa formalizar uma política que
atenda verdadeiramente os interesses da população, isto é, sem que se
prejudiquem os investimentos econômicos realizados pela indústria
farmacêutica230
.
A esse respeito cabe referência ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) que entrou em vigor em 1º de
janeiro de 1995 para todos os países da Organização Mundial do Comércio (OMC),
estabelecendo padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, inclusive de
medicamentos. Tais padrões determinam que patentes serão concedidas por um período
mínimo de 20 anos para produtos e processos que atendam aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial231
.
Estabelece, ainda, proteção contra o uso comercial e desleal de testes de
medicamentos, o que poderia incitar o desenvolvimento de novos fármacos sob a proteção
229
Regra de direito destinada a evitar que várias empresas se associem e, assim, passem a constituir uma
única, acarretando o monopólio de produtos e ou de mercado. BRASIL. MS, 2001, p. 36. 230
DALLARI; NUNES JÚNIOR, 2010, p. 173. 231
No Brasil, foi editada em 1996 a Lei de Propriedade Industrial, como fruto dos compromissos assumidos
em decorrência do TRIPS, a qual prevê em seu art. 8º os requisitos para obtenção de patentes conforme os
termos do acordo. BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de mai. 1996.
100
de patentes, ao limitar a concorrência. Porém, na prática, isso dificulta ou impede o acesso
a novas tecnologias, sobretudo, pelos países em desenvolvimento, já que estimula a prática
de preços altos ao propiciar a detenção patentária aos laboratórios, por até 20 anos,
bloqueando a concorrência de versões genéricas mais baratas232
.
Dessa forma, uma das consequências do acordo TRIPS é a exclusão social,
haja vista que o sistema de patentes, no que concerne aos medicamentos, culmina no
aumento de preços ao consumidor, uma vez que concentra as pesquisas em remédios
vendáveis em mercados ricos. Em termos estatísticos, Comparato expõe dados da OMS
que apontam que em 1999 apenas 0,2% dos gastos mundiais em P&D no setor saúde eram
voltados a doenças prevalentes como pneumonia, tuberculose e diarréia, que correspondem
a 18% do total das doenças existentes em todo planeta, sendo que apenas 1% das fórmulas
medicamentosas patenteadas no mundo destinavam-se à cura de doenças tropicais233
.
Diante dessa situação, durante reunião ministerial da OMC em 2001, em
Doha, no Qatar, as negociações reconheceram a primazia da saúde sobre interesses
comerciais, reafirmando o direito dos países em se valerem de ressalvas previstas no
próprio TRIPS para superar as barreiras à promoção do acesso a medicamentos234
. Nas
palavras de Dallari e Nunes Júnior:
A afirmação constitucional do Brasil como um Estado Democrático de Direito
implica o reconhecimento das situações complexas do século vinte e um, mas
importa, sobretudo, a afirmação de que existe um caminho juridicamente
adequado para compatibilizar as reivindicações de direitos aparentemente
contraditórios. Nesse sentido, já foi demonstrada a premente necessidade de que
as autoridades sanitárias, ao mesmo tempo, respeitem a justa obrigação de
proteção das patentes obtidas pela indústria farmacêutica e coíbam todos os
abusos que impeçam ou dificultem o acesso aos medicamentos, elementos
essenciais à manutenção da saúde pública. Ora, é a própria letra do art. 5º,
XXIX, que ilumina o caminho para compatibilizar tais exigências
constitucionais: a proteção aos direitos de propriedade intelectual deverá ser
assegurada tendo em vista o “interesse social” e o “desenvolvimento tecnológico
e econômico do país”. Pois, apenas a proteção dos valores sociais pode justificar,
232
Quanto aos medicamentos genéricos, vide nota 122. Saliente-se que, normalmente, a OMS vincula o uso
dos genéricos aos medicamentos essenciais e determina que os países devem incentivar o desenvolvimento
de pesquisas, no mínimo, destes fármacos, para facilitar o acesso em decorrência da redução de preços, o
que abrangeria uma boa parcela da sociedade. Porém, a constatação da OMS é de que, nos países da
América Latina praticamente 30% (trinta por cento) dos gastos em saúde são direcionados à aquisição de
medicamentos, sobretudo, em razão da pouca quantidade de P&D nessa área. CARVALHO, 2007, p. 181. 233
COMPARATO, 2008, p. 539. 234
MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. O acordo TRIPS. Disponível em:
<http://www.msf.org.br/conteudo/126/o-acordo-trips/>. Acesso em: 07 jan. 2012.
101
em um Estado Democrático de Direito, o cerceamento a qualquer direito
individual235
.
Além do preço, há outras barreiras de acesso236
. Pesquisas de medicamentos
e métodos diagnósticos são orientadas pelo potencial mercado consumidor, e não, pelas
necessidades reais da população.
Além disso, o tempo que uma nova tecnologia leva para estar disponível a
um paciente pode ser longo, em razão da burocracia do sistema, o que configura mais uma
barreira ao acesso. Daí a importância da ATS como instrumento facilitador da tomada de
decisão.
3.1.2 Política Nacional de Assistência Farmacêutica
Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações que vão desde o
abastecimento de medicamentos nas instituições de saúde, passando pelo atendimento
ambulatorial/hospitalar até o fornecimento dos remédios para tratamento prescrito por
médico responsável. Nesse contexto, pode-se dizer também que a Política de Assistência
Farmacêutica no Brasil teve início em 1971 quando da criação da CEME.
Contudo, ao presente estudo cabe uma análise da PNAF237
como ela é
conhecida hoje. Aprovada pelo CNS em 2004, ela é um desdobramento de uma das
diretrizes da PNM, e define a utilização da RENAME como um de seus eixos estratégicos.
235
DALLARI; NUNES JÚNIOR, 2010, p. 184. 236
Segundo a OPAS, são vários os fatores que constituem barreiras de acesso ao medicamento, dentre os
quais: 1. Problemas de Pesquisa e Desenvolvimento: a falta de pesquisa e desenvolvimento de
medicamentos para patologias predominantes no país e na região; 2. Problemas de Disponibilidade: que se
constatam quando um medicamento foi desenvolvido, sua segurança e eficácia foram testadas, mas não há
no país uma oferta suficiente do mesmo; 3. Limitações dos Serviços de Saúde: em relação ao acesso a
medicamentos, pode-se dizer que existem as mesmas barreiras de acesso que existem nos serviços de
saúde (barreiras culturais, geográficas, cobertura e legais); 4. Limitações no Sistema de Fornecimento: o
fornecimento de provimentos médicos envolve uma função-chave e configura um subsistema de todo
sistema de saúde; 5. Limitações na Acessibilidade: implica uma dimensão econômica: desequilíbrio entre
os recursos disponíveis para financiar os medicamentos e o custo total pago pelos mesmos. OPAS, 2009,
passim. 237
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a Política
Nacional de Assistência Farmacêutica, estabelecida com base nos princípios constantes no anexo desta
portaria. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de mai. 2004.
102
Isso porque essa lista racionaliza as ações no âmbito da assistência
farmacêutica, além de também orientar a política pública de desenvolvimento científico e
tecnológico. A RENAME possui um papel que se estende além das questões assistenciais,
figurando ainda como estratégia para o desenvolvimento do setor produtivo nacional,
apontando prioridades no âmbito da produção de medicamentos e desenvolvimento
tecnológico de insumos estratégicos para a saúde, no intuito de capacitar o setor de P&D
do país para atender às necessidades do SUS238
.
Para muitos gestores o conceito de assistência farmacêutica ainda
permanece centrado no binômio aquisição e distribuição de medicamentos. Todavia, a
PNAF, assim como a PNM, tem o escopo de garantir a segurança, a eficácia e a qualidade
dos medicamentos. E para alcançar tais objetivos, os gestores devem atuar de forma
sistemática em cada etapa do ciclo da assistência farmacêutica, quais sejam: a seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos239
.
No âmbito do SUS, a compra dos medicamentos básicos é descentralizada
para as secretarias estaduais e municipais de saúde, sendo responsabilidade do MS a
compra de medicamentos incluídos em programas específicos do próprio Ministério,
enquanto os medicamentos excepcionais240
, embora comprados pelas secretarias estaduais
de saúde por meio de processos licitatórios, são ressarcidos pelo Governo Federal mediante
comprovação de entrega ao paciente241
.
Nem a LOS, tampouco a CF/88 estabelecem competências para a
distribuição de medicamentos, sendo os critérios para tanto, definidos por atos
administrativos, dentre eles, o que estabeleceu a PNM. Como já dito antes, a elaboração da
RENAME é competência do gestor federal, a despeito da inexistência de impedimento
para elaboração de listas complementares pelos demais entes federados, cabendo aos
Municípios a execução da PNAF.
238
BRASIL. MS, 2010, p. 9. 239
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Brasília:
CONASS, 2011. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 7), passim. 240
Medicamentos excepcionais são os considerados de alto custo ou para tratamento continuado, como para
pós-transplantados, síndromes – como Doença de Gaucher – e insuficiência renal crônica. 241
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=136>. Acesso em: 28 dez. 2009.
103
Muito se falou sobre o acesso aos medicamentos incorporados ao SUS, já
que no Brasil, todo cidadão tem o direito ao acesso gratuito aos medicamentos, geralmente
disponíveis em postos de saúde da rede pública, inclusive, nos casos de medicamentos para
doenças raras. No entanto, eventualmente o remédio pode faltar na rede, em razão de
diversos fatores relacionados à gestão do sistema.
Por isso, dentro das políticas de saúde do Governo Federal há programas
que facilitam o acesso aos medicamentos essenciais por meio de subvenções para compra,
em farmácias e drogarias privadas cadastradas, de medicamentos prescritos por médico da
rede pública242
.
3.1.3 Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde
Segundo publicação do MS:
[...] a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) é o
instrumento norteador para os atores envolvidos na gestão dos processos de
avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de
tecnologias no Sistema. Não abrange, porém, as fases de Pesquisa e
Desenvolvimento ainda que possa subsidiar na identificação de prioridades no
ciclo de vida das tecnologias em saúde243
.
Instituída pela Portaria GM/MS n. 2.690/09, a PNGTS244
é fruto de uma
construção coletiva, publicada após submissão para consulta pública à sociedade e
amplamente discutida no âmbito do CNS, tendo recebido ainda contribuições relevantes do
CONASS e CONASEMS. Foi uma pactuação entre a CIT e a sociedade, com aprovação
unânime dos conselheiros do CNS245
.
A PNGTS define gestão de tecnologias em saúde como “[...] o conjunto de
atividades gestoras relacionado com os processos de avaliação, incorporação, difusão,
gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema de saúde246
”. Tais
242
Exemplo disso é o Programa Farmácia Popular, instituído em 2004, que hoje oferta 113 medicamentos,
reduzindo em até 90% seu valor, desde que o paciente esteja munido de receita médica. 243
BRASIL. MS, 2011, p. 7. 244
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.690, de 05 de novembro de
2009. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias
em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 de nov. 2009. 245
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2010. 246
BRASIL. MS, op. cit., p. 10.
104
processos devem ser realizados sob o jugo dos princípios do SUS, além das necessidades
de saúde da população, dos limites do orçamento público, das responsabilidades dos três
níveis de governo e do controle social.
No contexto em que foi criada, a PNGTS tem como principais propósitos
garantir que tecnologias seguras e eficazes sejam usadas adequadamente, maximizando
benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, através de planejamento
eficaz, visando à equidade e universalidade.
As diretrizes dessa Política são: utilização de evidências científicas para
subsidiar a gestão por meio da avaliação de tecnologias em saúde; aprimoramento do
processo de incorporação de tecnologias; racionalização da utilização de tecnologias; apoio
ao fortalecimento do ensino e pesquisa em gestão de tecnologias em saúde; sistematização
e disseminação de informações; fortalecimento das estruturas governamentais; e
articulação político-institucional e intersetorial.
O conjunto de estratégias inseridas na PNGTS terá na ATS instrumento de
suporte às ações de saúde envolvendo as três esferas de gestão do SUS, considerando-se
fatores que reforçam a necessidade de uma PNGTS, quais sejam:
• O acentuado desenvolvimento científico e tecnológico e a expansão do
complexo industrial da saúde, que levam à inserção acelerada de novas
tecnologias no mercado.
• Os processos de inovação tecnológica podem acarretar aumento dos custos dos
sistemas de saúde, devido aos renovados investimentos em infra estrutura e
capacitação de recursos humanos.
• Métodos diagnósticos e terapêuticos gerados em países desenvolvidos muitas
vezes são exportados para os países em desenvolvimento sem avaliação dos
efeitos esperados e sem levar em consideração as necessidades epidemiológicas
e a capacidade instalada desses países.
• A incorporação sem critérios explícitos e o uso inadequado destas tecnologias
implicam riscos para os usuários, assim como, comprometem a efetividade do
sistema de saúde.
• Ausência de processos que possibilitem identificar tecnologias emergentes para
incorporação no sistema de saúde.
• Mecanismos insuficientes de monitoramento dos resultados para a saúde e dos
impactos causados pelas tecnologias ainda em estágio inicial de sua utilização.
• Na saúde, as novas tecnologias tendem historicamente a ser cumulativas, e não
substitutivas, e os critérios de obsolescência são de complexa definição.
• O processo de difusão inicial cria demandas por novas tecnologias e gera uma
pressão sobre o sistema para que haja a incorporação, ainda que não se conheça a
sua efetividade e, tampouco, tenham sido calculados os recursos financeiros
necessários para incorporação.
• A crença de que, isoladamente, as tecnologias resolverão os problemas de
saúde e promoverão mais qualidade de vida, garantindo maior resolutividade às
ações e aos serviços.
105
• A frequência com que as decisões judiciais têm obrigado o sistema de saúde a
garantir a oferta de procedimentos e medicamentos. Alguns, inclusive,
destituídos de evidência científica, causando impacto significativo nas previsões
orçamentárias do sistema de saúde247
.
247
BRASIL. MS, 2011, p. 13.
106
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ATS COMO RESPALDO PARA
TOMADA DE DECISÃO
Não há dúvidas de que as necessidades humanas, especialmente no que
compete à realização de direitos sociais, como o direito à saúde, são infinitas, em que pese
a limitação dos recursos disponíveis. Daí a importância de avaliações clínicas e
econômicas para ponderação de custos e benefícios, no que concerne à incorporação e
acesso a novas tecnologias em saúde, as quais são sempre mais dispendiosas.
Entretanto, não há que se olvidar que a aplicação de recursos em
determinados programas, políticas e tecnologias implica a não provisão de outros, o que
não significa, necessariamente, violação de direitos fundamentais, mas, pelo contrário,
pode favorecer a equidade.
A característica principal está no fato de que a equidade no bem-saúde não pode
ser buscada, a não ser excepcionalmente, numa melhor distribuição da saúde
existente, ou seja, numa operação de redistribuição que tira uma pouco de saúde
de alguns para dá-la a outros. À parte, a dificuldade de dar uma justificativa
moral e de assegurar a aplicação prática de semelhante operação, a opção oposta,
a de estabelecer como finalidade uma saúde melhor para todos e de privilegiar
em tal quadro a conquista de uma equidade maior, funciona como multiplicadora
dos recursos coletivos e pessoais e obtém os melhores resultados248
.
Por isso, o estudo de temas como reserva do possível e mínimo existencial é
tão importante na compreensão da necessidade de sopesamento de princípios
constitucionais, já que, como visto no primeiro capítulo, a colisão de princípios não apenas
é possível, como é frequente, em se tratando de prestações sociais.
E sopesar princípios em decisões judiciais, de tal forma que uma
determinada prestação seja negada, não implica o ferimento à dignidade de qualquer
indivíduo, já que não se pode considerar a garantia de direitos fundamentais abstratamente,
apenas de forma ideal, sob pena de violação real desses direitos. Nesse sentido, é preciso
que se proceda a uma releitura dos direitos humanos, para além de sua afirmação
constitucional:
248
BERLINGUER, Giovanni. Bioética cotidiana. Tradução de Lavínia Bozzo Aguilar Porciúncula. Brasília:
UNB, 2004. Tradução de: Bioetica quotidiana, p. 262.
107
Não basta apenas a previsibilidade constitucional de ações afirmativas para
garantir-se os Direitos Fundamentais no Estado Constitucional, impondo-se,
sobretudo, à Administração Pública mais ousadia nas ações sociais e menos
publicidade de seus próprios atos, e a participação efetiva da sociedade civil no
planejamento e desempenho de seu papel249
.
Num Estado Democrático de Direito em que os direitos fundamentais
devem ser garantidos a todas as pessoas, a atuação do Estado, assim como da sociedade, é
imprescindível para sua efetividade máxima quando da interposição de qualquer obstáculo.
A simples previsão constitucional dos direitos fundamentais não é suficiente para sua
realização, impondo-se ao Poder Público, sua efetividade por meio de políticas que
garantam a participação de toda a sociedade.
Ao inverso do que geralmente ocorre em outros setores, na saúde a
introdução de novas tecnologias não implica redução de custos, mas sim, uma alta dos
preços, que não é provocada simplesmente pelo encarecimento da medicina tradicional250
,
mas, principalmente, pelas inovações tecnológicas incessantes. Em decorrência desse
incremento de custos em saúde, a busca pela eficiência na alocação dos recursos tem sido
relevante na pauta das discussões de políticas públicas.
Há inúmeros fatores que colaboram para essa situação, a começar pela
salvaguarda dos direitos industriais dos grandes laboratórios, através do sistema de
patentes. Mas a incerteza no campo da saúde também é um fator determinante, motivo pelo
qual escolhas nessa área devem ser bem fundamentadas, para se tentar maximizar o retorno
para a sociedade do investimento feito, sobretudo, com recursos públicos. Para tanto:
A ATS não encerra, em si, erros ou acertos além daqueles que possam ser
relacionados à metodologia. Todavia, é essencial que o uso da ATS para tomadas
de decisão que afetem terceiros ou populações apresente como obrigatoriedade o
cumprimento dos mesmos preceitos éticos que se aplicam às ciências da saúde
em geral251
.
Dentro da ordem constitucional vigente o indivíduo passa de mero alvo de
políticas públicas a sujeito ativo de direitos, cujas prestações devem ser alcançadas dentro
do sistema com transparência. O não cumprimento dessa responsabilidade estatal incorre
no fenômeno social que encontra origem no processo de construção democrática da
249
SILVA, Ricardo Augusto Dias, 2010. p. 131. 250
DWORKIN, Ronald. A justiça e o alto custo da saúde. In: DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a
teoria e a prática da igualdade. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 433. 251
FOLLADOR; SECOLI, 2010, p. 260.
108
sociedade brasileira, denominado judicialização das políticas públicas, no caso em tela, da
saúde, o qual procura no Judiciário uma resposta às ineficiências dos canais de controle
social252
.
Todavia, em se tratando especificamente do acesso a novos medicamentos,
não basta ao Poder Judiciário continuar tomando decisões fundamentadas exclusivamente
na garantia irrestrita do direito à saúde pela Constituição, ante os fatos (de)limitadores de
sua consecução. Assim:
A utilização da ATS é considerada importante quando se observa a necessidade
de definir prioridade ante a insuficiência de recursos e a infinitude das demandas
em saúde. [...] Nesse contexto, a ATS não é um instrumento adequado para
julgamento do tipo “bom ou ruim”, “eficaz ou inócuo”, “seguro ou perigoso”,
que são dependentes de outros fatores, contextos e critérios. Tampouco deve ser
entendida como uma forma de oferecer solução à falta de interesse econômico ou
político por maiores gastos em ações de saúde. O meio mais fácil para justificar a
ATS como instrumento de restrição é o apelo à ética, mas, nesse caminho, os
polemistas oferecem cenários e pedem que se faça uma opção ética em situações
do tipo ganha-perde, nas quais é impossível evitar que ao menos uma das partes
saia prejudicada253
.
Não se tem a pretensão de deturpar o conceito e a finalidade original da
ATS para comprovar uma teoria sem precedentes empíricos. Isso seria por demais
alegórico, o que afastaria deste estudo seu caráter científico. Por outro lado, as definições e
situações apreciadas permitem a defesa da ATS como respaldo para tomada de decisões,
inclusive judiciais, o que a faz figurar como instrumento hábil à garantia de direitos
fundamentais, sendo fator de justiça social.
Ressalte-se que a ATS não deve se pautar apenas pela busca do menor custo
nas políticas de saúde, já que isso pode levar a anomalias no sistema. Há que se considerar,
portanto, equidade e aspectos distributivos254
.
No contexto de saúde atual, fica bastante clara a necessidade de avaliação
criteriosa de todas tecnologias a serem incorporados em saúde. Evoluímos nas
ultimas décadas agregando rigor metodológico para estabelecer o real benefício
das ações e intervenções oferecidas para população. Pelo crescimento
252
VENTURA, Miriam et al . Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde.
Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312010000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 dez. 2011. 253
FOLLADOR; SECOLI, 2010, p. 249. 254
Poderia se considerar uma iniquidade no sistema, por exemplo, a alocação de recursos para P&D de
medicamentos contra doenças raras cujo tratamento seja de alto custo, em detrimento de doenças
frequentes e negligenciadas.
109
exponencial e pelo impacto dessas tecnologias no orçamento, as suas avaliações
econômicas têm-se tornado uma necessidade, pois se estabelece uma nova
tecnologia e se oferece um ganho em saúde a um custo que a sociedade tem
condições de pagar. Acima de tudo, espera-se com a aplicação destes conceitos,
atingir os melhores padrões de saúde por meio do uso racional dos recursos
existentes255
.
Sendo um ramo da ATS, a AES pode ser valiosa nos processos de decisão
sobre incorporação de novas tecnologias e alocação de recursos no SUS, já que propicia a
identificação e mapeamento dos principais problemas existentes e as oportunidades para
uso e aplicação de soluções tecnológicas, a partir de análises de custos e impactos de uma
dada tecnologia, gerando o aprimoramento das políticas de saúde, tanto em eficácia quanto
em efetividade e qualidade256
.
Note-se que visualizar a ATS estritamente como um fator de redução de
custos é errôneo tanto nos objetivos quanto nos resultados futuros das decisões em saúde.
No entanto, considerada em todos os seus aspectos, ela pode ser instrumento apto a ampliar
a eficiência do sistema público de saúde no Brasil.
A ampliação da eficiência do sistema de saúde brasileiro no que se refere à
provisão de serviços é de elevada importância, tanto pelo lado da demanda, por
meio da assimilação das necessidades da população, como pelo lado da oferta,
em termos da forma como esses serviços são disponibilizados. Além disso, a
crescente incorporação tecnológica no setor saúde tem reflexos conhecidos sobre
o custo do sistema além de exigir mecanismos de regulação cada vez mais
complexos e sofisticados. Assim, estudar o sistema de regulação e a
incorporação de novas tecnologias passa a ser uma necessidade cada vez mais
premente no sistema de saúde brasileiro257
.
É preciso considerar, sobretudo para os países em desenvolvimento, que o
maior desafio dos agentes responsáveis pela formulação de diretrizes em ATS é aumentar
o rigor metodológico (conforme características de cada sistema), a transparência e
comparabilidade, em razão de uma devida divulgação de resultados para auxiliar gestores
na tomada de decisões sustentáveis, nas quais a ATS figure, ainda, como um importante
fator no processo democrático258
.
Quanto às decisões sustentáveis, no que respeita à acessibilidade aos
medicamentos, somente com competência política para investimentos e ações de longo
255
BRASIL. MS, 2008d, p. 92. 256
Idem, 2009a, p. 9. 257
ANDRADE, Eli Lola Gurgel et. al. Análise de situação da Economia da Saúde no Brasil: perspectivas
para a estruturação de um centro nacional de informações. Belo Horizonte: Coopmed, [200-], p. 10. 258
BALBINOTTO NETO, 2010, p. 528.
110
prazo é que será plenamente alcançada, primando-se pela transparência das ações e
controle das escolhas públicas concernentes às decisões alocativas.
Otimizar os gastos em saúde perante escolhas alocativas adequadas,
pautadas em estudos de ATS, pode inviabilizar o argumento de escassez de recursos no
sistema de saúde, para facilitar a incorporação e dispensação de novas tecnologias. É
razoável à Administração Pública que, em prol do interesse público, essas escolhas sejam
justificadas perante Poder Judiciário, cujas decisões também poderão encontrar respaldo
nos mesmos estudos.
111
REFERÊNCIAS
ALVES, Alessandra Vanessa. Atribuições da União na prestação do direito à saúde.
Brasília, 31 mar. 2009. 22p. Parecer nº _/2009. AGU/CONJUR-MS/AVA. Disponível em:
<http://189.28.128.59/portalsaude/texto/3267/659/sobre-acoes-judiciais.html>. Acesso em:
10 jan. 2012.
AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET,
Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e
reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
ANDRADE, Eli Lola Gurgel et. al. Análise de situação da Economia da Saúde no Brasil:
perspectivas para a estruturação de um centro nacional de informações. Belo Horizonte:
Coopmed, [200-], p. 10.
ARAÚJO, Gabriela Tannus Branco de; FONSECA, Marcelo Cunio Machado.
Extrapolação para o Brasil dos resultados de avaliação econômica da saúde feitos no
exterior. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência
clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BALBINOTTO NETO, Giácomo. Utilização de diretrizes nacionais e internacionais para
execução da avaliação de tecnologias em saúde. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação
de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
BARATA, Luiz Roberto Barradas; MENDES, José Dínio Vaz. Uma proposta de política
de assistência farmacêutica para o SUS. In: BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, José
Sebastião dos (Org.). Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São
Paulo: Atlas, 2010.
BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à
saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.
Disponível em: <http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf>. Acesso em:
16 jun. 2009.
BERGEL, Salvador Darío. Responsabilidad social y salud. Revista Brasileira de Bioética,
Brasília, v. 2, n. 4, p. 443-467, 2006.
BERLINGUER, Giovanni. Bioética cotidiana. Tradução de Lavínia Bozzo Aguilar
Porciúncula. Brasília: UNB, 2004. Tradução de: Bioetica quotidiana.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de
Janeiro: Campus, 1992.
______. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 6 ed. São Paulo:
Brasiliense, 2007.
112
BONFIM, José Ruben de Alcântara. Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único
de Saúde: direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso. In:
KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo; DE PAULA, Silvia Helena Bastos; BONFIM, José
Ruben de Alcântara (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde.
São Paulo: Instituto de Saúde, 2009. (Série Temas em Saúde Coletiva, 10).
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 31. Recomenda aos Tribunais a
adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do
direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a
assistência à saúde. Brasília, DF, 30 de março de 2010. DJ-e, Brasília, DF, 07 abr. 2010, n.
61, p. 4-6. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-
marco-de-2010>. Acesso em: 11 nov. 2010.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS.
Brasília: CONASS, 2011. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 7).
______. Ciência e Tecnologia em Saúde. Brasília: CONASS, 2007a. (Coleção Progestores
– Para entender a gestão do SUS, 4).
______. Legislação Estruturante do SUS. Brasília: CONASS, 2007b. (Coleção Progestores
– Para entender a gestão do SUS, 12).
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109,
111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e
acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, 31 de dez. 2004.
______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado
Federal, 5 de outubro de 1988.
______. Decreto nº 7.646 de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o processo
administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 22 de dez. 2011.
______. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de
abr. 2011.
______. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de set.
1990.
______. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
113
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de dez. 1990.
______. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de mai. 1996.
______. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 27 de jan. 1999.
______. Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 de
fev. 1999.
______. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico,
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de fev. 1999.
______. Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de
jan. 2000.
BRASIL. Ministério da Saúde. Avaliação de tecnologias em saúde. rev. e ampl. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008a. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/pub_destaques.php>. Acesso em: 17 jun. 2009.
______. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Avaliação de Tecnologias em Saúde:
institucionalização das ações no Ministério da Saúde. Revista Saúde Pública, v. 40, n. 4, p.
743-747, 2006a. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/artigo_ats_institucionalizacao_acoes_ms.pd
f>. Acesso em: 10 jan. 2011.
______. Entendendo o SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006b. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=136>. Acesso em: 28 dez. 2009.
______. Fundo Nacional de Saúde. Gestão Financeira do Sistema Único de Saúde: manual
básico. 3 ed. rev. e ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. (Série A. Normas e Manuais
Técnicos).
______. Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamentos de
Ciência e Tecnologia. Construindo pontes entre a academia e a gestão da saúde pública.
Brasília: Ministério da Saúde, 2008b. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
______. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas para elaboração de pareceres técnico-
científicos para o Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007a. (Série A.
Normas e Manuais Técnicos).
114
______. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Ciência e Tecnologia. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. Brasília:
Ministério da Saúde, 2011.
______. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Ciência e Tecnologia. Diretrizes Metodológicas: estudos de avaliação econômica de
tecnologias em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. (Série A. Normas e Manuais
Técnicos).
______. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Ciência e Tecnologia. Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde. 2 ed.
Brasília: Ministério da Saúde, 2008c. (Série B. Textos Básicos em Saúde).
______. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação nacional de medicamentos
essenciais: RENAME. 7 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos
de Saúde).
______. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão
Participativa. Caminhos do direito à saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2007b.
(Série B. Textos Básicos de Saúde).
______. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política
nacional de medicamentos 2001. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. (Série C. Projetos,
Programas e Relatórios, n.25). Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf>. Acesso em: 20
jun. 2011.
______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. O
Remédio via Justiça: Um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em
HIV/AIDS no Brasil por meio de ações judiciais. Brasília: Ministério da Saúde. 2005.
(Série Legislação n. 3).
______. Secretaria-Executiva. Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento. Avaliação
de tecnologias em saúde: ferramentas para a gestão do SUS. Brasília: Ministério da Saúde,
2009b. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
_______. Secretaria-Executiva. Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento.
Avaliação econômica em saúde: desafios para gestão no Sistema Único de Saúde. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008d. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
_______. Secretaria-Executiva. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
Glossário temático: economia da saúde. 2 ed. amp. Brasília: Ministério da Saúde, 2006c.
(Série A. Normas e Manuais Técnicos ).
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 45. Relator: Min. CELSO DE
MELLO, Brasília, 29 de abr. 2004. RTJ, [Brasília], v.200, p. 191, mai, 2004.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo:
Saraiva, 2002.
115
CALDEIRA, Telma Rodrigues. Acesso ao medicamento: direito à saúde no marco da
regulação do mercado farmacêutico. Dissertação de mestrado – Departamento de Serviço
Social, Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília. 2010. 179 f.
Disponível em:
<http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/8378/1/2010_TelmaRodriguesCaldeira.pdf>
. Acesso em: 24 out. 2011, p. 125.
CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos. São
Paulo: Atlas, 2007.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6 ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 356.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 8ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1986.
29 p. Relatório. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1124>. Acesso em: 07
mar. 2009.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova
a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, estabelecida com base nos princípios
constantes no anexo desta portaria. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de mai. 2004.
DAINESI, Sonia Mansoldo. Pontos Controversos em Estudos Clínicos Randomizados. In:
NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise
econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.
DALLARI, Sueli Gandolfi. Audiência Pública – Saúde. Brasília: Supremo Tribunal
Federal, 4 mai. 2009. Registro na ANVISA e Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do SUS.
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/SUELI_DALL
ARI.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2010.
______. O direito à saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 57-63,
1988a.
______. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.
22, n. 4, p. 327-334, ago. 1988b.
______; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Verbatim, 2010.
DELDUQUE, Maria Cecília; OLIVEIRA, Mariana Siqueira de Carvalho. O papel do
Ministério Público no Campo do Direito e Saúde. In: BRASIL. Ministério da Saúde.
Fundação Oswaldo Cruz. Questões atuais de direito sanitário. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006. (Série Legislação de Saúde).
DIAS, Helio Pereira. Flagrantes do ordenamento jurídico-sanitário. Brasília: ANVISA,
2000.
DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
116
DWORKIN, Ronald. A justiça e o alto custo da saúde. In: DWORKIN, Ronald. A virtude
soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins
Fontes, 2005.
FERRAZ, Marcos Bosi. Avaliação econômica em saúde. In: VECINA NETO, Gonzalo;
MALIK, Ana Maria. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à saúde, recursos
escassos e equidade: os riscos da interpretação judicial dominante. Revista de Ciências
Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, Mar. 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582009000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 ago. 2011.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua
portuguesa dicionário. 7 ed. Curitiba: Positivo, 2008, p. 640.
FOLLADOR. Wilson; SECOLI, Silvia Regina. A farmacoeconomia na visão dos
profissionais da saúde. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde:
evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010, p.
251.
HENRIQUES, Cláudio Maierovich Pessanha. O SUS e a incorporação de novas
tecnologias. Portal da Saúde. Artigos e Publicações. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=33161&janela=
1>. Acesso em: 24 out. 2011.
HUNT, Paul; KHOSLA, Rajat. Acesso a medicamentos como um direito humano. Sur,
Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 5, n. 8, jun. 2008. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
64452008000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 dez. 2011.
IATS. Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde. O que é ATS? Disponível em:
<http://www.iats.com.br/atividades.php?id_cms_menu=9>. Acesso em: 10 jan. 2012.
INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS.
. Washington, D.C.,
2007. 106 p. Disponível em:
<http://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07eng/Accesodescindice.eng.htm>.
Acesso em: 26 jun. 2009.
LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos Sociais: teoria e prática. São Paulo: Método,
2006.
LOPEZ ACUÑA, Daniel, et al. Access to Financing of Health Care: Ways to Measure
Inequities and Mechanisms to Reduce Them. In: PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION. Equity and Health: Views from the Pan American Sanitary Bureau.
Washington, D.C.: PAHO, 2001. (Occasional Publication n. 8). Disponível em:
<http://www.paho.org/english/dbi/Op08/OP08_11.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.
117
MÂNICA, Fernando Borges. O setor privado nos serviços públicos de saúde. Belo
Horizonte: Fórum, 2010.
MARQUES, Silvia Badim; DALLARI, Sueli Gandolfi. Garantia do direito social à
assistência farmacêutica no Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 1, p.
101-107, 2007.
MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. O acordo TRIPS. Disponível em:
<http://www.msf.org.br/conteudo/126/o-acordo-trips/>. Acesso em: 07 jan. 2012.
MENDES, Andrea Cristina Rosa; VIEIRA, Fabíola Sulpino. Evolução dos gastos do
Ministério da Saúde com Medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/estudo_gasto_medicamentos.pdf>.
Acesso em: 01 nov. 2011.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ministério da Saúde.
Portaria Interministerial nº 6 de 18 de março de 1980. Homologa a relação nacional de
medicamentos essenciais - RENAME, atualizada pela Central de Medicamentos - CEME,
constante da presente portaria. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar. 1980.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Consolidação da área de avaliação de tecnologias em
saúde no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 2, abr. 2010. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102010000200022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 dez. 2011.
______. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.510, de 19 de dezembro de 2005. Institui
Comissão para Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único
de Saúde – CPGT. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de dez. 2005.
______. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.578, de 30 de outubro de 2008. Dispõe sobre a
Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde e vincula sua gestão à
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 31 de out. 2008.
______. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.690, de 05 de novembro de 2009. Institui, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias
em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 de nov. 2009.
______. Gabinete do Ministro. Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Aprova a
política nacional de medicamentos, cuja íntegra consta no anexo desta portaria. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 10 de nov. 1998.
______. Profissional e Gestor. Pesquisa em Saúde. Incorporação de tecnologia em saúde:
perguntas mais frequentes. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Perguntas_e_respostas_jan2011.pdf>.
Acesso em: 24 out. 2011.
118
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos
arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência.
São Paulo: Atlas, 2002.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Comissão de Determinantes Sociais da Saúde.
Rumo a um Modelo Conceitual para Análise e Ação sobre os Determinantes Sociais da
Saúde. Genebra, 2005, p. 8. Disponível em:
<http://www.determinantes.fiocruz.br/pdf/texto/T4-
2_CSDH_Conceptual%20Framework%20-%20tradução%20APF.pdf>. Acesso em: 15
dez. 2011.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. O acesso aos medicamentos de alto
custo nas Américas: contexto, desafios e perspectivas. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores, 2009.
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar. A crise da saúde pública e a utopia
da saúde coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000.
PEPE, Vera Lúcia Edais; VENTURA, Miriam (Org.). Manual indicadores de avaliação e
monitoramento das demandas judiciais de medicamentos. Rio de Janeiro: Fundação
Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 2011.
PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética.
6 ed. São Paulo: Loyola, 2002.
PESSOA, Higor Rezende. Parecer CANAQUINUMABE. Brasília, 28 out. 2011. 14p.
PARECER Nº 1.300/2011-AGU/CONJUR-MS/HRP. Disponível em:
<http://189.28.128.59/portalsaude/texto/3267/659/sobre-acoes-judiciais.html>. Acesso em:
10 jan. 2012.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6 ed. São
Paulo: Max Limonad, 2004.
POLANCZYK, Carisi Anne; VANNI, Tazio; KUCHENBECKER, Ricardo S. Avaliação
de Tecnologias em Saúde no Brasil e no Contexto Internacional. In: NITA, Marcelo Eidi
et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de
decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.
PONTE, Carlos Fidélis; FALLEIROS, Ialê (Org.). Na corda bamba de sombrinha: a saúde
no fio da história. Rio de Janeiro: Fiocruz: COC: EPSJV, 2010.
PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a Saúde: estratégias
para melhorar a qualidade e reduzir os custos. Tradução de Cristina Bazan. Porto Alegre:
Bookman, 2007.
RIBEIRO, Eliane; CROZARA, Marisa Aparecida. Farmacoeconomia aplicada ao Hospital.
In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica,
análise econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.
119
ROSEN, George. Uma história da Saúde Pública. Tradução de Marcos Fernando da Silva
Moreira com a colaboração de José Rubem de Alcântara Bonfim. São Paulo: HUCITEC:
UNESP; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1994.
SANTOS, Vania Cristina Canuto. As análises econômicas na incorporação de tecnologias
em saúde: reflexões sobre a experiência brasileira. 132 f. Dissertação (Mestrado) Escola
Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2010.
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 2. tir. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2000.
SARTI, Flavia Mori; CAMPINO, Antônio Carlos Coelho. Fundamentos de economia,
economia da saúde e farmacoeconomia. In: NITA, Marcelo Eidi et. al. Avaliação de
tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de decisão. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
SCHEFFER, Mário. Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos
medicamentos para tratamento da AIDS no Sistema Único de Saúde. In: KEINERT, Tânia
Margarete Mezzomo; DE PAULA, Silvia Helena Bastos; BONFIM, José Ruben de
Alcântara (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo:
Instituto de Saúde, 2009. (Série Temas em Saúde Coletiva, 10).
SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 2 ed. São Paulo:
Senac, 2005.
SECRETARIA de Saúde de MT e TJMG aderem à Recomendação 31 do CNJ. Conselho
Nacional de Justiça. Notícias em Destaque, Brasília, 02 ago. 2010. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/noticias/9548-secretaria-de-saude-de-mt-e-tjmg-aderem-a-
recomendacao-31-do-cnj>. Acesso em: 11 nov. 2010.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
SILVA, Everton Nunes da; SILVA, Marcus Tolentino; ELIAS, Flávia Tavares Silva.
Sistemas de saúde e avaliação de tecnologias em saúde. In: NITA, Marcelo Eidi et. al.
Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise de
decisão. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7 ed. São Paulo:
Malheiros, 2010.
______. Curso de direito constitucional positivo. 30 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2007.
SILVA, Ricardo Augusto Dias da. Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo
existencial e a reserva do possível. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e
eficácia. 2 ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 2011.
120
SIQUEIRA, José Eduardo de. A Evolução Científica e Tecnológica, o Aumento dos
Custos em Saúde e a Questão da Universalidade do Acesso. Bioética, Simpósio A Ética da
alocação de recursos em saúde, Brasília, v. 5, n. 1, p. 41-48, 1997. Disponível em:
<http://seer.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/364/464>. Acesso em: 13
out. 2010.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Glossário Jurídico: Repercussão Geral. Disponível
em: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451>. Acesso em:
01 out. 2011.
TANAKA, Oswaldo Yoshimi. A judicialização da prescrição medicamentosa no SUS ou o
desafio de garantir o direito constitucional de acesso à assistência farmacêutica. Revista de
Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 1, jun. 2008. Disponível em:
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
41792008000100012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 04 out. 2011.
TOFFOLI, Antônio Dias. Audiência Pública – Saúde. Brasília: Supremo Tribunal Federal,
27 abr. 2009. O ACESSO ÀS PRESTAÇÕES DE SAÚDE NO BRASIL – desafios ao
Poder Judiciário. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Sr._Min._Jose
_Antonio_Dias_Toffoli__Advogado_Geral_da_Uniao_.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2010.
UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Committee on Economic, Social and
Cultural Rights. The right to the highest attainable standard of health: General Comment
No. 14, para. 9, Geneva, Apr./May. 2000, E/C.12/2000/4. (General Comments). Disponível
em:
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/40d009901358b0e2c1256915005090be?Ope
ndocument>. Acesso em: 24 out. 2011.
VENTURA, Miriam et al . Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do
direito à saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312010000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 dez. 2011.
WANG, Daniel; TERRAZAS, Fernanda. Decisões da Ministra Ellen Gracie sobre
medicamentos. Sociedade Brasileira de Direito Público, São Paulo, 19 jul. 2007.
Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=66>. Acesso em: 11
abr. 2009.





























































































































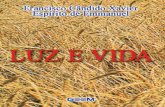


![O GÊNERO SATÍRICO NO APÓSTOLO PAULO · O gênero satírico no apóstolo Paulo [114] contraposição a voz inflamada do autêntico apóstolo Paulo, que afirmava com veemência a](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5b7a9ae87f8b9ade618c59c7/o-genero-satirico-no-apostolo-paulo-o-genero-satirico-no-apostolo-paulo.jpg)











