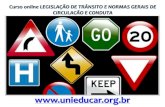Bastos e Barreto Circulacao
-
Upload
lidiane-cunha -
Category
Documents
-
view
284 -
download
4
Transcript of Bastos e Barreto Circulacao
-
A Circulao
do Conhecimento:
Medicina, Redes
e Imprios
Cristiana Bastos
Renilda Barreto (organizadoras)
-
Imprensa de Cincias Sociais
Instituto de Cincias Sociais da Universidade de Lisboa
Av. Professor Anbal Bettencourt, 9
1600-189 Lisboa Portugal Telef. 21 780 47 00 Fax 21 794 02 74
www.imprensa.ics.ul.pt [email protected]
Instituto de Cincias Sociais Catalogao na Publicao A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios / orgs. Cristiana
Bastos, Renilda Barreto Lisboa: ICS. Imprensa de Cincias Sociais, 2011
ISBN 978-972-671-288-6 CDU 61
Capa: Wound man, meados do sculo XV, em Claudius (Pseudo) Galen, Anathomia.
Generosamente cedido pela Biblioteca Wellcome, Londres.
Composio, paginao e reviso:
Isabel Cardana - Servios de Apoio Especializado, Unipessoal, Lda. 1 Edio (on-line): Agosto de 2011
ndice Introduo ............................................................................................ 11 Cristiana Bastos e Renilda Barreto
Parte I A escrita e o trnsito do conhecimento mdico Captulo 1
Corpos, climas, ares e lugares: autores e annimos nas cincias da colonizao ........................................................................................... 25 Cristiana Bastos Captulo 2
A Cincia do Parto e a atuao de Joaquim da Rocha Mazarm (sculo XIX) ......................................................................................... 59 Renilda Barreto Captulo 3
O viajante esttico: Jos Francisco Xavier Sigaud e a circulao das ideias higienistas no Brasil oitocentista (1830-1844) .......................... 81 Luiz Otvio Ferreira
Parte II Substncias de cura: guas e aguardentes Captulo 4
Os cuidados com a sade dos escravos no Imprio Portugus: a aguardente para fins medicinais ....................................................... 103 Betnia G. Figueiredo e Evandro C. G de Castro Captulo 5
A gua de Inglaterra em Portugal ................................................. 129 Patrick Figueiredo Captulo 6
Armando Narciso: um doutrinador da hidrologia mdica e do termalismo portugus (1919-1948) ......................................................151 Maria Manuel Quintela
-
Parte III Redes transnacionais de pesquisa e interveno Captulo 7
Pesquisas em parasitologia mdica e circulao do conhecimento no contexto da medicina colonial........................................................... 173 Flvio Coelho Edler Captulo 8
Hideyo Noguchi e a Fundao Rockefeller na campanha internacional contra a febre amarela (1918-1928) .............................. 199 Jaime Benchimol Captulo 9
A asa protectora de outros: as relaes transcoloniais do Servio de Sade da Diamang ............................................................................. 339 Jorge Varanda
Parte IV Colonial, rural, total: a experincia da Malria Captulo 10
Sade pblica, microbiologia e a experincia colonial: o combate malria na frica Ocidental (1850-1915) ............................................ 375 Philip J. Havik Captulo 11
Mosquitos envenenados: os arrozais e a malria em Portugal........ 417 Mnica Saavedra Captulo 12
Controlo populacional e erradicao da malria: o caso dos ranchos migratrios .......................................................................................... 435 Vtor Faustino
ndice de quadros e figuras Captulo 3 Quadro N. 1 Assunto e origem dos trabalhos publicados no SSP e DS .. 89 Quadro N. 2 Epidemias registradas no Brasil entre 1829 e 1842 .............. 96 Captulo 5 Figura N. 1 Retrato de Jacob de Castro Sarmento (s/d) ........................... 130 Figura N. 2 Decreto que concede permisso da venda de gua de Inglaterra a Jos Joaquim de Castro ............................................................... 132 Figura N. 3 Um tratado mdico de Frei Manuel de Azevedo confirma a divulgao para o reino, da parte do Dr. Mendes ........................................ 134 Figura N. 4 O Peru oferece a Quina Cincia (gravura annima, sc. XVII) .................................................................................................................... 138 Figura N. 5 Publicidade de vinho quinado no Brasil (anos 1940) ........... 146 Captulo 6 Figura N 1 Para cada doena tem Portugal a sua cura de guas ........... 159 Captulo 8 Quadro N. 1 Vacina e soro para a frica (1927) ........................................ 301 Captulo 9 Quadro N. 1 Produo em carats .................................................................. 358 Captulo 12 Quadro N. 1 Estimativas para a produo de arroz, 1853-1909 .............. 438 Figura N. 1 Cabanas em guas de Moura, por volta de 1935 .................. 443 Figura N. 2 Abrigos de trabalhadores sazonais, na regio de guas de Moura, cerca de 1935 ........................................................................................ 445 Figura N. 3 Ranchos, compostos maioritariamente por mulheres. ......... 447 Figura N. 4 Migraes sazonais de trabalhadores rurais na dcada de 1950 ............................................................................................................................... 448 Figura N. 5 Projecto de dormitrio protegido com redes. ....................... 451 Figura N.6 Cartazes visando a colocao de redes nas casas, incio dos anos 40 ................................................................................................................. 452 Figura N. 7 Trs dcadas de campanhas anti-malricas: de endemia a doena de importao ....................................................................................... 455
-
Cristiana Bastos e Renilda Barreto. 2011. Introduo.
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios, org. Cristiana Bastos e Renilda Barreto. Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais, 11-22.
11
Introduo Cristiana Bastos Renilda Barreto
Este volume resulta de uma prolongada interlocuo envolvendo cientistas sociais e historiadores interessados na produo e circulao do conhecimento mdico em contextos luso-brasileiros, entendidos estes de uma forma ampliada e extensvel a espaos africanos e asiticos afectados por polticas coloniais portuguesas. Ao longo de alguns anos, pontuados por encontros formais e informais, fomos promovendo a convergncia dos vrios interesses de pesquisa e das mltiplas perspectivas disciplinares e tericas em que nos filiamos: histria, antropologia, sociologia, cincia poltica, histria da medicina e das cincias da sade.
Quem se interessa pelo estudo social e histrico da cincia, ou das cincias, ou da medicina em particular, ou ainda da produo e difuso do conhecimento cientfico, j se confrontou com uma lendria tenso entre, por um lado, os caminhos dos estudos sociais da cincia, focados nas condies sociais da sua produo, preocupados com as dinmicas de autoridade e inovao e seu impacto nos contedos cientficos, densos em formulaes tericas e referncias, e ultimamente empenhados nas configuraes de redes e actores sociais, e, por outro lado, a mais convencional histria da cincia, feita de cronologias, sucesses, autores, achados, linearidades, influncias, contextos, sustentando-se em extensos corpos documentais e por vezes dispensando por inteiro a teoria.
Bem pode essa tenso alimentar longos debates e cavar fossos entre departamentos e associaes cientficas, que ao presente volume no incomoda, nem obriga a fazer escolhas, excluses, ou clarificao de alinhamentos. Em graus diversos, todos somos simultaneamente ntimos do arquivo e da teoria, do emprico e do analtico; todos resolvemos essa tenso convivendo pacificamente
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
12
com ambos os lados, combinando a pesquisa documental e o trabalho de anlise. O antagonismo parece-nos ultrapassado, remontando ao tempo em que os estudos sociais da cincia se apresentaram em cena como uma alternativa s cronologias de descobertas da histria convencional da medicina, procurando substituir as antigas sequncias de datas e nomes desencarnados pelo estudo social da produo do conhecimento, seus nexos, contextos, contingncias, redes, estruturas, culturas, poderes, tenses, conflitos, e ainda todas as possveis variveis sociais consagradas ou em experimentao classe, gnero, raa, mas tambm lugar, crculos de influncia, actores-rede, circulao.1
Parece hoje impensvel trabalhar em qualquer dessas vertentes excluindo a outra. Pelo contrrio, podemos e devemos transitar entre ambas, combin-las e conjug-las, j que contextos e redes no anulam inventores e invenes ou, numa linguagem de sntese conceptual, os actores da inovao. Mais ainda, podemos explorar zonas intermdias e intersticiais que no teriam lugar em nenhum desses lados isoladamente. Vai ser sobretudo nessas zonas de interstcio, de explorao de novos campos e formulaes, que se fazem os captulos deste volume.
Nalguns registos temos pequenas biografias que elucidam as trajectrias singulares de certos actores sociais, autores de conhecimento, criadores e influentes; noutros teremos referncias a foras mais amplas e impessoais, como as dinmicas coloniais, pblicas e privadas, civis e militares, do estado s companhias mineiras, das fundaes de caridade s agncias sanitrias transnacionais, das associaes cientficas aos grupos de interesses.
Os enredos atravessam vrios lugares, mesmo que a aco parea decorrer apenas num territrio, colnia, hospital, complexo
1 Sem qualquer ambio de rever o campo nesta pequena nota, remetemos os leitores para algumas obras gerais: alm do muito citado Science in Action de Bruno Latour (1987), temos os Handbook of Science and Technology Studies editados por Sheila Jasanoff et al. (1995) e por Edward Hackett et al. (2008), ou ainda nmeros temticos como o que Warwick Anderson (2002) para a revista Social Studies of Science. Para volumes em portugus, veja-se Nunes e Gonalves (2001) e Nunes e Roque (2008).
Introduo
13
mineiro, laboratrio local, herdade agrcola; esto neles contidos lugares eventualmente distantes onde se escreve, pensa, produz e publica. Mas ser a relao entre estes lugares presentes e ausentes configurada em modo hierrquico, emanando dos centros metropolitanos os saberes que iluminam os satlites e periferias? Ou, numa outra nuance, estaro articulados como extenses de recolha que alimentam ciclos de acumulao e convergem para os centros de clculo?
Seria sem dvida atraente unificar os nossos contributos em torno destas questes e propor um modelo descritivo com ambio terica, capaz de confirmar, refutar ou ultrapassar as referncias e citaes da moda nos estudos de cincia. Igualmente tentador tomar a experincia histrica portuguesa e brasileira como um todo que se pode contrapor a outras experincias histricas coloniais com configuraes diferentes e mais frequentemente referidas na literatura internacional.2
Mas no esse o nosso objectivo principal neste volume. Ficar para o leitor a tarefa de prolongar as propostas que aqui afloramos e alinhar-se, ou no, com as escolhas tericas do momento, e de estabelecer, ou no, uma interpretao geral para a cincia nos
2 As primeiras obras dedicadas s questes de medicina e imprio (Arnold 1988; Macleod e Lewis 1988; Arnold 1993) usavam em grande medida a experincia imperial britnica como padro de referncia e assim aconteceu com a maioria das obras que se lhe seguiram. Excepo mais notvel o trabalho de Ann Laura Stoler (1995; 2002; 2009) baseado nos arquivos coloniais holandeses para Sumatra e Java. Os estudos de colonialismo comparado tornaram-se entretanto mais frequentes (e.g. Cooper e Stoler 1997; Bastos, Almeida e Feldman-Bianco 2002; Labanyi e Foreman 2005; Roque e Wagner 2011), alguns deles especificamente dedicados a questes mdicas (Bhattacharya e Brimnes 2009; Digby, Ernst e Muhkarji 2010). Saliente-se todo um conjunto de obras que a partir de 2000 discutem a experincia colonial portuguesa numa perspectiva comparada e crtica (Santos 2002; Thomaz 2002; Feldman-Bianco 2001; Bastos, Almeida e Feldman-Bianco 2002; Carvalho e Pina-Cabral 2004; Bastos, Ferreira e Fernandes 2004). Mas os estudos do colonialismo que se recortam em funo dos universos de expanso europeus correm o risco de, como apontava Anderson (1998) a propsito da medicina colonial, ficar presos s particularidades de cada experincia colonial e diminuir a nfase no que h de colonial em todas essas experincias histricas. No caso da experincia luso-brasileira, o problema de essencializar as particularidades agrava-se pela necessidade de dialogar (mesmo quando para refutar) com o iderio lusotropicalista sobre a especificidade (e suposta benignidade) do colonialismo portugus e das culturas de referncia lusfona, comeando pelo Brasil.
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
14
universos lusfonos. O que nos une menos a ambio de uma proposta terica unificada que um modelo de anlise subsumido nas nossas prticas de investigao, e uma necessidade de integrar, nas prticas de arquivo, interpretao e contextualizao que se expandem para espaos mais amplos, fluxos e nexos que de alguma forma se resumem na noo de circulao.3
E, sem dvida, une-nos tambm a paixo de percorrer o arquivo e deixar-nos levar por ele.4 um arquivo que seguimos para l do texto, para l do formulado, mas no necessariamente na exacta contramo do documento, extraindo dele as vozes que l se no podem encontrar: um arquivo que nos leva para extensas redes que transcendem as referncias nacionais, que nos fazem viajar entre Brasil e Portugal, entre Moambique e a ndia, entre Angola e todos estes, e tambm para o Japo, Frana, Alemanha.
O arquivo, portanto: todos ns trabalhamos com arquivos, de muitas e variadas modalidades, leques temporais, localizaes, estados de conservao, acessibilidade, de organizao e de caos. So arquivos coloniais, bem preservados ou quase destrudos; esplios pessoais de cientistas; arquivos administrativos e diplomticos; coleces de instituies sanitrias, de universidades, de fundaes privadas; acervos cognitivos mantidos na memria de alguns dos nossos entrevistados; recoleces e observaes colhidas em trabalho de campo.
Nos arquivos no se escondem simples dados que trazemos a pblico fora do trabalho interpretativo a que lhes chegamos e pelo qual os conhecemos emergindo de, e remetendo para, as discusses, inquietaes e problemas tericos em que estamos envolvidos. A relao de mo dupla: em suma, os princpios gerais e as propostas interpretativas expostas ao longo dos artigos ancoram-se no trabalho de arquivo, nas prticas, narrativas e elucubraes que encontramos nas fontes documentais, nos depoimentos e outros testemunhos a que chegamos na histria oral. Entre ns convergimos nessas prticas, dialogamos nas anlises, 3 Para um uso um pouco diferente mas enriquecedor do entrosamento de circulao, imprio e cincia, veja-se Raj (2007). 4 Exactamente como na proposta de Ann Stoler (2009), along the archival grain...
Introduo
15
mantemo-las independentes. Convidamos agora os leitores a atravess-las, organizadas que esto em quatro blocos de captulos que articulam, entre si, caminhos multidireccionais do conhecimento, dos seus produtores, teorias e lugares de produo.
O primeiro bloco de captulos aborda directamente a circulao
do conhecimento mdico, analisando situaes que ajudam a questionar algumas das mais enraizadas trivialidades sobre a produo e uso da cincia em portugus. Os textos analisam trajectrias profissionais e pessoais de mdicos e cirurgies, bem como a sua articulao em redes mais amplas que tm como base um mundo luso-brasileiro em mudana; so espaos de imprio em reconfigurao, novas naes, novas colnias em frica, domnios de tutela ambgua na sia. Instalada no senso comum est a reduo destes espaos condio de periferias consumidoras de conhecimento, fazendo dos mdicos, farmacuticos e cirurgies locais, falantes de portugus, meros clientes das teorias produzidas nos grandes centros de lngua francesa, alem, inglesa. O que os presentes artigos trazem tona bastante diferente, com autores e actores que criam e pem em circulao interpretaes, formulaes e princpios tericos disponveis para uso geral. Fazem-no em portugus; que canais, redes, interstcios se desenham nesse espao cognitivamente recortado e politicamente flutuante? Cada um dos artigos contribuiu de modo particular para esclarecer esta questo.
Em Corpos, climas, ares e lugares: autores e annimos nas cincias da colonizao, Cristiana Bastos aproxima-se do universo multiforme dos que, escrevendo em portugus os seus relatrios, notas, ofcios, recomendaes e manuais, so simultaneamente autores e actores annimos das redes de produo, uso, acumulao e circulao do conhecimento mdico colonial. Dos seus postos de sade colonial, escrevem e inscrevem ideias, teorias e prticas relativas aclimatao e maleabilidade dos corpos; promovem conjugadamente polticas sanitrias e polticas de colonizao; descrevem e intervm na materialidade das enfermarias, hospitais, farmcias, vacinas e cordes sanitrios; e nesse lugar crtico, marginal e central, consumidor e produtor, annimo e autor,
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
16
constituem-se enquanto actores centrais da medicina colonial portuguesa no sculo XIX, parte de redes mais amplas que os alimentam e as quais eles alimentam.
Renilda Barreto assinala o intercmbio de saberes e prticas na obstetrcia do sculo XIX e mostra como os cirurgies se instalaram no campo predominantemente feminino da Cincia do Parto. O estudo da trajectria profissional do cirurgio Joaquim da Rocha Mazarm que viveu entre Portugal e Brasil no contexto da cincia mdica e do ensino, durante a primeira metade do sculo XIX, posiciona a medicina acadmica portuguesa e brasileira no patamar da Alemanha, da Inglaterra e da Frana, questionando o instalado estigma do atraso luso-brasileiro no campo da cincia dos partos.
Encerrando a seco com O viajante esttico, Luiz Otvio Ferreira apresenta a contribuio do mdico francs Jos Francisco Xavier Sigaud na circulao das ideias higienistas no Brasil de oitocentos. Integrado no ambiente intelectual e institucional da corte do Rio de Janeiro, Sigaud foi um representante tpico da tradio higienista e da intelectualidade ilustrada, iluminista, do incio do sculo XIX, um viajante cientfico em constante deslocao na ampla rede por onde circulava o conhecimento mdico em escala local e global, fazendo do seu lugar de acolhimento um ponto desse universo de inovao e permanente renovao do saber.
O segundo bloco de captulos dialoga distncia com o clebre
conceito de mveis imutveis, optando pela mais modesta designao de substncias de cura e restringindo-se s guas e aguardentes no deixando de fora o vinho e a quina que, combinados, deram a famosa gua de Inglaterra. Mas no se pense que estas so substncias simples, estveis, de propriedades imutveis e segredos que os caminhos da cincia vo cumulativamente desbravando. Pelo contrrio: so tambm o que delas fazem o uso, a circulao, o conhecimento localizado, o comrcio, as transaces.
Introduo
17
Comecemos pela aguardente enquanto remdio no contexto da plantao escravocrata no Brasil colonial. Com Os cuidados com a sade dos escravos no Imprio Portugus: a aguardente para fins medicinais, Betnia Figueiredo e Evandro Castro trazem-nos muito mais que uma anlise das propriedades e usos da aguardente, e levam-nos a uma das fontes que propaga e divulga esse remdio: o Errio Mineral, um dos primeiros tratados de medicina para o Brasil escrito em lngua portuguesa, de autoria do cirurgio portugus Lus Gomes Ferreira. Autor e fonte circularam pelo imprio colonial portugus no sculo XVIII, recriando os saberes locais, gerando interpretaes, veiculando princpios que ganharam dinmicas prprias.
Uma outra bebida medicinal, a gua de Inglaterra, analisada por Patrick Figueiredo no captulo seguinte. Trata-se de um remdio de segredo, um vinho de quina amplamente comercializado em Portugal e colnias; nesse medicamento, substncia, mercadoria, item comercial, objecto de desejo, disputa, concorrncia e redeno se concentram muitos dos problemas que nos mobilizam analiticamente a circulao global de novos produtos, como a quina, a manufactura de compostos, a sua comercializao, a apropriao do conhecimento, a discusso dos seus efeitos teraputicos, a interaco entre materialidades, interpretaes e estabilizao dos conhecimentos.
A encerrar esta seco Maria Manuel Quintela traz-nos s guas termais, tambm elas objecto de dissenso e sujeito de constantes transformaes no que tange definio das suas propriedades, vocao teraputica, modos de uso, regras de acesso e legitimao do seu lugar nas cincias mdicas. Em Armando Narciso: um 'doutrinador' da hidrologia mdica e do termalismo portugus (1919-1948), a autora analisa os escritos deste mdico e convicto hidrologista para discutir, para a primeira metade do sculo XX, a institucionalizao da especialidade de hidrologia mdica e do termalismo como possibilidade teraputica em Portugal, bem como o desenvolvimento de identidades regionais e nacionais em torno das termas durante o Estado Novo de Salazar.
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
18
A terceira srie de artigos desloca o leitor para universos que claramente transcendem a esfera local e desvendam as redes, conexes e canais que sustentam a produo de conhecimento mdico e as polticas de interveno sanitria.
Com Pesquisas em parasitologia mdica e circulao do conhecimento no contexto da medicina colonial, Flvio Edler centra-se na especializao de helmintologia mdica enquanto caso exemplar onde se adensam e concentram processos de negociao entre distintas comunidades epistmicas, onde factos e observaes no so meros factos nem inocentes observaes. Traando o modo como os mdicos brasileiros da segunda metade do sculo XIX contriburam para a consolidao deste campo, o autor d-nos uma panormica dos mecanismos de controle e validao das inovaes cientficas, da concretizao de controvrsias, e dos modos de circulao do conhecimento mdico.
Jaime Benchimol leva-nos a um extenso aprofundamento das relaes sia-Amrica com Hideyo Noguchi e a Fundao Rockefeller na campanha internacional contra a febre amarela (1918-1928). A trajectria peculiar do mdico japons Hideyo Noguchi e o seu envolvimento nas campanhas internacionais contra doenas infecciosas, em particular a leptospirose e a febre amarela, ilustra muito mais que um percurso pessoal, mas toda uma teia que envolve os vrios sectores de interveno sanitria governos, instituies transnacionais, fundaes , bem como as articulaes entre prticas, polticas e saberes.
ainda destacando os aspectos transnacionais da interveno mdica que Jorge Varanda, em A asa protectora de Outros, nos leva a Angola-colnia. Mas no a uma situao colonial genrica: trata-se da Diamang, a Companhia de Diamantes de Angola, um estado dentro do estado, com meios mais eficientes que o governo para exercer a sua misso e gerir a sua fora de trabalho. nessa medida que providencia os seus prprios servios mdicos com o respectivo equipamento, incluindo laboratrios, e mobiliza todo o capital cientfico disponvel para fazer face a uma das endemias que mais afectavam a populao indgena e subsequentemente a qualidade do trabalho e a rentabilidade da produo: a doena do
Introduo
19
sono, ou tripanosomase. O que primeira vista poderia parecer restrito ao local revela-se amplamente distendido e global.
A quarta e ltima parte deste livro desenvolve-se em torno de
uma s patologia, a ubqua malria (ou paludismo), e com ela atravessa vrias experincias de aco profilctica na frica colonial e nos espaos rurais portugueses do sculo XX. Nestes estudos articulam-se cincia, poltica, interveno, mas tambm economia, sociedade, etnografia, experincia vivida de todo o conjunto de condies que incluam a malria, sezes, febres, pauis, arrozais, trabalho assalariado, migraes, mosquitos; humanos e no-humanos entrosam-se em complexos enredos sociais em que o conhecimento sobre a febre, os vectores, a transmisso, o tratamento e a preveno articulam relaes sociais especficas (nas quais se recortam os doentes, os vulnerveis, os mdicos, os tcnicos, os cientistas, os polticos, os filantropos) e em configuraes histricas nicas, como a que redunda no processo de erradicao.
Em Sade pblica, microbiologia e a experincia colonial Philip Havik traz-nos a um dos lugares proverbialmente temidos pelos europeus pela insalubridade e mortferas febres, a frica ocidental, e traa, de modo comparativo, os processos desenvolvidos pelos diferentes governos europeus britnico, francs e portugus para domesticar esses temores generalizados a partir de um novo paradigma mdico em que possvel deslocar o estigma do territrio para um plano de abordagem aos vectores da infeco. Este artigo proporciona-nos ainda uma olhar sobre o debate coevo nas colnias e a relevncia, para a sua aplicao, da implantao no terreno dos profissionais de sade muitos dos quais no-europeus.
Com Mosquitos envenenados: os arrozais e a malria em Portugal, Mnica Saavedra analisa as mesmas sequncias de transio de paradigma no entendimento da malria, do miasma aos mosquitos. Mas aqui o centro da aco a ruralidade portuguesa, combinada com laboratrios de pesquisa que em territrio nacional ou internacional definiam o campo da malria; com cientistas,
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
20
sanitaristas e polticos que desenhavam as estratgias que culminaram nos programas de erradicao; com fundaes externas que se sobrepunham aos governos na implementao dos programas. Com pesquisa etnogrfica e histria oral, a autora ajuda-nos a chegar experincia daqueles que nas suas vidas precrias de trabalhadores rurais deslocados viveram as campanhas do arroz, as guas infestadas, os mosquitos, as sezes que integravam quotidianos de dificuldades extremas mas que, para os agentes sanitrios, eram singularizadas como alvo de programas e intervenes.
Neta mesma linha, Vtor Faustino leva-nos doena do arroz numa perspectiva histrica que culmina na narrativa e visualizao da experincia dos ranchos de migrantes rurais no Vale do Sado. Controlo populacional e erradicao da malria d-nos uma viso geral da orizicultura em Portugal desde os seus primrdios, das polticas e escolhas que envolveu, das suas demandas de trabalho sazonal, da materialidade das vidas daqueles que supriam a fora do trabalho a cada campanha, e de todo o sistema que por um lado sustentava aquela economia e por outro mitigava o seu impacto mrbido na populao.
Deixamos agora aos leitores a aventura de cruzar os textos, de
os ler criticamente, comentar, criticar, refutar ou prolongar as suas perspectivas e sugestes.
Cristiana Bastos e Renilda Barreto Lisboa e Rio de Janeiro, Julho de 2011.
Referncias bibliogrficas:
Anderson, Warwick, ed. 2002. Special Issue Postcolonial Technoscience. Social Studies of Science, 32 (5/6).
Anderson, Warwick. 1998. Where is the postcolonial history of medicine?. Bulletin of the History of Medicine, 72(3): 522-530.
Arnold, David, ed. 1988. Imperial Medicine and Indigenous Societies. Oxford: Oxford Univ. Press.
Arnold, David. 1993. Colonizing the body. Berkeley: Univ. of California Press.
Introduo
21
Bastos, Cristiana, Luiz Otvio Ferreira, e Tnia Maria Fernandes, eds. 2004. Nmero Especial Saberes Mdicos e Prticas teraputicas nos Espaos de Colonizao Portuguesa. Histria, Cincias Sade Manguinhos, 11 (suplemento 1).
Bastos, Cristiana, Miguel Vale de Almeida, e Bela Feldman-Bianco, eds. 2002. Trnsitos Coloniais. Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais.
Bhattacharya, Sanjoy, e Neils Brimnes, eds. 2009. Special Issue Reassessing Smallpox Vaccination, 1789-1900. Bulletin of the History of Medicine, 83(1).
Carvalho, Clara, e Joo de Pina-Cabral, eds. 2004. A Persistncia da Histria: Passado e Contemporaneidade em frica. Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais.
Cooper, Frederick, e Ann Laura Stoler, eds. 1997. Tensions of Empire: Colonial cultures in a bourgeois world. Berkeley: University of California Press.
Digby, Ann, Waltraud Ernst, e Projit Muhkarji, eds. 2010. Crossing Colonial Historiographies: Histories of Colonial and Indigenous Medicines in Transnational Perspective. Newcastle: Cambridge Scholars.
Feldman-Bianco, Bela, ed. 2001. Special Issue Colonialism as a Continuing Project: The Portuguese Experience. Identities: Global Studies in Culture and Power, 8(4).
Hackett, Edward J., Olga Amsterdamska, Michael Lynch, e Judy Wajcman, eds. 2008. The Handbook of Science and Technology Studies Third Edition. Cambridge, MA: MIT Press
Jasanoff, Sheila, Gerald E. Markle, James C. Peterson, e Trevor Pinch, eds. 1995. The Handbook of Science and Technology Studies. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Labanyi, Jo, e Ross Foreman, eds. 2005. Special Issue Competing Colonialisms: the Portuguese, Spanish and French Presence in Asia. Journal of Romance Studies, 5(1).
Latour, Bruno. 1987. Science in Action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
MacLeod, Roy, e Milton Lewis, eds. 1988. Disease, medicine, and empire : perspectives on Western medicine and the experience of European expansion. London: Routledge.
Nunes, Joo Arriscado, e Maria Eduarda Gonalves, eds. 2001. Enteados de Galileu? A Semiperiferia no Sistema Mundial da Cincia. Porto: Afrontamento.
Nunes, Joo Arriscado, e Ricardo Roque, eds. 2008. Objectos Impuros: os estudos sociais da cincia em Portugal. Porto: Afrontamento.
Raj, Kapil. 2007. Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900. New York: Palgrave Macmillan.
Roque, Ricardo, e Kim Wagner. eds. 2011. Engaging Colonial Knowledge. London: Palgrave MacMillan.
-
A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios
22
Santos, Boaventura Sousa. 2002. Colonialism, Postcolonialism, and inter-identity. Luso-Brazilian Review, 39(2): 9-43.
Stoler, Ann Laura. 1995. Race and the education of desire. Durham: Duke Univ. Press.
Stoler, Ann Laura. 2002. Carnal knowledge and imperial power. Berkeley : Univ. California Press.
Stoler, Ann Laura. 2009. Along the Archival Grain. Princeton: Priceton University Press.
Thomaz, Omar R. 2002. Ecos do Atlntico Sul. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
_______________ Nota sobre a ortografia: Os textos dos captulos mantm a ortografia escolhida pelos autores, reportando-se s variantes do portugus em vigor no Brasil ou em Portugal anteriores ao acordo ortogrfico. O texto da introduo segue a norma vigente em Portugal.
Parte I A escrita e o trnsito
do conhecimento mdico
-
Cristiana Bastos. 2011. Corpos, climas, ares e lugares: autores e annimos
nas cincias da colonizao. A Circulao do Conhecimento: Medicina, Redes e Imprios, org. Cristiana Bastos e Renilda Barreto. Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais, 25-58.
25
Captulo 1
Corpos, climas, ares e lugares: autores e annimos nas cincias da colonizao Cristiana Bastos
Resumo
Neste artigo estudamos a circulao dos conhecimentos biomdicos nos espaos coloniais luso-asiticos e luso-africanos da segunda metade do sculo XIX. Menos que um efeito de difuso a partir de centros europeus de produo de conhecimento para periferias remotas que os consomem em diferido e cpia diluda, encontramos um complexo de redes onde ocorre o trnsito e a produo de saberes, prticas, certezas, dvidas, polmicas, programas, subjugaes. Nesse contexto, diversos agentes de sade colonial produzem documentos que se articulam com fluxos maiores sobre as questes prementes para a biopoltica nas colnias seja na preservao da vida dos europeus, seja na gesto das populaes locais. Dando maior ateno s discusses oitocentistas sobre ares, lugares e aclimatao dos corpos, abordaremos diversas personagens a que propomos chamar autores/annimos no para os trazermos do anonimato do arquivo celebridade da publicao, mas para realar a posio estrutural nas amplas teias que constroem e os constroem. Palavras-chave: Medicina Colonial; Aclimatao; Goa; frica.
A circulao do conhecimento: autores, annimos e hbridos
Produtos e produtores
Este artigo tratar de produtos de conhecimento e dos seus produtores, utilizadores, veculos; o recorte temporal o da segunda metade de XIX, com algumas extenses, e o espao de referncia o complexo de redes que, articulando colnias, metrpoles e outras paragens nodais e intermdias, proporciona o trnsito e a produo de saberes, prticas, certezas, dvidas, polmicas, programas,
-
Cristiana Bastos
26
subjugaes.1 Nesse denso emaranhado daremos destaque ao que acontece nalguns postos coloniais asiticos e africanos de administrao portuguesa, cujos elos com Lisboa embora salientes e notveis no esgotam as suas conexes.
Os produtos de conhecimento a que nos referimos incluem teorias cientficas e um conjunto de ideias que no cabem propriamente nessa categoria, j que nem sempre chegam a ser validadas, legitimadas e consolidadas para uso universal. Fazem contudo parte do repertrio cognitivo que enforma as prticas de quem poca se movimenta nas frentes da sade colonial. Desse conjunto destacarei as questes relativas sade dos corpos em deslocao e as propostas para melhor aclimatizar os europeus aos ambientes tropicais.
Os produtores de conhecimento a que me refiro so todos mdicos, falam portugus e nalgum momento das suas vidas so funcionrios coloniais. nessa condio que escrevem relatrios, comentrios, folhetos e livros que nos permitem aceder aos modos como utilizam, produzem e fazem circular elementos cognitivos sobre sade, tratamentos, administrao do corpo, adaptao dos corpos a climas diferentes daqueles que os moldaram no nascimento e crescimento. No conjunto dos seus escritos renem-se compilaes estatsticas, recomendaes, relatrios sanitrios e reflexes gerais de contedo sociolgico, antropolgico e poltico.
Sendo estes autores mesmo que temporariamente funcionrios do servio de sade colonial, administrao portuguesa que respondem, e em Lisboa que se situa o centro de onde emanam as ordens e decises que enformam as suas escolhas dirias e as limitaes quotidianas que experimentam ao servir nos postos mais ou menos remotos de frica e sia.
1 Este texto foi originalmente apresentado no simpsio Imprios, centros e periferias: a circulao do conhecimento mdico (ICS, Lisboa, 21 de Janeiro de 2010), no mbito do projecto do mesmo nome (ref. HCT/PTDC/HCT/72143/2006). Na fase final de anlise e redaco este artigo inseriu-se na investigao sobre a Academia de Cincias e Sociedade de Geografia de Lisboa no mbito do projecto SOCSCI Sociedades Cientficas na Cincia Contempornea (ref. PTDC/CS-ECS/101592/2008).
Corpos, climas, ares e lugares
27
Lisboa, no entanto, no mais o entreposto cosmopolita por onde no passado transitavam matrias e bens cotados nos mercados europeus; to pouco fonte de ideias, procedimentos, modas e modelos a seguir por outros. Pelo contrrio, em meados de XIX a capital portuguesa lugar de constantes mudanas, indecises, contra-decises, reformas e transformaes que afectam quem governa e quem governado e ajudam a cavar o fosso entre a dinmica poltica local e as circundantes, sobretudo na dinmica de imprios concorrentes. Portugal est no contrafluxo da independncia do Brasil, ocorrida em 1822, e de um ciclo de estrangulamentos que incluem a ocupao francesa, a presena inglesa e, de um modo geral, o acabar de uma poca de opulncia que se sustentava num imprio de predao, escravatura e plantao.
No sculo XIX o pas est dividido em faces e consome-se em tumultos polticos, guerras civis, revoltas, gerando considerveis mudanas estruturais que envolveram a extino das ordens religiosas com a secularizao das suas inmeras propriedades e a ascenso ao poder de novas camadas aristocrticas e burguesas.
O vrtex poltico nacional no impede que alguns cidados circulem por outros espaos geogrficos e cientficos; que os mdicos e cientistas portugueses adoptem novas ideias e prticas desenvolvidas noutros lugares, ou tentem eles mesmo contribuir para o projecto iluminista de consolidao da cincia; que experimentem, que circulem, que tentem divulgar. Ainda assim, tudo parece acontecer num quadro poltico que no promove, como regra, a pesquisa e a apresentao de resultados. Tudo se passa como se as contribuies individuais fossem devoradas num grande fundo de constante mudana e alternadas dificuldades, ficando por sistematizar num corpo maior as iniciativas, achados e reflexes de cada um.
Tomemos dois exemplos de mdicos em circulao no imprio: Antnio Jos Lima Leito (1787-1856) e Agostinho Vicente Loureno (1826-1893). Lima Leito, o da vida acidentada (Figueiredo 1961) nasce em Lagos e a obtm formao prtica de cirurgia; a, tambm, incorporado coercivamente nas tropas francesas que ocuparam Portugal, em 1808; serve como cirurgio do
-
Cristiana Bastos
28
lado franco-espanhol nas guerras napolenicas, integrado na ala portuguesa sob comando de Junod. Findas as campanhas segue para Paris, onde estuda medicina, adere ao liberalismo e maonaria, e ainda se dedica s artes literrias. Escreve odes aos generais ingleses e tenta regressar a Portugal, mas, visto como traidor, mal acolhido. Parte para o Brasil, procura uma posio na corte e consegue o impossvel: no apenas o perdo real, mas o lugar de mdico pessoal de D. Joo VI. nomeado fsico-mor de Moambique (1816-1818) e mais tarde da ndia (1821). Envolve-se em poltica em Goa, toma a causa liberal, acaba por ser eleito em 1823 junto com os goeses Bernardo Peres da Silva e Constncio Roque da Costa para representar a ndia nas cortes, mas estas so entretanto dissolvidas. A poltica devora-o mas regressa sempre medicina, poesia, ao jornalismo, traduo literria e cientfica; a partir de 1825 torna-se professor de clnica mdica na Escola Mdico-Cirrgica de Lisboa; adere homeopatia, traduz Hahnemann, tenta introduzir o seu ensino em Portugal, no que vetado por Bernardino Antnio Gomes; mdico de polticos influentes e influente ele mesmo, com muito inimigos e amigos, com glosas ao absolutismo e ao liberalismo, esquerda e direita. Nesta intensa actividade poltica e neste seu modo de fazer, criar e representar, no houve muito espao para alimentar o engenho mais amplo de consolidao do saber cientfico Lima Leito circula muito e faz circular muito conhecimento mdico, aventura-se a usar e experimentar, mas no assina obra cientfica que perdure.
Mais prximo do aparelho de produo cientfica da Europa est o gos Agostinho Vicente Loureno. Filho das elites bramnicas crists que constituram a maioria dos alunos e professores da Escola Mdica de Goa (Bastos 2010a; 2010b), esteve entre a primeira das suas classes regulares, iniciada em 1842 e diplomada em 1846 (Costa 1957; Bastos 2007b). Aps atribulaes mal conhecidas, trocou uma possvel permanncia na Escola de Goa pelo aprofundar dos seus estudos mdicos em Portugal, com uma bolsa goesa; mas em Lisboa consegue uma bolsa suplementar e ruma a Paris. Frequenta os laboratrios europeus de referncia, circula pela Frana, Alemanha e Inglaterra, e especializa-se em
Corpos, climas, ares e lugares
29
qumica. nessa disciplina, em particular no estudo qumico das guas termais, que vai alcanar maior renome. Regressando a Lisboa em 1861, integra a Escola Politcnica e rege a cadeira de qumica. Desenvolve inmeras pesquisas ao longo da sua carreira, algumas das quais seguindo pistas falsas, outras acertando na justa proporo entre a conformidade ao cnone estabelecido e a introduo de novos dados e achados, que publica em canais prprios (Loureno 1861; 1863; 1865; 1866; 1865-6; 1867; 1878). O seu percurso pessoal manteve-se estruturado pelo trabalho de investigao cientfica e pouco se rendeu poltica.
Mas tanto Lima Leito como Agostinho Vicente Loureno, circulando entre vrias metrpoles europeias, vrios laboratrios e vrios lugares da administrao colonial, da poltica e do ensino, parecem ter percursos moldados por circunstncias que se vo fazendo aparecer e das quais vo saindo ou no , como que por casualidade, alguns produtos que ora ficam para a posteridade enquanto contribuies cientficas, ora se perdem nos vastos espaos do no-reconhecimento.
Metrpoles e colnias
Convm relativizar a importncia dos lugares coloniais e do prprio projecto de imprio para Portugal no sculo XIX: as colnias no so ao tempo prioridade para os governos e to pouco se constituem como cenrio apetecvel para o comum cidado. Pelo contrrio, so ainda vistas como lugar de febres, perigos e contaminaes que corrompem os corpos e devoram as vidas de quem l chega; servem de fundo longnquo para onde se enviam degredados; os poucos que escolhem l viver fazem-no numa lgica de progresso de carreira ou oportunidade para negcios de algum risco, muita aventura e pouco controle legal.
O interesse portugus por frica enquanto territrio, para alm de vago lugar de angariao de escravos, s verdadeiramente desperta no contexto da conferncia de Berlim (1884-5) quando as
-
Cristiana Bastos
30
naes europeias repartem entre si os territrios africanos;2 e s se torna causa patritica aps a chamada humilhao do ultimatum britnico, isto , quando Portugal se confronta com a indigncia dos seus conhecimentos e da sua presena nas terras que reclamava como suas e a que outros tambm aspiravam.
Quanto sia, h muito era patente o descompasso entre, por um lado, a administrao do pequeno territrio do Estado da ndia (composto por Goa, Damo e Diu) e tambm dos entrepostos na China (Macau) e Ocenia (Timor), e, por outro lado, as inciativas britnicas que faziam do Raj o modelo de dominao imperial. Comparativamente, a administrao colonial portuguesa da ndia no sculo XIX mais parecia uma representao burlesca ou, nas palavras de Pearson (1987), opera buffa. Talvez esse efeito exprima, ou esconda, algo mais que a pura decadncia imperial antes uma comdia de equvocos em que cada grupo assegura a sua prpria influncia poltica enquanto vai reiterando a do outro em rituais, palavras e frmulas.3
Em suma, nos entrepostos de colonizao est-se bastante longe da aco que mobiliza os interesses dos polticos portugueses da poca: nem o pas est atento s colnias, nem estas se organizam nas dinmicas imperiais que se desenvolvem nos espaos circundantes de frica e sia. A geopoltica mundial e colonial do sculo XIX definitivamente no tem em Lisboa um centro de relevo. nesse contexto, longe da aco que mobiliza a poltica, distante das influncias que moldam destinos e rumos, fundam instituies e fomentam transformaes, que os nossos agentes de sade se encontram: alienados de uma capital distante, por sua vez longe e alienada das grandes tomadas de deciso.
2 Desde 1875, sob o impulso da Sociedade de Geografia de Lisboa, Portugal tenta entrar na corrida de reconhecimentos do interior africano com exploradores. As viagens ao interior por Serpa Pinto, Capelo e Ivens mas tambm a de Ferreira Ribeiro a Ambaca comeam em 1877. 3 Esta questo merece um desenvolvimento separado e j a explorei noutros lugares (Bastos 2009; 2010a; 2010b). Para uma obra de flego histrico sobre as complexidades e interdependncias sociais na histria de Goa, veja-se Xavier (2007); para uma abordagem a esta questo no mbito de Macau, veja-se Pina-Cabral (2002).
Corpos, climas, ares e lugares
31
Dos pontos remotos
Estaramos porm muito distantes de entender a posio dos nossos autores nos circuitos globais de produo de conhecimento se nos limitssemos a v-los localizados nas periferias das periferias, isto , nos incipientes postos africanos e asiticos de um imprio em desagregao, como acontecia na ndia, ou por construir, como acontecia em frica. Muito pelo contrrio, devemos entend-los enquanto elementos de amplas redes transnacionais, transcoloniais, translingusticas, se quisermos atravs das quais circulam os conhecimentos sobre corpo, sade, medicina, teraputicas, climas, ares, lugares, contaminaes, relaes e elos de causalidade. So como observadores e naturalistas improvisados que, no quotidiano da clnica e administrao da sade pblica, mobilizam todos esses conhecimentos; que lem livros e artigos cientficos em vrias lnguas europeias e por vezes dominam as lnguas locais; que interpretam o que vem, cifram-no em portugus, produzem testemunhos que por um lado nos permitem chegar com detalhe etnogrfico s realidades a que se referem e por outro nos ajudam a conhecer quem escreve a partir dessas margens.
Poucas vezes conseguimos traar directamente as rotas por onde circulam essas ideias, mas sabemos dos efeitos que vo causando e das formas que vo tomando. No descem, imutveis, a escada que vai do centro de produo para as periferias da utilizao com regularidade lenta da mancha de leo de Basalla (1967); invertem por vezes o caminho, sem que todavia se esgotem no nexo Latouriano entre pontos de recolha e centros de clculo (Latour 1987); reinventam as articulaes de metrpole e lugar distante, de metrpole em movimento (MacLeod 1980); circulam em vias mltiplas, mas nem por isso livres de constrangimentos e hierarquias, longe portanto da liberdade do rizoma (Deleuze e Guattari 1980) que nos ltimos anos reingressou ao lxico da anlise social.
Nesses caminhos multi-direccionais de circulao de saber constituem-se ndulos, barreiras, dificuldades; constituem-se fronteiras isolando o que mero saber e o que cincia, definindo as trajectrias possveis e os lugares de legitimao, que fazem com
-
Cristiana Bastos
32
que escrever e contar em Sofala, ou em Goa, ou Momedes, no valha o mesmo que faz-lo em Lisboa, que por sua vez no vale o mesmo que faz-lo em Paris.
No seu todo, o cenrio de circulao de ideias inscreve-se em hierarquias de lugares mas no se cinge aos seus rgidos canais de subordinao de uma metrpole e seus remotos satlites, ou de um centro de clculo/acumulao e seus postos de recolha de dados. Os nossos autores nos postos de sade colonial no se limitam a recolher e enviar para um centro o que recolhem no local, mas processam o conhecimento e mobilizam-no de imediato para a aco.
As nossas personagens sabem que no esto na posio ideal para fazer passar ao estado de cincia os saberes com que lidam no quotidiano, que vo afinando, ajustando e empiricamente testando na medida das suas limitaes as quais, alis, nunca deixam de mencionar. No entanto, a sua relativa marginalidade no os cerceia de discorrer, pensar e escrever sobre o que acham relevante e pertinente para promover a sade e bem desempenhar as suas funes. Nas suas notas e relatrios, ocasionais opsculos, artigos e livros, podemos encontrar o estado da arte mobilizado para a prtica, como que um retrato em movimento da cincia em aco, num cenrio de trnsitos assimtricos em que dos livros e artigos emanam fluxos de princpios, frmulas e narrativas criadas em lugares de melhor posio nas redes e ns de validao do conhecimento; da prtica emergem novas formaes, complexidades e fluxos que dificilmente se afirmam para l do local e circunstancial, de to entrelaadas se encontram as hierarquias politicas e as hierarquias de afinao e credenciao dos saberes.
Nalguns raros casos de auspiciosa conjugao de tenacidades individuais e condies materiais romperam-se barreiras e inverteram-se circuitos, sendo um bom exemplo os artigos de parasitologia publicados em revistas internacionais de renome pelo mdico gos Froilano de Melo, compilados noutra ocasio (Bastos 2008a); j os escritos dos seus conterrneos mesmo abundantes como os de Germano Correia (Bastos 2003; 2005), ou radicalmente inovadores como os de Joaquim Vs (Roque 2004) raramente passavam da
Corpos, climas, ares e lugares
33
esfera local e muitas vezes no chegavam sequer a ser impressos (Bastos 2004a; 2007b). A confirmar a dinmica de publicao em Goa, que alis se d em todos os planos medico-cientfico, literrio, jornalstico (Castro 2010; Passos 2010) esto as inmeras revistas de medicina e farmcia que se publicam desde o sculo XIX e que culminam nos sofisticados Arquivos Indo-Portugueses de Medicina e Histria Natural, publicados anualmente entre 1924 e 1927, e nos famosos Arquivos da Escola Mdico-Cirrgica de Nova Goa, iniciados em 1927 e regularmente publicados at 1960, com ocasionais suplementos. Pouco sabemos, porm, sobre o impacto dessas revistas fora de Goa e das conexes directas dos mdicos goeses com Portugal, com as colnias africanas lusfonas, com o Brasil e com a ndia anglfona.
Autores e annimos
De uma forma geral, estes praticantes e produtores de conhecimento no tm lugar na histria convencional da medicina; no constam da grande narrativa de feitos, descobertas e heris assente em cronologias lineares e pontuada por descobertas. To pouco esto diludos numa estrutura de foras sociais e polticas em que no h espao para agncia, iniciativa e individualidade. Esto algures no meio destes dois extremos: so os que praticam a medicina, utilizam o conhecimento e produzem-no nas circunstncias dirias da clnica, da sade pblica e da prestao de contas ao poder poltico. Usam e reformulam o conhecimento, testam-no e validam-no pela prtica. No sendo figuras lendrias da medicina, nomes de rua ou quadros em galerias de famosos, to pouco so annimos genricos intercambiveis com qualquer outro dos seus contemporneos. Tm nome, escrevem, pensam, criam; so produtores de conhecimento sem reconhecimento, inventores sem consagrao, utilizadores que na sua prtica testam e modificam o conhecimento circulante. Em sntese, ultrapassam a contradio autor/annimo: so ambos.
Nome-los no consiste propriamente em tir-los do anonimato para os trazer ribalta de autores consagrados, colmatando uma injustia histrica ou abrindo um escalo para autores secundrios
-
Cristiana Bastos
34
com dfice de reconhecimento. Trata-se antes de deslocar os termos de anlise da produo e circulao de conhecimento e dar ateno a esta categoria de hbridos, entidades de transio, semi-autores, semi-annimos. Autores porque escreveram, nalguns casos publicaram e influenciaram, ou tentaram influenciar, o conhecimento geral e as polticas especficas. Annimos, tambm, escondidos em coleces obscuras, em relatrios e manuscritos que nunca passaram imprensa, em lugares de influncia limitada como Portugal e as colnias de administrao portuguesa em tempos de hegemonia de outras lnguas, culturas e imprios.
assim que, apesar de me ter formado numa tradio de etnografia que se fazia com pseudnimos e vivia de informantes genricos, e de ter desenvolvido o gosto por uma histria social que prefere contextos e estruturas a nomes e eventos, vou aproximar-me de um registo biogrfico e abordar alguns autores e personagens mdicas.
Na seco seguinte apresentarei o pouco conhecido terico da aclimatao e colonizao que foi o mdico portugus Manuel Ferreira Ribeiro (1839-1917). Reunirei depois, na seco intitulada No Quase Anonimato do Servio de Sade Colonial, todo um conjunto de autores que raramente publicaram, ou nunca o fizeram, mas escreveram abundantes relatrios e comentrios enquanto administradores e tcnicos dos servios de sade nas colnias portuguesas no sculo XIX e incio de XX. Estes autores permitiram-se, nesse gnero literrio, desenvolver, debater, promover ou rebater as teorias que ento circulavam e que eles faziam circular sobre a aclimatao dos corpos, colonizao, raa, deslocamento, adaptao, poder, cultura, sade. O seu estilo cru e directo transporta-nos ao mundo das ideias e prticas em que se movimentavam nas periferias distantes dos postos de sade colonial que ocupavam na ndia, em Moambique, em Angola, onde se constituam enquanto rplicas dos centros de referncia e se envolviam em negociaes dirias com as formaes cognitivas e polticas que de modos mltiplos os desafiavam, os contradiziam ou os convidavam.
Corpos, climas, ares e lugares
35
Manuel Ferreira Ribeiro e as cincias da colonizao
Percursos fora da glria
Nascido em Rebordes, Porto (25/1/1839), escolarizado em teologia e formado na Escola Mdico-Cirrgica dessa cidade, Manuel Ferreira Ribeiro serviu em vrias misses sanitrias em frica e envolveu-se em mltiplas actividades pedaggicas, cientficas e polticas dedicadas promoo da colonizao; foi fundador e editor do jornal Colnias Portuguesas, autor de manuais de higiene e preceitos para a boa colonizao, advogou a educao dos colonos e a adopo de critrios cientficos no seu recrutamento e distribuio pelos territrios. No so muitas as notas biogrficas a seu respeito (Rita-Martins 1954; Pina 1959; Cantinho 2005; 2008); no se tornou figura central na histria da medicina nem obteve em vida um reconhecimento pblico compatvel com a sua intensa actividade, morrendo em Lisboa (16/11/1917) sem os meios necessrios para cobrir as despesas do prprio funeral. Desse declnio testemunha o famoso mdico Thomaz de Mello Breyner (Conde de Mafra, mdico do rei, figura ilustre e lembrado pela generosidade de carcter), que em Junho de 1908 se depara com o seu antigo mestre Manuel Ferreira Ribeiro beira da misria, diabtico e sem dinheiro. Mello Breyner fica chocado e com vontade de repor a justia em tal estado de coisas, pois, como nota: quando aos 16 anos nada tinha, esse varo leccionou-me de graa. Devo-lhe a minha carreira (Breyner 2004, 78).4
Os caminhos percorridos por Manuel Ferreira Ribeiro, pioneiros, visionrios ou simplesmente fora de poca, no lhe trouxeram reconhecimento e glria pessoal. Ficou esquecido e de certo modo abandonado, como ficaram, tambm, os seus escritos, remetendo-se a uma espcie de beco sem sada da histria do conhecimento. O seu autor no est no panteo das celebridades est precisamente na penumbra a que dedicamos este artigo. 4 No se sabe se o Conde de Mafra tomou as diligncias que propunha ou se o seu universo de influncia se reduz com as mudanas de regime que se seguiram, que incluram o Regicdio em 1908 e a implantao da Repblica em 1910.
-
Cristiana Bastos
36
Colonizao enquanto migrao
Ferreira Ribeiro dedica causa da colonizao a maioria dos seus esforos enquanto investigador, divulgador, autor e editor. Prope-se aperfeioar a cincia da colonizao em campos mltiplos que envolvem no apenas especialidades mdicas como tambm a sade pblica, higiene, poltica colonial, antropometria e antropologia. Note-se, porm, que no lxico de Ferreira Ribeiro colonizao no equivale ao modelo de dominao poltica que marcaria o futuro das relaes Europa-frica, a qual viria a desdobrar-se num ciclo de imprios coloniais com centros nas naes europeias, seguido de lutas nacionalistas africanas, de processos de descolonizao, e finalmente de formao de blocos neocoloniais que privilegiam as relaes culturais, comerciais, sanitrias e cientficas entre membros de comunidades transnacionais com lngua oficial comum a Commonwealth, a Francophonie, a Lusofonia.
O que estava em causa, para Manuel Ferreira Ribeiro, no era propriamente o lanamento das bases de um imprio colonial em frica ou a proposta sobre as melhores maneiras de conquistar, dominar, assenhorear ou influenciar os povos africanos numa situao de concorrncia entre potncias europeias. A colonizao a que este autor dedica quase toda a sua obra a cincia da boa criao e desenvolvimento de colnias, entendendo-se por colnias a implantao, em novos locais, de populaes provenientes de pontos geogrficos diferentes.5
5 No manual de Cincia da Colonizao de Loureno Cayolla (1912a; 1912b), professor da Escola Colonial, as colnias so definidas como novas sociedades que caminham para um estado perfeito de civilizao, fundadas por uma nao dominadora e submetidas por ela a um regmen particular, sob a sua administrao (Cayolla 1912a, 2). A nfase dada s sociedades, mais que aos territrios. J no manual de Higiene Tropical publicado quase duas dcadas depois por Rita-Martins, tambm professor da Escola Colonial e da Faculdade de Medicina, as colnias so enumeradas uma a uma com referncia geogrfica, mas o alvo a que se destinam os preceitos de higiene, os corpos e a sade a preservar so os dos colonos portugueses (Rita-Martins 1929).
Corpos, climas, ares e lugares
37
O que o preocupa e motiva o sucesso das aventuras de deslocamento e relocalizao das comunidades humanas, a sobrevivncia dos seus corpos aos deslocamentos, aos desafios dos novos lugares, s ameaas dos ares que corrompem e dos climas que degeneram os corpos e mentes. Preocupa-o a sade dos europeus nos climas quentes; motiva-o a criao de comunidades de raiz, transplantadas, ou replantadas, enfim, deslocadas de um lugar original na Europa para lugares to cheios de desafios para o corpo como eram os trpicos. Guia-o o sucesso das sociedades de matriz europeia desenvolvidas na Amrica do norte e na Austrlia, modelos alheados dos destinos e direitos das populaes indgenas, exclusivamente centrados na sobrevivncia e bem-estar das comunidades europeias deslocadas.
Nas muitas formaes sociais que se desenvolvem na frica colonial, por entre sociedades de hierarquia racializada, sociedades mestias, de deslocados, de resistentes, tambm os enclaves brancos (Kennedy 1987) se desenvolveram enquanto utopias de replantados e aclimatados que recortavam o universo sua medida (Jennings 2006). Era esse lado da colonizao que Manuel Ferreira Ribeiro tinha em mente e a que dedica tantos dos seus escritos. Os modos de controlar, exterminar, salvar, redimir, educar ou civilizar as populaes indgenas continuariam a constituir o cerne de todo um corpo doutrinrio, ideolgico e mesmo terico; a Ferreira Ribeiro interessavam outros aspectos da colonizao.
Colonizao seria, portanto, uma variante de migrao, algo intrnseco condio humana, cuja histria se fez de grandes movimentos pela terra e pelos mares. Concomitante a essas deslocaes estaria a disposio dos organismos para alguma transformao adaptativa em funo das condies do novo meio: a aclimatao, ou aclimao, na frmula preferida por Ferreira Ribeiro. Quando publica as suas Regras e Preceitos de Higiene Colonial, ou conselhos prticos aos colonos e emigrantes que se destinam s nossas colnias do ultramar, por conta do Ministrio da Marinha e Ultramar, Manuel Ferreira Ribeiro descreve-se como chefe da seco de aclimao, material e estatstica medica (Ribeiro 1890b).
-
Cristiana Bastos
38
Como mostra Michael Osborne (1994), muitas das discusses cientficas do sculo XIX, incluindo as teorias de evoluo lamarckianas e darwinianas, eram variantes da questo da aclimatao das espcies, vegetais ou animais. Os jardins botnicos e zoolgicos das cidades europeias eram mostras de espcies exticas aclimatadas; a colonizao era, em reverso, a proposta de aclimatar as espcies europeias a outros lugares. As discusses prolongavam-se para a espcie humana, gerando abundante literatura especfica. Mark Harrison (1999) desenvolve e aprofunda os nexos entre clima e constituio fsica a propsito da governao imperial britncia.
A cincia da colonizao era assim o estudo das condies e variveis implicadas no sucesso das novas colnias; nelas se inclua o bom conhecimento do corpo e da sua maleabilidade, o adequado conhecimento dos lugares para onde se migrava e estabelecia uma colnia, o bom adestramento das componentes e funes corporais de forma a gerir uma adaptao apropriada, isto , a aclimao ao novo meio. No sculo XIX, enquanto se instalava o racialismo que os instrumentos da antropologia fsica ajudaram a consolidar (R. Roque 2001; Santos 2005; Matos 2006), circulavam ainda com vigor as ideias de plasticidade humana e acreditava-se que os organismos transplantados para os trpicos e lugares quentes em geral tendiam a degradar-se, corromper-se, em suma, degenerar. E era nesse esprito combinado de racismo e plasticidade que os ingleses viam os portugueses da ndia como negros que pouco se distinguiam dos mais escuros entre os nativos.
Colonizao e imprio: frica
A colonizao e aclimatao que obcecavam Ferreira Ribeiro no eram apenas questes tericas para debater nas torres de marfim das sociedades cientficas e universidades. Pelo contrrio, tinham um contexto especfico para imediata aplicao: a frica na sequncia da abolio da escravatura e no ambiente poltico de disputa europeia pelo controle dos seus territrios. nas duras condies de So Tom e Prncipe, lugar de plantaes, mosquitos e malria, que inicia as suas actividades de mdico colonial: nomeado em 1869; de 1871 a 1877 o responsvel pelo Servio de
Corpos, climas, ares e lugares
39
Sade nessa colnia. Em 1877 vai para Angola integrando a expedio de estudos do caminho-de-ferro em Ambaca, onde estabelece (e alcana) como meta no deixar nem um dos seus companheiros de viagem sepultado s febres palustres (Pina 1959, 13). Depois de regressar a Lisboa, integra-se em vrias actividades ligadas promoo da colonizao na Direco-Geral do Ultramar e na Sociedade de Geografia de Lisboa; escreve manuais e artigos doutrinrios, faz o curso de letras, dedica-se ao jornalismo e f-lo com maior empenho no jornal Colnias Portuguesas, do qual tambm proprietrio em conjunto com o seu irmo Antnio Augusto. Alguns dos manuais que publica saem do seu prprio bolso (Pina 1959, 16).
Volta a permanecer em So Tom entre 1892 e 1988, regressando a Angola em 1901 para integrar a misso vacnica. Dedica-se a vrias outras frentes do desenvolvimento do saber: antropometria, frenologia, e estudos de higiene e medicina tropical.
Ferreira Ribeiro precursor a muitos ttulos na formulao dos problemas, na antecipao das questes e na sua paixo pela causa colonial em frica, num momento em que no pas pouco se conhecia daquele continente. At meados do sculo XIX, os portugueses pouco sabiam do que se passava para alm das costas onde mantinham fortalezas, entrepostos e remanescentes do trfico escravo que alimentou as plantaes do Brasil. Tanto podiam ser desertos trridos como florestas impenetrveis, montanhas nevadas, extensos lagos ou savanas de caa. Ningum l tinha ido a servio do estado, tomando notas, medindo, escrevendo, contando e trazendo de volta esse conhecimento instrumental. Os portugueses que se aventuravam ao interior poucas vezes o faziam em representao do estado.6 A presena portuguesa em frica tinha-se limitado quase exclusivamente a contactos no litoral. Nalguns casos, dotados de instrues para proceder a recolhas e
6 Ferreira Ribeiro, quando se dedica a criticar Serpa Pinto, enumera alguns dos que o antecederam e no tiveram reconhecimento: Estes audaciosos coraes encontraram dignos mulos nos modernos viajantes e exploradores entre os quais figuram: Lacerda, Gamito, Monteiro, Silva Porto, Graa, Magyar, Brochado, etc. (Ribeiro 1879, 809).
-
Cristiana Bastos
40
levantamentos sobre todos os reinos da natureza e costumes indgenas, na linha do que vinha a ser promovido pela Academia das Cincias de Lisboa, alguns funcionrios locais procediam a levantamentos e mesmo a remessas de espcies para a metrpole; mas faziam-no isoladamente, pontualmente, custa de um esforo pessoal de rigor que tinha poucas contrapartidas e no era sistematicamente apoiado pelo estado, o qual subitamente aparecia quando precisava de compilar dados para exibir em exposies internacionais.7
Com base em privilgios de antiguidade e conquista os portugueses propunham-se tutelar vastas regies, mas mal as conheciam e menos ainda controlavam. Veja-se o famoso episdio do mapa cor-de-rosa, apontado na narrativa nacionalista como exemplo de usurpao pelos ingleses. Estava em causa uma vasta faixa de territrio entre a costa de Angola, a oeste, e a costa de Moambique, a leste, a que Portugal se arrogava direitos, entrando em conflito com a pretenso britnica a outra ainda mais vasta faixa unindo o Cairo, a norte, e a Cidade do Cabo, a sul. Embora a Sociedade de Geografia se esforasse por enviar exploradores ao que Ferreira Ribeiro chegou a chamar a provncia de Angolo-Moambique (Ribeiro 1879, 860), a pretenso assentava sobretudo numa fantasia imperial que no conseguiu mobilizar a necessria produo de conhecimento sobre o territrio. As expedies promovidas pela Sociedade de Geografia foram alvo de muitas crticas por parte de Ferreira Ribeiro (1879). Aquela que mobilizou Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens s parcialmente trouxe resultados; a sua diviso em duas em que o trilho de Capelo e Ivens se manteve fiel ao plano original de reconhecimento de bacias hidrogrficas e o de Serpa Pinto continuou pelo sul com rumo outra costa assinala alis modos diferentes de reconhecer o territrio e a ausncia de uma poltica sistemtica e dirigida. Ferreira Ribeiro escreveu um volume de centenas de pginas de crtica e
7 Explorei brevemente este assunto a propsito da publicao de um tratado de medicina entre os cafres (Bastos 2004b; 2007a), assente em compilaes preliminarmente estudadas por Ana Roque (2001), pesquisadora que actualmente desenvolve novos projectos sobre a temtica.
Corpos, climas, ares e lugares
41
anlise detalhada, onde no faltou uma quase obsessiva coleco dos recortes de jornais sobre o assunto, uma anlise minuciosa de todas as palestras que deu aps o regresso duas delas em Lisboa, uma em Paris e uma em Sheffield e ainda uma cartografia completa com os trajectos da viagem, apontando possveis erros (Ribeiro 1879). Louvava o feito de Serpa Pinto mas pedia mais, muito mais; afligia-o que ele no capitalizasse o conhecimento em prol da colonizao, identificando lugares, vias de acesso, culturas, formas de habitao e implantao, bem como os tipos de colonos a mobilizar.
Ferreira Ribeiro tem conhecimento directo dos desafios postos aos europeus em frica e vai buscar experincia a autoridade para as suas formulaes quanto boa sobrevivncia do colono. Disserta sobre o corpo humano, todos os seus elementos e funes, avaliando e propondo medidas para uma eficaz aclimao. As suas recomendaes incluem normas de vesturio, de alimentao, de bebida, de horrios, de ritmos de trabalho, de preceitos de limpeza e de promoo geral da sade. O seu lema promover a educao e disseminar a informao para garantir o sucesso do empreendimento colonial, que era basicamente o da boa sobrevivncia dos que nele participavam e das comunidades que formavam. Nos seus manuais proporcionava a colonos, futuros colonos e administradores os instrumentos cognitivos necessrios ao bom desempenho dos seus propsitos. Preocupava-o que, se no fossem seguidos estes preceitos, Portugal perdesse para as outras naes europeias a corrida a frica.
Dir-se-ia que Ferreira Ribeiro foi um visionrio que antecipou o que veio mais tarde a constatar-se: que os direitos simblicos sobre frica a que Portugal se intitulava eram frgeis e pouco contavam face aos critrios usados pelos outros europeus para definir as zonas de influncia de cada um. O que realmente podia fazer a diferena envolvia prticas cientficas, envolvia a produo e uso do conhecimento rigoroso dos lugares e uma boa avaliao daqueles que os deviam colonizar. Tornava-se imperativo conhecer bem os recursos e as caractersticas do territrio, incluindo clima, orografia, geologia, vegetao, fauna, grupos tnicos (a que curiosamente d
-
Cristiana Bastos
42
uma importncia secundria), e ajustar ao meio os recursos humanos da colonizao, isto , os colonos.
Mas foi em vo que apelou por legislao e polticas conducentes. A sua frente de trabalho seguiu outros caminhos, o da publicao de artigos e manuais que tero influenciado, na frente da administrao colonial, funcionrios e responsveis dos servios de sade (Ribeiro 1877; 1879; 1889; 1890a; 1890b). Divulgou o saber, p-lo disposio, e f-lo em tais termos de mincia e sistematizao que podem apenas ser concebidos como manifestos de intenes e de condies ideais.
S muito mais tarde, j o sculo XX ia adiantado, se aproximaram as polticas oficiais dos seus preceitos, alguns deles intemporais, outros tornados entretanto obsoletos. Foi assim que o rol dos heris do reconhecimento de frica, da colonizao, da pacificao, que inclui exploradores, guerreiros, polticos de Serpa Pinto, Capelo e Ivens a Antnio Enes e Mouzinho de Albuquerque deixou no esquecimento Manuel Ferreira Ribeiro.
No quase anonimato do Servio de Sade colonial
Na margem da autoria
Nas seces anteriores procedi aparentemente segundo um preceito acadmico devidamente codificado e ritualizado: resgatar um autor da obscuridade e propor o seu reconhecimento pblico, sublinhando a importncia, pioneirismo e originalidade das suas contribuies, eventualmente temperados pela singularidade da sua trajectria biogrfica, e porventura acompanhados de algumas hipteses para as razes sociais e polticas da dissonncia entre a dimenso e importncia da obra, por um lado, e a pouca notoriedade do autor.
Gostaria, porm, de acrescentar a esta aparncia algo que central e programtico para a nossa aproximao ao estudo social da cincia: contextualizar autor e obra numa teia de materialidades, poderes e pessoas que conectam, formulam e partilham ideias, e nas
Corpos, climas, ares e lugares
43
quais se desenham, tambm, constrangimentos, fracturas, agendas polticas.
Note-se que estou sobretudo interessada nestes ltimos aspectos. Em artigos anteriores tentei tirar da relativa obscuridade em que permaneciam os autores-mdicos goeses Froilano de Melo (Benaulim, Goa, 1887 So Paulo, Brasil, 1955) e Germano Correia (Panjim, Goa, 1888 Lisboa, Portugal, 1967) seguindo as estratgias tambm relativamente ritualizadas de compilao e anlise das suas obras, contextualizando-as na sua biografia e no horizonte poltico mais amplo (Bastos 2003; 2005; 2008a); neste texto abordo o polifacetado e produtivo Manuel Ferreira Ribeiro; e vou ainda analisar os escritos de personagens mais obscuras que, no se podendo facilmente identificar enquanto autores espera de reconhecimento, melhor nos ajudam a sair das limitaes da anlise centrada na autoria e a chegar circulao de ideias e materialidade das conexes que no apenas os unem mas, tambm, os constituem. Raramente chegando a verbetes de enciclopdia, estes autores-annimos eram cruciais para manter as continuidades e os nexos cognitivos e polticos que se estendiam entre a Europa e os territrios africanos e asiticos. Em parte asseguravam a ordem do estado, em parte lamentavam a ausncia dela. Testemunhavam o que se desenrolava perante a sua presena e tentavam decifrar essa realidade e traz-la para o entendimento do poder poltico, mesmo que este raramente desse resposta adequada. Por eles circulava o conhecimento disponvel aos mdicos da poca; tinham estudado nas escolas de medicina e cirurgia do reino, tinham aprendido o cnone, liam, reflectiam, interagiam com seus pares; reflectiam tambm sobre o que viam e observavam no terreno, combinando preconceitos e resultados de observao objectivada. Com timidez ou arrojo ousavam experimentar e por vezes anotar. Abaixo apresento alguns daqueles com quem me deparei na seco de sade dos arquivos coloniais.
Francisco Maria da Silva Torres, fsico-mor da ndia
Francisco Maria da Silva Torres fsico-mor da ndia entre 1843 e 1849, sendo exonerado apenas em 1851, dois anos aps o
-
Cristiana Bastos
44
seu regresso a Lisboa (Gracias 1914). O seu antecessor, Mateus Moacho, muito citado a propsito do ensino mdico na ndia, j que exercia o cargo de Fsico-Mor do Estado da ndia quando a Escola Mdica de Goa iniciou actividades (Correia 1917; 1941; Figueiredo 1960; Gracias 1994). No entanto, Mateus Moacho pouco tempo esteve no cargo; foi Francisco Torres quem dirigiu a Escola Mdica nos seus primeiros anos, supervisionando tambm o Hospital Militar e toda a Sade Pblica.
So inmeros e riqussimos os comentrios que nos oferece nos seus relatrios anuais: as epidemias, as desigualdades sociais na distribuio das doenas, as condies sanitrias da ndia, as precrias condies do hospital, a falta de instrumentos para avaliar o clima e medir os seus efeitos, os modos de habitao, os remdios locais, a sua vontade de os investigar e aproveitar, o seu desejo de o fazer com o apoio do Hospital da Marinha, em Lisboa, as suas tentativas incipientes de experimentao junto de soldados sua revelia, temendo que, se soubessem, fugissem espavoridos; a sua abertura variedade de religies, o seu empenho em atrair soldados no cristos aos cuidados do hospital, concebendo para isso enfermarias prprias, que para os gentios teriam o privilgio de um cho bosteado, ao gosto das castas elevadas, e a presena de imagens das suas divindades; para os maometanos haveria motivos decorativos apropriados; tudo para se sentirem bem e se disporem a receber tratamento, bem como para prevenir a fuga e a alienao relativamente medicina que o fsico-mor supervisionava e providenciava pelas suas prprias mos.8
Francisco Torres tem uma curiosa trajectria: nascido numa famlia do Porto que se mudou para Caminha, comea por seguir os passos do irmo mais velho, Jos, ingressando numa ordem religiosa.9 Enquanto Jos frequenta as mais altas esferas do incio ao
8 Veja-se o relatrio de Francisco Torres para o ano de 1846 (comentado em Bastos 2004a; 2007b). 9 Jos, o mais velho, teria sido guiado s mais altas esferas eclesisticas, e o caminho frutificou em igualmente altos cargos. Os contactos informais de sociabilidade em lazer teriam ajudado: os pais de Jos teriam conseguido o ingresso do jovem no famoso Mosteiro de Tibes graas ao encontro com o seu director quando este se encontrava a banhos em Vila Praia de ncora (Dias 2004).
Corpos, climas, ares e lugares
45
fim da sua vida de prelado, ingressando em Tibes, estudando filosofia em Rendufe e teologia em Coimbra, sendo ordenado padre e confirmado bispo, no sem ter aderido causa liberal e ingressado na maonaria (Dias 2004, 506-7), Francisco muda de rumo, deixa de ser frade aquando da extino das ordens e ingressa na Universidade de Coimbra, onde explora vrias matrias at se fixar na medicina (Reis 2011). Quando Jos, em plena tenso do governo liberal com a Igreja Catlica ento espoliada e perseguida, mas vista como possvel aliado do governo contra avanos de outras foras nomeado Arcebispo de Goa, Francisco nomeado Fsico-Mor do Estado da ndia. Podem assim viajar juntos e desembarcam em Goa nos incios de 1844. Numa escala em Bombaim j encontra D. Jos as dificuldades inerentes a um mandato como o dele, forjado nas tenses do momento, e entra em confronto com os missionrios da Propaganda Fide (Dias 2004, 508).
Depois de um mandato atribulado e provavelmente encurtado, regressa a Lisboa em 1849 e com ele regressa tambm o seu irmo mdico. Assim se explica o curto e curioso mandato do Fsico-Mor da ndia Francisco da Silva Torres que noutros lugares explorei apenas parcialmente (Bastos 2004a, 19-24; 2007b, 111-113) e os constantes paradoxos que do seu estudo emergem: o mpeto reformador e a ausncia de meios, as muitas iniciativas e a ausncia de sequncia, a cuidadosa avaliao geral e a dificuldade em implementar reformas.
No regresso capital D. Jos nomeado Arcebispo de Braga, mas no chega a tomar posse: falece em Lisboa, na casa que Francisco possua em Alfama (Dias 2004, 509). Francisco mantm-se celibatrio at ao fim da vida, que vai ainda ser palco de nova transformao de carreira e fortuna: torna-se suficientemente rico para figurar entre a elite financeira da poca e integra o Conselho do Banco de Portugal (Reis 2011).
Mas voltemos a Francisco, excelente exemplo de hbrido autor/annimo. So escassas as fontes sobre a sua vida particular, no nos deixou livros, filhos e memrias. Passou pelo mais alto cargo de sade da ndia para acompanhar o irmo, quando este para l se deslocou numa delicada misso entre os poderes de Roma e os
-
Cristiana Bastos
46
poderes de Portugal. No entanto, no quase anonimato dos relatrios do Servio de Sade, Francisco Torres deixou-nos um legado de informao importantssimo,10 permitindo-nos aceder ao universo cognitivo em que se baseava a sua prtica mdica e a sua percepo do mundo naquele preciso lugar, no trnsito entre a universidade de Coimbra, que frequentara, na frente de sade na ndia, onde exercia, no convvio quotidiano e familiar com um irmo que era alto dignitrio da igreja e tinha o apoio real e governamental.
Eduardo Freitas e Almeida, o ltimo fsico-mor da ndia
Aps o regresso de Francisco Torres a Lisboa e um interregno em que o servio de sade de Goa fica a cargo do cirurgio-mor, nomeado Eduardo Freitas e Almeida, que serve na ndia entre 1853 e 1871. Nos ltimos anos do seu mandato, Freitas e Almeida continua a assinar como Fsico-Mor, apesar de o cargo ter sido extinto e substitudo pelo de Chefe de Servio de Sade.
Natural de Vila da Ega, formado pela Universidade de Coimbra, clnico em Soure durante vrios anos, frequentador da praia de Lavos, em cujas guas frias praticava a natao, leitor atento das complexidades sociais e das nuances culturais, Freitas e Almeida possuidor de um esprito mordaz e argcia para a anlise poltica que, somados sua experincia clnica e vocao sanitria, do origem a longos e riqussimos manuscritos articulando medicina e sociedade no contexto colonial da ndia.
Noutro lugar examinei as suas reflexes, teorias e intervenes relativamente a uma das mais temidas pragas de ento, a varola.11 Freitas e Almeida mostra-se informado de todos os procedimentos de imunizao, est conectado com os dispositivos da vizinha ndia Britnica e com o que consegue trazer de outras colnias portuguesas ou da metrpole, socorrendo-se por vezes do mtodo de brao a brao com os praas que chegavam do reino, conhece as 10 V. tambm: AHU/Of: 21.4.1846 e 5.11.1849. 11 Explorei detalhadamente as atitudes e reflexes de Eduardo Freitas e Almeida sobre a varola, a vacinao e a inoculao no contexto mais amplo da discusso sobre varolas e vacinas na ndia (Bastos 2009). Para uma panormica geral da varola em Goa, veja-se tambm: Saavedra (2004); Bastos e Saavedra (2007).
Corpos, climas, ares e lugares
47
prticas locais, avalia os efeitos da religio e da cultura, discorre alguns dos seus preconceitos sobre o que acha ser a entrega deusa da varola, mas no deixa de pactuar com os expedientes inventados localmente para fazer face aos surtos da doena, incluindo, por parte dos vacinadores contratados, a mistura entre os fluidos de varola usados na inoculao local e o soro vacnico que os mdicos europeus adoptam. Mas no tema da aclimatao que me quero deter hoje, e tambm este sujeito de reflexo, anlise e recomendaes.
No relatrio de 1858 conta com a sua experincia de cinco anos na ndia para fazer recomendaes. Mostra-se preocupado com os efeitos do clima nos soldados, vendo que as afeces de fgado e bao particularmente as que j traziam da Europa se tornam doenas crnicas que jamais se haviam de curar neste pas, levando a desenvolvimentos nefastos, hidropsias, abcessos de fgado e muitas vezes morte. Aplaude o facto de o governador tomar sobre si a responsabilidade de mandar para Portugal as praas, que pela junta de Sade forem julgadas.12 No relatrio de 1861 avana com um princpio geral: os soldados europeus no devem permanecer na ndia mais de quatro anos; refora o seu argumento com um poderoso dado: em quatro anos cerca de um tero de praas morreu ou ficou incapacitado para o servio.13 No relatrio de 1862 prossegue neste ponto e vai socorrer-se de um conjunto de autoridades literrias e cientficas (Montesquieu, Cabanis, etc.) para elaborar as suas para-teorias e consideraes relativas relao entre clima, comportamento e sade. Demarca-se do determinismo climtico que ento paira entre os pensadores, e afirma que a aco do clima, longe de ser irresistvel, pode ser modificvel, e pode mesmo se atenuada pela fora da inteligncia humana, pondo em aco os meios civilizadores. Olha para a administrao holandesa como exemplo a seguir:
no nos esto dando provas irrecusveis desta verdade a Holanda nas suas possesses da Ocenia, e especialmente em
12 AHU/Re: 23.3.1859. 13 AHU/Re: 15.4.1862.
-
Cristiana Bastos
48
Java? Destruindo tantos focos de infeco, reduzindo a uma deliciosa e produtiva vegetao, tantos terrenos pantanosos, em cujas vizinhanas e a simples demora de qualquer viajante era logo seguida de uma morte quase certa: como se observou nos anos de 1730 a 1752, em que morreu um milho de recm chegados; no tem ela infludo moralmente pela civilizao, no carcter daqueles povos?14
Os manuscritos de Freitas e Almeida do-nos um pequeno relance sobre a intensa circulao de informaes e fbrica de ideias que eventualmente ocorria em cada posto colonial, estancando-se o fluxo das mesmas em pequenas aces que a poltica podia apoiar, limitar, ou simplesmente ignorar. No sabemos quantos tero lido os seus escritos at ao dia em que os abrimos, aparentemente intactos, entre os tesouros guardados no Arquivo Histrico Ultramarino de Lisboa , quantos o tero ouvido, quantos tero seguido as suas recomendaes; mas sabemos que o seu autor nunca passou ao quadro de autores, no publicou, no consta de um panteo de idelogos da sade colonial, no est nas enciclopdias nem na internet.15
Outros autores/annimos da ndia e de frica
O inventrio destes agentes do conhecimento na frente da sade colonial seria vastssimo, pelo que nos restringiremos a alguns.
14 AHU/Re: 25.4.1863. Este relatrio muitssimo desenvolvido, mostrando em que medida este assunto preocupou o mdico e o levou a inmeras leituras e reflexes comparativas de modo cumulativo. 15 Ver ainda: AHU/Of: 11.7.1854, 8.2.1856 e 4.6.1861; AHU/Re: 10.3.1860. A maior parte das investigaes sobre este fsico-mor decorreram no mbito de dois projectos financiados pela Fundao para a Cincia e a Tecnologia: Medicina Tropical e Administrao Colonial: Um estudo do Imprio a partir da Escola Medico Cirrgica de Nova Goa (PLUS/1999/ANT/15157), 2001-3; Medicina Colonial, Estruturas do Imprio e Vidas Ps-coloniais em Portugus (POCTI/41075/ANT/2001), 2003-5. Agradeo a todos os que ento colaboraram no Arquivo Histrico Ultramarino, Sociedade de Geografia de Lisboa, Biblioteca Nacional, Biblioteca Central de Pangim, a assistncia prestada. At ao momento no foi possvel prosseguir com a investigao sobre os perodos relativos a Coimbra e a Soure desta extraordinria personagem. Em comunicao telefnica com o proco local inteirei-me da existncia de uma pia baptismal de concha trazida por ele da ndia. possvel tambm encontrar a lpide tumular que dedica sua Mulher no cemitrio de Condeixa.
Corpos, climas, ares e lugares
49
Tome-se por exemplo Jos Antnio de Oliveira, nascido na Marinha Grande, formado na Escola Mdico-Cirrgica de Lisboa, radicado na ndia com as funes de cirurgio-mor, que substitua Francisco Torres ou Eduardo Almeida quando estes se ausentavam. No se furtava a apontar nos seus relatrios as verdadeiras razes para a ineficcia da ordem sanitria colonial: via-as nas teias relacionais que uniam atravs dos elos indissolveis do parentesco e compadrio os agentes locais da ordem colonial e os que a esta resistiam. Assim acontecia no caso de delegados do tribunal que deveriam prender os detentores de farmcias clandestinas, tambm seus primos, cunhados e parentes; assim se reproduzia uma ordem plural que no era oficialmente reconhecida, mas era na prtica tolerada, de coexistncia entre os vrios registos de saber mdico e procedimentos de cura que seriam, em teoria, incompatveis e mutuamente exclusivos, mas na prtica se integravam. Como ele o prprio apontava, em Goa at os mdicos recorriam a cures e herbolrios, quando no se tornavam mezinheiros eles prprios. Oliveira proporciona-nos simultaneamente os dados e o insight interpretativo sobre o que se passa na administrao da sade e na sociedade goesa em geral a combinao de prticas, a ultrapassagem da rigidez de sistemas, a habilidade de recorrer a mltiplos registo cognitivos, culturais, e mesmo polticos.16
Uma outra figura de destaque a de Joo Stuart da Fonseca Torrie (Porto, 1839 - Goa, 1884), o luso-britnico que sucedeu a Eduardo Freitas na chefia do servio de sade na ndia, que nos d voz a partir de uma sociedade cada vez mais afastada da sua pretensa metrpole colonial, de uma Escola Mdica em que por vezes ele sozinho tem de garantir o ensino de todos as matrias em todos os cursos, e f-lo, e persevera, e no desiste, assegurando o que a histria vem a mostrar ser uma transio de um registo inicial, em que os alunos so todos indianos (e quase exclusivamente cristos brmanes) mas os professores so quase todos portugueses ou indianos formados no reino e as chefias so exclusivamente 16 Ver AHU/Of: 17.8.1865 (n13), 22.09.1865 (n14), 22.10.1865 (n 15), 6.1849, 18.03.1851 (n 4); ver, sobretudo, o relatrio onde constam as mais interessantes das suas reflexes sociais e polticas: AHU/Re: 11.7.1853.
-
Cristiana Bastos
50
portuguesas, para um segundo momento em que avanam para as chefias as prprias elites locais.17
O primeiro gos a ocupar o posto de Chefe de Servio de Sade Rafael Antonio Pereira (1847-1916), filho das elites de Salcete e formado em Lisboa. Perante uma crescente alheamento das autoridades portuguesas relativamente Escola Mdica de Goa, e perante a iminncia da sua extino, este mdico desenvolve um argumento de aclimatao e cultura que vem a ser, finalmente, vital para a sobrevivncia da Escola Mdica enquanto instituio com funes no imprio. Rafael Pereira sustenta que os indianos so potencialmente os mdicos ideais para servir das frentes de sade em frica; so, nas suas palavras, o intermedirio perfeito entre europeus e africanos, uma vez que j esto aclimatados s dificuldades, ao meio e s doenas tropicais, mas so ao mesmo tempo portadores da cultura europeia e assim destinados a ser o brao direito da colonizao, algo que se veio a instituir como motivo identitrio em momentos posteriores da relao dos goeses com o projecto tardio de imprio lusfono.18
Os Servios de Sade e a Escola de Mdica de Goa no mais deixaro de ser liderados por mdicos locais, instaurando-se uma normalidade de governao colonial em que h ainda algum espao para comentrios reflexivos e manuscritos sobre questes sanitrias e clnicas, como acontece no riqussimo Relatrio do Servio de Sade de Goa para o ano de 1902 assinado por Miguel Caetano Dias (1854-1936), mas em que o pensamento, as observaes, as reflexes e as propostas cada vez mais aparecem sob forma impressa, em artigos e livros, e em comunicaes a congressos cientficos. Fundam-se revistas mdicas como os j referidos Arquivos Indo-Portugueses de Medicina e os Arquivos da Escola Mdico-Cirrgica de Nova Goa e alguns dos Chefes de servio so autores largamente citados e conhecidos noutras esferas, como acontece com Froilano de Melo, Germano Correia ou Pacheco de Figueiredo.
17 Ver AHU/Od: Informao 1880. 18 Ver AHU/Re: 30.10.1889.
Corpos, climas, ares e lugares
51
A obsesso com a aclimatao dos europeus aos trpicos e os raciocnios racialistas que os acompanhavam deixam definitivamente de fazer parte dos relatrios do Servio de Sade da ndia; mas se recuarmos um pouco e analisarmos o que mdicos indianos e portugueses escreviam nos postos de sade africanos voltamos a encontrar esses temas. Veja-se por exemplo Artur Incio da Gama (18511882), um jovem gos colocado como facultativo de segunda na ilha de Chiloane, na costa de Sofala, onde veio a sucumbir malria, no sem antes ter escrito amplas consideraes sobre os costumes indgenas e a sua prpria condio de agente da colonizao;19 ou Serro de Azevedo, um continental que tambm em Moambique deixava registado para a posteridade o seu estranhamento perante as qualificaes dos mdicos e enfermeiros indianos que coordenava nos servios de sade (Bastos 2004a; 2007a); ou Joaquim Jos Botelho, outro mdico portugus em Angola, onde no planalto da Hula deprecava sobre a colnia de madeirenses que ali se instalara a convite do estado portugus e sobre cuja sade e prosperidade deveria zelar.20 O relatrio de Botelho quase um catlogo de preconceito racista, deixando a sua dissertao sobre os princpios ideais de aclimatao perpassado do seu real pre