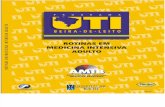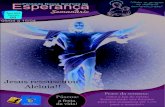Beira 89
-
Upload
jornal-beira-do-rio -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of Beira 89
Beira do Rio – Que motivações os levaram a criar o espaço de debate com a organização do III Encontro Latino-Americano de Ciências Sociais e Barragens?Edna Castro – Os temas abordados no III Encontro Latino-Americano Ciências Sociais e Barragens foram selecionados em função das questões sobre ciência e tecnologia que emergem neste momento em que se retoma, com bastante envergadura, a construção de grandes obras no Brasil. Sempre as grandes empreitadas de engenharia, a exemplo de transposições de rios, construções de diques e hidrelétricas, mobilizam interesses de segmento diversos da sociedade e da economia. No caso do evento, foram discutidos projetos que envolvem cursos d'água. Energia e água, por si, constituem objeto de discussão em esferas da ação política internacional da alta magnitude e importância.
UFPA recupera área de mangue em Bragança
Além do replantio de 70 mil mudas e sementes ao longo da PA-458, o Projeto desenvolve ações de educa-
ção ambiental nas escolas públicas. Proposta é agregar comunidade, Uni-versidade e Prefeitura. Pág. 9
Educação
Meio ambiente
Extensão
Biologia
Ana Carolina Pimenta
A matriz energética brasileira se apoia bas-tante na hidroeletricidade, o que ocasiona represamento de rios de norte a sul do País.
As mais de duas mil barragens construídas geram energia e, também, muita polêmica. Dados revelam que as enormes extensões de terras inundadas com as represas foram responsáveis pelo deslocamento de mais de um milhão de pessoas e pela destruição da fauna e flora daquelas áreas.
Preocupados com os impactos socioam-bientais que afetam a sobrevivência de populações indígenas e comunidades tradicionais, as barragens passaram a compor os estudos de cientistas sociais, ampliando o debate que antes era exclusividade de engenheiros e economistas.
Este mês, a Universidade Federal do Pará (UFPA) sediou o III Encontro Latino-Americano de Ciências Sociais e Barragens. O evento promoveu o diálogo entre pesquisadores, ativistas e respon-sáveis governamentais pelo planejamento do setor elétrico. Em entrevista ao Jornal Beira do Rio, a coordenadora do Encontro, Edna Castro, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), fala sobre os desafios que se colocam para o Brasil e, em especial, para a Amazônia, frente aos grandes projetos hidrelétricos.
12 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010
Biodiversidade
Peixes na bacia Araguaia-Tocantins
Pág. 10
Arqueologia sem glamour e exotismo O livro Abordando o Passado, do professor Mauro Barreto, desmistifica o processo de pesquisa arqueológica. Pág. 5
Desmatamento na Amazônia Legal Unidades de conservação e de populações tradicionais são responsáveis pela manutenção da floresta. Pág. 4
Oficinas geram renda em assentamento Faculdade de Engenharia Florestal, em Altamira, ensina moradores da comunidade Virola-Jatobá a fazerem biojoias e móveis artesanais. Pág. 3
Látex é alternativa de renda
As seringueiras voltaram a sorrir na Ilha do Mu-rutucum, localizada a 30 minutos de Belém. O motivo é a instalação da Unidade Sustentável
dos Encauchados de Vegetais da Amazônia, projeto do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, em parceria com o Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais (Poloprobio).
Moradores da Ilha estão sendo capacitados a confec-cionarem artefatos com uma técnica que combina o conhecimento indígena tradicional de manipulação do látex com tecnologias industriais simplificadas e adaptadas para o ambiente florestal. A atividade é al-ternativa de renda para a comunidade, especialmente, na entressafra do açaí e cacau. Págs. 6 e 7
Embalagens, porta-lápis, bolsas, mantas de tecido vegetal fazem parte da produção dos ribeirinhos
Crianças participam de replantio de mudas ao longo da PA-458
56 espécies foram identificadas
issn
198
2-59
94
JORNAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ • ANO XXV • N. 89 • DEzEmbRO, 2010
As polêmicas em torno das barragens "Obras alteram a vida das pessoas e a forma de organização do espaço"
Inclusão social
25 Anos
Theodomiro Gama Júnior fala sobre sustentabilidade no
município de Castanhal. Pág. 2
Opinião
Entrevista
Erick Pedreira diz o que é necessário para a UFPA dar um
salto para o futuro. Pág. 2
A professora Edna Castro discute os impactos sociais
causados pelas barragens. Pág. 12
Coluna da Reitoria
Acer
vo d
o P
esq
uis
Ad
or
Acer
vo d
o P
esq
uis
Ad
or
Ale
xAn
dre
Mo
rAes
São temas presentes e prioritários nas Cúpulas de Estados e parte essencial na Agenda da ONU, seja na perspectiva da economia, seja na perspectiva dos direitos humanos.
Beira do Rio – Como as universidades podem contribuir para ampliar o debate sobre a cons-trução de grandes hidrelétricas e para elucidar polêmicas que atravessam o tema?Edna Castro – Entendemos que uma sociedade em processo de transformação, como o Brasil e a Ama-zônia, em particular, tem a responsabilidade de estar informada para tomar posições de escolha sobre os projetos, estatais ou não, que irão mudar suas vidas. E as universidades têm papel fundamental na geração desse conhecimento. Significa tornar a sociedade mais bem informada para o exercício da democracia, para fazer suas escolhas. Mais que a qualidade da informação, trata-se, aqui, de conhe-cimento, de poder captar as diferentes injunções ou propostas em jogo para que seja possível tomar posições mais responsáveis do ponto de vista dos direitos de todos. Por isso o NAEA (UFPA) e o Ins-tituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio-nal (IPPUR/UFRJ) assumiram a responsabilidade de ampliar esse debate, de explicitar as diferentes posições em jogo nos processos de construção de grandes obras, pois esse tema é objeto de contesta-ção e organização de movimento de atingidos por toda a América Latina.
Beira do Rio – Como se dá o surgimento de mo-vimentos organizados resistentes à construção de barragens?Edna Castro – O processo de construção de barra-gem altera a vida das pessoas, a forma de organi-zação do espaço e a atividade produtiva, gerando conflitos de várias ordens, sobretudo entre grupos sociais localizados nessas áreas. A categoria "atin-gidos por barragens" surge e se constrói como categoria social no processo de luta de grupos em diferentes regiões do Brasil e em outros países. Aparece como um processo para além do nacional e, muitas vezes, transnacional, no sentido de uni-ficar grupos diferentes pelos impactos sofridos no deslocamento compulsório de seus territórios. Isso aconteceu no Canadá, na Índia, na China, como em muitos países latino-americanos. As mobilizações
dos atingidos por barragens têm essa relação com processos muito comuns e, por isso, confrontam-se com lógicas dominantes no mercado.
Beira do Rio – A luta contra a construção de Belo Monte já dura mais de 20 anos e se constitui num caso bastante peculiar. Como se explica a trajetória de resistência dos povos do Xingu?Edna Castro – A proposta de hidrelétricas para o rio Xingu tem uma trajetória de resistência por parte de grupos sociais e étnicos. Aliás, a história do Xingu, pouco conhecida, é singular, pois os povos xinguanos resistiram, por muito tempo, à coloniza-ção europeia. Hoje, há outra correlação de forças e retomada de um ethos desenvolvimentista e de compromisso com o progresso, o que coloca todos reféns de interesses que aparecem como nacionais. Os instrumentos de participação da sociedade, como as audiências públicas, ficaram fragilizados. Os conflitos socioambientais, neste caso, são conflitos sobre o uso de bens comuns, mas também assumem essa dimensão subjetiva de processos mais gerais que implicam a própria concepção de respeito, democracia e justiça. Por outro lado, diante de um movimento de privatização, de "mercadorização" da água e dos rios, de interesses econômicos con-centradores, é difícil entender decisões que deixam ao largo as ameaças ambientais, a emissão de gases dos reservatórios e as mudanças climáticas. Nes-sas ocasiões, o diálogo é fundamental. É preciso escutar o que dizem as populações locais e não criminalizá-las.
Beira do Rio – O Brasil tem muitos projetos para a construção de barragens. Somente na Amazô-nia brasileira, estão sendo planejadas mais de 60. O que podemos esperar sobre os impactos dessas grandes hidrelétricas projetadas?Edna Castro – São situações diferentes de uma região para outra no País. Mas, certamente, são as grandes hidrelétricas que envolvem enorme soma de investimentos que provocam maiores impactos nos assentamentos urbanos e nos povoados. É importante, porém, dizer que esses processos de transformação também são provocados pelas mé-dias e pequenas hidrelétricas construídas de forma impressionante em alguns Estados, como Minas Gerais, que possui mais de 450 hidrelétricas.
Foto
s A
lexA
nd
re M
orA
es
Erick Pedreira - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Theodomiro Gama Júnior
Coluna da REITORIA
OPINIÃO
BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 – 11
Pesquisa analisa cotidiano em Jutaí Ir e vir da "tiração" do caranguejo revela identidade localPensar em um modelo de
educação pública superior para a Amazônia, deve ne-
cessariamente, apontar na direção de uma universidade de vanguar-da, “antenada” com o seu tempo, capaz de se reinventar dia após dia, fundamentada em valores que estejam voltados a formar “seres pensantes”, com capacidade críti-ca para questionar e responder as mais diversas demandas sociais, onde os valores de justiça social, de igualdade e de mérito devem ser sempre perseguidos. Esta deve ser nossa missão.
Com uma comunidade cons-tituída por cerca de 45 mil pessoas, a UFPA representa, hoje, a maior e mais importante instituição de ensino e pesquisa do trópico úmi-do, respondendo por grande parte do saber produzido na Amazônia. Nesse mais de meio século de his-tória, muitos avanços foram con-cretamente desenhados: o campus pioneiro do Guamá, o processo de interiorização, os hospitais univer-sitários, a expansão quantitativa e qualitativa dos cursos de graduação e pós-graduação, o fortalecimento
da Escola de Aplicação, a abertura de cursos técnicos, o processo de educação a distância, entre muitas outras conquistas.
Ao longo dos últimos anos, conseguimos atrair mais estudan-tes, aumentar os índices de sucesso no ensino de graduação e pós-graduação, além de um crescente aumento no indíce de qualifica-ção do corpo docente, sem falar em centenas de contratações de docentes e técnicos administra-tivos, possibilitadas por meio do Programa de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, desta maneira, fortalecendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFPA.
É hora de pensarmos no futuro, sem esquecer as lições do passado e o momento presente, quando devemos usar os modelos de planejamento e desenvolvimen-to das ações institucionais para responder a alguns questionamen-tos: que universidade queremos? Que caminhos a UFPA trilhará a médio e a longo prazo? Preci-samos respondê-las, sob pena de alimentar a cultura do improviso,
tão nefasta para a administração pública.
É certo que existe um longo caminho a ser percorrido. Urge investirmos em modernos siste-mas de tecnologia de informação, na qualificação permanente de nosso quadro docente e técnico-administrativo, na otimização de nossos fluxos internos, no estabe-lecimento de competências, nos modelos de avaliação institucional que possam ter ressônancia na co-munidade acadêmica, na melhora na condição de infraestrutura, na expansão da UFPA alicerçada em um prévio planejamento or-çamentário e de pessoal, no for-talecimento constante de nossos conselhos – mudanças que, com o esforço dos seus atores, sinalizarão modernos e promissores tempos à Universidade Federal do Pará.
Bate à porta um grande desa-fio para todos nós – a reconstrução do PDI da UFPA para o período de 2011 a 2015, tempo de reflexão, de contribuição, de análise crítica dos mais variados aspectos da vida universitária, gerando ideias con-cretas para a construção de uma
universidade do futuro - à frente do seu tempo.
Após um processo de dis-cussão, optou-se por utilizar uma metodologia capaz de apontar indicadores e metas de ações pre-vistas nos mais diferentes setores da Academia, propiciando uma real e interessante mensuração dos resultados, conquistando, desta forma, uma eficiência na execução das tarefas institucionais; rede-finindo sua real missão, visão e valores como instituição de ensino superior em sintonia com o desen-volvimento da Amazônia.
As organizações universi-tárias, dada sua complexidade, exigem sempre dos seus gestores criatividade na formulação de modelos e abordagens gerenciais que lhes permitam atuar em um contexto complexo caracterizado por objetivos difusos, tecnologia múltipla, liberdade acadêmica, natureza qualitativa do trabalho e grande sensibilidade a fatores ambientais. Se formos capazes de compreender isto, estaremos conduzindo, de fato, a UFPA para um salto ao futuro!
Um salto para o futuro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
2 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010
Rua Augusto Corrêa n.1 - Belém/[email protected] - www.ufpa.br
Tel. (91) 3201-7577
Má
cio
Fer
reir
AM
ác
io F
erre
irA
O conceito de sustentabilidade está diretamente relacionado com a qualidade de vida do
ser humano. Vivendo em um meio ambiente saudável e com educação ambiental, as pessoas podem exer-cer a sua cidadania. A partir desse conceito, a turma 2009 dos alunos da Faculdade de Sistemas de Infor-mação da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal, realizou uma pesquisa de intervenção no município.
Essa pesquisa teve início com a visita à Escola Estadual de Ensino Fundamental M. Cônego Leitão e, em seguida, uma caminhada pela avenida Barão do Rio Branco, até o canal da rua Paulo Titan. Esse canal, um dia, foi o Igarapé Castanhal, por onde navegaram os primeiros coloni-
zadores dessa região. Foram também visitadas as dependências da estação de captação de água subterrânea da cidade, gerenciada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), localizada próximo ao canal e às nascentes do Igarapé Castanhal.
A educação ambiental na es-cola visitada merece maior atenção, pois os alunos estão agredindo o meio ambiente escolar, no momento em que se observa o péssimo estado de conservação das salas de aula, dos corredores e dos banheiros. As paredes desses espaços físicos estão quase todas pichadas. Inexistem vasilhames adequados para a coleta seletiva do lixo. Falta arborização interna e externa ao prédio. Sua localização se encontra em uma rua mal estruturada e mal conservada,
com calçadas quebradas, esgotos das águas servidas a céu-aberto e nenhuma coleta seletiva.
Ao longo da avenida Barão do Rio Branco, no trecho entre a Praça São José e o canal da rua Paulo Titan, a situação é a mesma: arbo-rização mínima, não há recipientes para coleta seletiva, a água servida é drenada até o canal. Também é necessário placas informativas e edu-cativas para que a população crie o hábito de preservar o meio ambiente. Nesse canal, é grande a quantidade de resíduos sólidos, principalmente garrafas. A água fornecida pela Co-sanpa é tratada quimicamente antes de ser consumida pela população, pois existe a possibilidade de que essa fonte natural esteja sendo conta-minada já que não há tratamento dos
resíduos contaminantes despejados nesse canal.
Nas nascentes do Igarapé Castanhal, localizadas no limite com o Clube Ibirapuera, o projeto de ex-tensão voltado para o reflorestamento das matas ciliares, em atividade há cinco anos, já conseguiu recompor parcialmente essas fontes naturais de água. Foram plantados cerca de dez mil espécies vegetais da flora local, como o açaí, a andiroba e o buriti. Está prevista a instalação de um cen-tro de educação ambiental integrando a UFPA/Campus de Castanhal e as escolas públicas localizadas na área de atuação do projeto.
Theodomiro Gama Júnior é pro-fessor da Faculdade de Pedagogia, Campus Castanhal.
Meio ambiente e sustentabilidade em Castanhal
kkkDissertação
Reitor: Carlos Edilson Maneschy; Vice-Reitor: Horácio Schneider; Pró-Reitor de Administração: Edson Ortiz de Matos; Pró-Reitor de Planejamento: Erick Nelo Pedreira; Pró-Reitora de Ensino de Graduação: Marlene Rodrigues Medeiros Freitas; Pró-Reitor de Extensão: Fernando Arthur de Freitas Neves; Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Emmanuel Zagury Tourinho; Pró-Reitor de Desenvolvimen-to e Gestão de Pessoal: João Cauby de Almeida Júnior; Pró-Reitor de Relações Internacionais: Flávio Augusto Sidrim Nassar; Prefeito do Campus: Alemar Dias Rodrigues Júnior. Assessoria de Comunicação Institucional JORNAL BEIRA DO RIO Coordenação: Ana Danin; Edição: Rosyane Rodrigues; Reportagem: Ana Carolina Pimenta (013.585-DRT/MG)/Dilermando Gadelha/Jéssica Souza(1.807-DRT/PA)/Killzy Lucena/Paulo Henrique Gadelha/Raphael Freire/Vito Ramon Gemaque/Yuri Rebêlo; Fotografia: Alexandre Moraes/Ka-rol Khaled; Secretaria: Silvana Vilhena/Carlos Junior/ Davi Bahia; Beira On-Line: Leandro Machado/Leandro Gomes; Revisão: Júlia Lopes/Cintia Magalhães; Arte e Diagramação: Rafaela André/Omar Fonseca; Impressão: Gráfica UFPA; Tiragem: 4 mil exemplares.
Tamanha ligação seria explica-da pela dependência econômica, cer-to? Errado. De acordo com Ivana Ma-ciel, mesmo no período de reprodução do caranguejo-uçá, também chamado de sauatá, não há distanciamento do mangue. E antes mesmo das secreta-rias de meio ambiente estabelecerem a proibição do consumo, os tiradores já sabiam que é necessário respeitar o ciclo de vida do animal. Isso acontece em outras comunidades de mangue.
O defeso - período de janeiro a março - é marcado pela "andan-
ça" do caranguejo macho atrás das fêmeas para acasalar, o que, muitas vezes, é confundido com a safra. "Eles dizem que não se pode matar a fêmea do caranguejo, porque ela não é saborosa, o caranguejo pequeno não rende e dá azar. Ou seja, não é a alimentação e a economia que passam pelo mangue, é a vida das pessoas. Há áreas de mangue que já começam nos quintais das casas, algo que não requer deslocamento. O mangue já está ali, próximo a elas", observa. Nesse período, surgem, então, outras
fontes de alimentação, como a ostra e o turu (molusco que vive nas árvores do manguezal).
Os tiradores de caranguejo não representam uma categoria profissio-nal regulamentada e não têm acesso a direitos trabalhistas. Eles representam a parte mais desvalorizada pela ca-deia de produção do caranguejo, que rende muito mais para os marreteiros (atravessadores). Em São Caetano de Odivelas, existe uma colônia de pescadores que congrega, também, os tiradores de caranguejo, no entanto,
70% desses trabalhadores não são cadastrados na colônia de pescadores, o que os impede de receber os bene-fícios garantidos pelo governo. De acordo com a pesquisa, o desapego às questões burocráticas é algo caracte-rístico da comunidade.
Talvez isso seja incentivado pelo poder público, que dificulta o acesso à educação. Em Jutaí, há uma única escola de ensino fundamental, a qual tem atendido às novas gerações. Os mais velhos cresciam e iam direto para a "tiração" do caranguejo.
Killzy Lucena
É comum ouvir o dito popular: "ele saiu da baixada, mas a baixada não saiu dele". Ainda
que haja algumas variações, a ideia é a mesma: levamos o lugar onde nascemos e crescemos dentro de nós aonde quer que se vá. O lugar acaba sendo maior do que a sua dimensão espacial (física) e passa a ser o lugar identitário. Com certeza, conhecemos inúmeros exemplos, mas um dos mais sui generis em nossa região é o manguezal ou man-gue. O ecossistema típico de áreas costeiras alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical acabou se tornando objeto de estudo de uma dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará (UFPA).
Trata-se do estudo O mangue como unidade geográfica de análi-se: o espaço de vivência e produção comunitária nos manguezais da co-munidade de Jutaí, no município de São Caetano de Odivelas, de autoria de Ivana Lúcia Sarmento Maciel e orientado pelos professores Gilberto Miranda Rocha e Marília Ferreira Emmi.
O Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta, com cerca de 20 mil km², que se estendem desde o Cabo Orange (AP) até o sul do País, em Laguna (SC). O Pará possui 40 mil hectares de mangue, dos quais, 4.500 km encontram-se em São Caetano de Odivelas, no nordeste
Na comunidade, mangue é o espaço que alimenta, dita as regras e marca a passagem do tempo
paraense, o qual tem, na extração do caranguejo, um dos suportes de sua economia.
Os mangues são ecossistemas costeiros fundamentais não só pelo fato de servirem de abrigo para
um grande número de espécies de peixes, crustáceos e moluscos, mas também por ser o principal meio de subsistência para as comunidades ribeirinhas. Entre os objetivos da pesquisa, estava compreender o
mangue, a partir de uma análise geo-gráfica, como o espaço de vivência e produção comunitária em Jutaí, além de traçar um perfil socioeconômico da comunidade e verificar como eles utilizam o espaço do manguezal.
Falta de infraestrutura prejudica qualidade de vida �Das 41 comunidades ao redor
da sede municipal de São Caetano, Jutaí foi escolhida a partir da afini-dade pessoal, já que a pesquisadora, frequentemente, visitava parentes no local. Em outros trabalhos acadê-micos, Ivana Maciel abordou o man-guezal, mas ainda na dimensão do município. No mestrado, o objetivo era estudar uma comunidade espe-cífica para ver como a produção do espaço se realiza no plano cotidiano, como é a vida das pessoas, além de como é a retirada do caranguejo.
A questão era entender a cultura do mangue: o tirador, as
brincadeiras das crianças no lugar, a culinária, as lendas e as mani-festações culturais. É a dinâmica da comunidade que nos remete à identidade do lugar, que vai além dos limites físicos. Portanto, o lugar é produto das relações humanas entre o homem e a natureza, tecido por relações sociais.
A convivência com as pessoas e com a paisagem foi estreitada e a pesquisadora começou a conviver com aquilo que é mais próprio da comunidade: o ir e vir da "tiração" do caranguejo. Utilizando entrevis-tas e questionários, Ivana Maciel
procurou obter informações sobre o nível de renda, as condições de moradia, a composição familiar e a escolaridade dos tiradores de caranguejo, como também buscou entender o seu processo espacial de produção e a sua comercialização.
De acordo com dados, em uma comunidade com cerca de 20 famílias, e uma média de sete a oito filhos, a qualidade de vida é baixa devido à precariedade dos serviços de infraestrutura. As famílias re-produzem suas tradições e valores, assim que o menino se transformar em rapaz, vai para a extração do
caranguejo e logo casará com uma moça da comunidade. Raros são os que conseguem outro emprego e terminam o ensino médio.
"A comunidade de Jutaí é um exemplo para entendermos a ques-tão de espaço, território e lugar. Um lugar que está muito mais associado à identidade do que a um espaço com dimensões e características físicas. O lugar é o ambiente com o qual você se identifica, onde estão a cultura, as regras, a alimentação e as festas. O lugar é a porção do espaço que o homem constrói e do qual se apropria", explica a professora.
Ostra e turu são alternativas no período de defeso �Ac
ervo
do
Pes
qu
isA
do
r
10 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 – 3
Oficinas geram renda em assentamento Moradores aprendem a fazer biojoias e móveis artesanais
Projeto identifica 56 espécies de peixes Coletas foram realizadas na bacia nos rios Parauapebas e Água Preta
ExtensãoBiologia
Foto
s Ac
ervo
do
Pes
qu
isA
do
r
O Projeto trabalha com Pro-dutos Florestais Não Madeireiros (PFNM), de origem biológica, de-rivados de florestas nativas e áreas reflorestadas. Esses recursos se tornam vitais para a sobrevivência de quem vive dentro ou próximo de florestas na maior parte dos países tropicais. Eles podem ser utilizados em produtos alimentícios, medici-nais e industriais.
Como matéria-prima das bio-joias, foram utilizadas as sementes mais comuns e de fácil manuseio, como açaí, angelim, paxiubinha, urucum, castanha-do-pará, buriti, jatobá e babaçu. São coletadas as sementes ou frutos que estão no chão, mas é necessário deixar al-
guns pelo caminho. Eles servirão de alimento para os animais e serão responsáveis pela regeneração das espécies. Essa preocupação com a sustentabilidade é despertada a partir das palestras promovidas pelo Projeto.
Na produção dos móveis artesanais, foram usados galhos, caules e troncos de árvores os quais já haviam sido retirados da área de extração da reserva legal do assen-tamento para a comercialização. A extração da madeira para produção dos móveis artesanais é feita por uma empresa parceira da Associa-ção de Moradores do Assentamento, dentro de um projeto de manejo comunitário, o qual permite o corte
das árvores em uma área determina-da para esse tipo de atividade.
Dessa forma, a madeira ex-traída tem origem legal, ou seja, é certificada. Como o Projeto tra-balha com o reaproveitamento dos resíduos da madeira deixada após o corte, consequentemente, toda a produção de móveis artesanais tem a certificação garantida para a sua comercialização. Com isso, os artesões têm uma alternativa de renda que complementa os recur-sos advindos da agricultura e do manejo florestal, e sem restrições ambientais.
As peças obtidas a partir das sementes e da madeira reaprovei-tada têm formas e tamanhos varia-
dos. As peças de madeira tomam a forma de cadeiras, mesas, bancos e esculturas de animais, e as sementes viram acessórios, como brincos e colares coloridos.
Como resultado da parceria entre a Universidade, a comunidade e a Associação de Moradores, um sonho antigo concretizou-se: a fun-dação, em assembleia geral, da Co-operativa Orgânica dos Produtores Agrícolas e Florestais (COOPAF). A Cooperativa envolve artesãos, produtores agrícolas e agroflores-tais e deve apoiar as atividades que defendem os interesses econômicos comuns e incentivam o aprimora-mento técnico e profissional dos associados.
Raphael Freire
Joias produzidas a partir de semen-tes regionais e móveis artesanais são alguns dos resultados do
Projeto de Extensão "Aproveitamento dos produtos florestais não madei-reiros para produção de biojoias e móveis artesanais por famílias do Pro-jeto de Desenvolvimento Sustentável Virola-Jatobá, município de Anapu", desenvolvido no sudoeste paraense.
A iniciativa é da Faculdade de Engenharia Florestal do Campus de Altamira e pretende estruturar e consolidar a produção na comunidade a partir do levantamento de infor-mações sobre o potencial produtivo e os modelos de gestão aplicáveis à realidade local.
Segundo o professor Iselino Jardim, coordenador do Projeto, a escolha da comunidade aconteceu em virtude das carências identificadas no assentamento, as quais vão desde a precariedade da educação escolar até a falta de assistência médica. "Essa comunidade é muito carente. Ela, como muitas, está em situação de to-tal abandono, à mercê de sua própria sorte", justifica .
A primeira atividade do Proje-to foi a realização de quatro oficinas de capacitação para os moradores de Virola-Jatobá. Um grupo de 20 participantes foi capacitado para trabalhar com sementes na produ-ção de biojoias. Outras 16 pessoas foram capacitadas para trabalhar
matéria-prima é utilizada de maneira sustentável �
Sementes e frutos coletados na própria comunidade são transformados em artesanato
Na produção de móveis artesanais, são utilizados galhos, caules e troncos de árvores retirados da reserva legal
na produção de móveis artesanais. De acordo com Iselino Jardim, a intenção é incentivar a "exploração racional dos recursos da floresta para
garantir aos moradores uma renda complementar".
Durante as oficinas, os partici-pantes contribuíram com seu conheci-
mento empírico. Eles indicaram, por exemplo, as sementes e as espécies de madeira que deveriam ser trabalhadas durante as oficinas.
Um fator importante para a pesquisa foi o apoio que os pes-quisadores tiveram de pescadores e moradores da região. A ajuda da comunidade foi importante desde a orientação no local até a coleta. Como exemplo, há duas espécies identificadas somente durante en-contros ocasionais, pelos ribeiri-nhos, que chamaram os alunos e
lhes relataram o ocorrido.Agora, André Santos e Divino
Souza pretendem finalizar o TCC, mas continuar desenvolvendo a pesquisa no ano que vem. O objetivo maior é dar prosseguimento à iden-tificação de espécies, "o que mais queremos é identificar exemplares novos. Para nós, e no caso especí-fico do nosso Projeto, quantidade é
qualidade", afirmam.Os exemplares que serão
coletados a partir de agora serão fixados e enviados às coleções ictiológicas para que qualquer pes-quisador do mundo possa ter acesso e, quem sabe, desenvolver novas pesquisas voltadas para a região de Água Azul do Norte.
Os dados gerados pelo estudo
foram importantes para a região dos dois rios. Segundo os estudantes, nem mesmo os moradores e pesca-dores mais antigos tinham dimensão da diversidade ali existente. Apesar de o sistema aquático local estar, aparentemente, preservado, essas informações são importantes para o futuro, caso esse equilíbrio se perca.
De março a julho deste ano, os alunos percorreram os rios pesando, medindo e fotografando os espécimes
Yuri Rebêlo
O Brasil contém, segundo estudos, quase 10% da diversidade de peixes de
água doce do mundo, mais de 2.500 espécies. Mas como catalogar esses peixes e verificar em que regiões são mais frequentes? Para ajudar a desvendar um pouco dos segre-dos dessa região, os alunos André Santos e Divino Souza, do curso de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), desenvolveram o Projeto "Diversidade de peixes em Água Azul do Norte", orientados pela professora Susana Milhomem, por
intermédio do Programa de Edu-cação a Distância da Faculdade de Biologia.
O Projeto foi executado no município de Água Azul do Norte, nos rios Parauapebas e Água Preta, na bacia do rio Araguaia-Tocantins, e começou devido à necessidade de André Santos e Divino Souza de-senvolverem um projeto, que é uma prévia do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que os alunos de Ensino a Distância (EAD) da UFPA devem cumprir como parte do seu processo de formação.
Apesar de as aulas a distân-cia serem ministradas no Polo de Marabá, a ideia de estudar outro
município veio de Divino Souza, que tem uma casa em Água Azul do Norte. Por outro lado, para André Santos, trabalhar nessa região foi uma realização pessoal, "como eu era aluno do curso de Biologia em Parauapebas, senti-me na obriga-ção de dar um retorno científico ao município que, inicialmente, possibilitou realizar o sonho de me tornar biólogo".
Ainda que se trate de um le-vantamento das espécies de peixes dos dois rios estudados, o objetivo, a longo prazo, é reunir informações para que essa diversidade seja res-peitada, como explica a professora Susana Milhomem, "a gente está
dando subsídios, isto é, informa-ções sobre o que temos para que, no futuro, possam ser criadas políticas públicas para a preservação dessas espécies".
O trabalho teve início no se-gundo semestre de 2009, quando os alunos começaram o planejamento a partir da leitura de referências sobre outras pesquisas já reali-zadas até a aquisição do material necessário para a coleta de dados. Em 2010, começou o levantamento para a etapa prática do trabalho, que ocorreu de março a julho des-te ano, período em que os alunos fizeram visitas regulares à área de estudo.
Equipe percorreu seis quilômetros de extensão fluvial �As formas de coleta foram as
mais variadas, desde malhadeiras, redes de arrasto e redes de cerco até anzol e mergulho livre. Além disso, os métodos foram apli-cados em um grande número de ambientes distintos, como poços com águas profundas, beira-rio com águas rasas, perímetros de mata nativa e áreas devastadas ou assoreadas. Ao todo, quase seis quilômetros de extensão fluvial foram percorridos nos rios.
A partir dessas coletas, os estudantes pesaram, mediram e
fotografaram os espécimes, e, em seguida, devolveram-nos aos rios, partindo, então, para a identifica-ção. Para isso, os alunos utiliza-ram bibliografia especializada e comparações, tanto em coleções quanto em sites especializados em pesca, como o do Ministério do Meio Ambiente e o do FISHBASE (base de dados on line, que reúne informações sobre peixes a partir de pesquisas já publicadas).
Os resultados foram dignos de nota. Ao todo, 56 espécies de peixes foram identificadas, das
quais, 19 foram encontradas no rio Parauapebas, enquanto somente uma foi encontrada no rio Água Preta. As restantes foram encon-tradas nas duas áreas. A maioria dos peixes é da ordem dos Cha-raciforme, com 21 espécies. Em seguida, aparecem os Siluriforme (16 espécies) e os Perciformes (11 espécies).
Entre os habitats, três ti-veram números expressivamente maiores: pequenos igarapés, vege-tação flutuante e áreas abertas dos rios. Nos pequenos igarapés do
rio Parauapebas, oito espécies da ictiofauna local foram encontra-dos. Nos bancos de plantas aquá-ticas, dominados por gramíneas e pteridófitas flutuantes, foram identificadas 17 espécies. Já nas áreas abertas dos rios e baías, 26 espécies foram encontradas. Esses números dão dimensão da quanti-dade de exemplares identificada e também das áreas em que eles podem ser localizados, bem como seus ambientes de maior inci-dência, dados importantes para o manejo pesqueiro da região.
maior número de informações garante preservação �
Acer
vo d
o P
esq
uis
Ad
or
4 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010
Áreas protegidas evitam desmatamentoNão se sabe por quanto tempo esses espaços irão aguentar a pressão
BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 – 9
UFPA recupera mangue em BragançaRedema já replantou 70 mil mudas e sementes ao longo da PA-458
BiodiversidadeMeio ambiente
Acer
vo d
o P
esq
uis
Ad
or
PA-458: à esquerda, o manguezal devastado pela falta d'água
Para que serve um manguezalo manguezal, principalmente na Amazônia, é a principal floresta ao longo da zona costeira. O Brasil tem a segunda maior área de manguezal do mundo, perdendo, apenas, para a Indonésia. Veja abaixo por que os manguezais são importantes:
• São um sumidouro de carbono, aliados no combate ao aquecimento global.• São básicos para a reprodução e subsistência de muitas espécies de peixes, pois são ricos em nutrientes e matéria orgânica. • Retêm a erosão da zona costeira. • Servem como área de reprodução para animais aquáticos, como peixes e crustáceos, e para aves costeiras, como guarás, colhereiros, flamingos etc. Ou como simples dormitório para várias espécies de passarinhos.• Têm uma grande importância para o homem, que encontra ali fonte rica de alimento e de recursos naturais para serem aproveitados de forma sustentável, pois, se bem manipulados, geram renda.
Atividade de turismo ecológico é permitido em unidades de conservação de proteção integral
O critério utilizado para de-terminar a efetividade (ou não) dos espaços protegidos foi baseado nos níveis de desflorestamento interno em relação ao desmatamento do entorno. Foi considerado, para termos compa-rativos, o desflorestamento a 5 km e a 10 km das áreas protegidas. Então, se o desflorestamento interno constatado nessas áreas era menor do que o nas áreas vicinais (tanto a 5 km quanto a 10 km de distância), elas eram consi-deradas efetivas; se o desflorestamento era maior, elas eram avaliadas como não efetivas.
Por esse referencial, até 2007, entre as 412 áreas protegidas anali-sadas, 62,3% estavam conseguindo conter o desflorestamento na Amazônia Legal, com diferentes performances entre as unidades de conservação de
proteção integral, as unidades de con-servação de uso sustentável e as terras indígenas. No entanto, não foi possível prever até quando essa efetividade será possível, diante da intensificação da devastação dos espaços protegidos, que não estão mais suportando a pressão do desflorestamento. Por isso a necessi-dade de criar novas áreas protegidas e consolidar aquelas já existentes.
Desflorestamento – As terras indíge-nas foram as que obtiveram as menores taxas de desflorestamento interno. O trabalho assinala, também, que, entre as duas modalidades de unidades de conservação, as de uso sustentável re-presentavam a maior quantidade e ocu-pavam as maiores extensões, porém, tinham índices de desflorestamento superiores aos de proteção integral.
A pesquisa indica, ainda, que havia diferença de representatividade e efetividade das áreas protegidas nos Estados da Amazônia Legal. No Maranhão, por exemplo, havia pou-cas unidades de conservação e terras indígenas e elas não estavam mais contendo o desflorestamento.
Segundo a pesquisadora, não foi possível comprovar, mas apenas supor empiricamente, as razões pelas quais algumas áreas protegidas são mais efetivas do que outras. “Para saber isso ao certo, seria necessário conhecer a realidade política, econômica, social da região na qual está inserida a área protegida, além de verificar, em cada área, a gestão, a infraestrutura, a pre-sença de plano de manejo, o número de funcionários, entre outras variáveis. Uma tarefa impossível para uma só
pessoa. O ideal era que cada Estado se responsabilizasse por fazer essa investigação”, ponderou.
Tássia Nunes acredita que pes-quisas como a sua poderiam orientar a criação e execução de políticas públicas para a conservação da Ama-zônia brasileira e para a manutenção do clima. Entretanto, mostra-se cética quanto a essa questão. “Isso depende da vontade política. Há uma contradi-ção por parte dos governos quanto à conservação. De um lado, eles criam ações contra o desmatamento; e de outro, estimulam, com incentivos, a implantação de obras de infraestrutura e de exploração predatória. É difícil mudar esse paradigma, ir contra a priorização do crescimento econômico em prol do meio ambiente”, finalizou Tássia Nunes.
Paulo Henrique Gadelha
Desenvolvimento sustentável, conservação dos recursos naturais, aquecimento glo-
bal. Terminologias como essas es-tão constantemente na mídia neste início de século. Nesse sentido, está na “moda” falar em defesa do meio ambiente. Considerando que as ações humanas estão contribuindo para a escassez gradativa dos recursos disponíveis, a criação de Áreas Pro-tegidas na Amazônia Legal passou a ser uma estratégia adotada para refrear o desmatamento.
Avaliar se essas áreas estavam cumprindo o seu papel foi o principal objetivo da dissertação de mestrado A efetividade das Unidades de Con-servação e das Terras Indígenas na contenção do desflorestamento na Amazônia Legal, defendida pela bióloga Tássia do Socorro Serra Nu-nes, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), sob orientação do pes-quisador Leandro Valle Ferreira.
As áreas protegidas na Ama-zônia Legal analisadas são as uni-dades de conservação de proteção integral, as unidades de conservação de uso sustentável e as terras indíge-
nas. A autora analisou os dados de desflorestamento produzidos pelo Projeto de Monitoramento do Des-florestamento na Amazônia Legal (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para a pesquisa, foram consideradas 412
áreas protegidas.Segundo a pesquisadora, nas
unidades de conservação de proteção integral, as quais visam à preser-vação do conjunto de seres vivos de uma determinada região em sua completude, é permitida a realização
de atividades de caráter educacional, turismo ecológico e pesquisas cientí-ficas de forma regulamentada. Fazem parte desse grupo: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional e estadual, monumento natural e refúgio da vida silvestre.
Exploração é determinada de acordo com o tipo de área �Nas unidades de conservação
de uso sustentável, a característica é o equilíbrio da conservação da na-tureza com a utilização sustentável dos recursos, “a exploração é per-mitida, porque, geralmente, existem populações tradicionais que vivem nessas unidades e que precisam dos recursos disponíveis”, explica Tássia Nunes. Estão incluídas nesse grupo as seguintes categorias: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional e esta-
dual, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável.
As terras indígenas, outro tipo de área protegida, são definidas na pesquisa de acordo com o Arti-go 231 da Constituição Federal de 1988: “áreas habitadas por índios em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Então, segundo a bióloga, se uma co-munidade formada por índios ocupa uma área seguindo esses requisitos, ao Estado (representado pela Fundação Nacional do Índio - Funai) caberá a competência de realizar a demarcação física dos seus limites, para que o direito dos indígenas seja assegurado, impedindo a ocupação do espaço por terceiros.
De acordo com a pesquisa , as
unidades de conservação e as terras indígenas também se diferenciam quanto à administração. As unidades de conservação são reguladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Dentro de cada tipo dessas unidades, há diferenças quanto à especificidade de uso, de manejo e de ocupação por população tradicional. As terras indígenas são gerenciadas pela Funai, que tem, entre as suas competências, a demarcação dessas áreas.
Terras indígenas têm menor índice de desflorestamento �
tAM
ArA
sA
ré /
Agên
ciA
PA
rá
A PA-458 começou a ser cons-truída em 1974. Somente na década de 90, ela foi concluída de fato. Mais de 86 hectares de manguezal foram desmatados. A estrada também so-terrou igarapés e canais, a água das chuvas não é suficiente para deixar o mangue na condição adequada, a do solo chamado inconsolidado ou lamacento, onde há toda uma ativi-dade biogênica.
Mas como jogar água em um local que não tem o alcance dos rios? Segundo o pesquisador, há, pelo menos, duas saídas. A primeira seria construir uma tubulação que passasse por baixo da estrada para que a água do Caeté chegasse até o lado oeste da PA-458. Isso requereria a recons-trução de alguns trechos da estrada, o que deveria ter sido pensado desde o início da concepção da obra. A se-gunda seria a construção de canais, ou seja, trincheiras com alimentação proveniente de poços reservatórios de água, os quais seriam utilizados para irrigar o manguezal.
Tais experiências já tiveram êxito, por exemplo, na Indonésia e no México. Porém o Redema não tem condições de fazer isso sozinho. "Seria necessário muito dinheiro e a permissão do Estado e do muni-cípio. Se assim ocorresse, o Projeto garantiria o replantio em larga escala e, talvez, a recuperação dessas áreas degradadas", ressalta o pesquisador. Um sonho que merece se tornar re-alidade.
Jéssica souza
Imagine um manguezal, rico em biodiversidade, funcionando nas suas condições naturais,
abrigando uma infinidade de espé-cies da flora e fauna amazônicas, servindo como fonte de alimento para animais e seres humanos e como local de refúgio a algumas espécies que o utilizam para se proteger de seus predadores natu-rais... De repente, algo interfere na paisagem. Uma grande estrada é construída em meio a esse man-guezal, que, desde então, nunca mais foi o mesmo. Trata-se da região do salgado paraense, onde a PA-458 soterrou igarapés e canais, degradou grande área de florestas de mangue, o que configurou um dos maiores impactos nos mangue-zais da amazônia brasileira.
A região, hoje pertencente ao município de Bragança, no in-terior do Pará, a leste, é banhada pelo rio Caeté, e, a oeste, pelo rio Taperaçu. O manguezal bragantino fica em uma península entre esses dois rios. A construção da estrada vetou a ação da maré, de modo que o Caeté não pode mais alimentar o lado do mangue que ficou a oeste da estrada, sendo que o rio Taperaçu não tem força suficiente para inundar todo esse território. Temos, portanto, de um lado, um manguezal rico em vegetação e
vida animal e, do outro, um man-guezal totalmente devastado por falta d’água.
Um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Pará busca, justamente, recuperar, por meio de reflorestamento, as áreas de mangue degradadas. Promover a restauração dos manguezais de-gradados em Bragança é o objetivo do Redema. O professor Marcus Emanuel Barroncas Fernandes, lotado no Campus de Bragança,
e o geógrafo Takaiuki Tsuji de-ram início ao Projeto em 2005, com financiamento da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), voltada para causas ambientais ao redor do mundo, a partir da iniciativa de moradores da Vila de Tamatateua de replantar a área degradada. Com o apoio de alguns alunos do Laboratório de Ecologia de Manguezal (Lama), o Projeto já teve diversos desdobra-mentos até hoje.
Ressecamento do solo prejudica replantio �Em cinco anos, o Redema já
replantou cerca de 70 mil mudas e sementes de três tipos de mangue: mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue preto ou siriúba (Avicennia germinans) e mangue branco (Laguncularia racemosa), todas típicas desse ecossistema e caracterizadas por densas raízes. Desse total, 50 mil foram plantadas somente nos três primeiros anos do Projeto, que promoveu experiências piloto nas comunidades de Tamata-teua e Taperaçu-Campo, onde foram montados viveiros com capacidade para até quatro mil mudas. As ações também envolveram o km 17 da PA-458, cuja área é a mais degradada da região. A devastação é tão grande que as sementes e mudas replantadas não podem sobreviver devido às condi-ções de ressecamento do solo.
De acordo com Marcus Fer-nandes, existem três grandes focos de degradação ao longo da estrada e o principal é o km 17, de um total de 86 quilômetros. "Nessa área, nós montamos um piloto de um hectare de replantio para analisar o desen-volvimento da vegetação em um lugar sem aporte nenhum de água e vimos que há uma mortalidade muito alta de mudas e sementes. O mesmo procedimento foi aplicado em pe-quenas áreas devastadas próximo às comunidades e houve êxito, tendo hoje, nesses locais, plantas com mais
de três anos de idade, as quais se reproduzem facilmente", afirma.
Resultados – O Projeto foi desenvolvendo técnicas que foram sendo adaptadas às especificidades do solo, do clima, das condições na-turais impostas pela própria natureza ou pela ação do homem. Daí surgiu o primeiro livro publicado pelo Re-dema, Replantando os Manguezais, que traz uma linguagem acessível para leigos, com passo a passo fotografado. Além disso, o Projeto também rendeu informativos e a cartilha Vivendo e aprendendo com os manguezais, voltada ao público infantil e distribuída gratuitamente nas escolas. Todo o material publica-do está reunido para consulta gratuita no site http://www.ufpa.br/lama/, que pertence ao Lama.
"Em algumas comunidades, principalmente em Tamatateua e Taperaçu-Campo, também desen-volvemos um trabalho de educação ambiental com crianças e adultos, sobretudo com crianças de escolas públicas locais. Utilizamos os man-guezais para aulas práticas e reali-zamos, com o auxílio das crianças, diversas cerimônias de replantio, das quais, também participaram outros representantes das comunidades e as autoridades locais", explica Marcus Fernandes. Também foi promovido um concurso de logomarcas para o Redema, com desenhos feitos pelas
crianças, que produziram ainda en-cartes sobre a cadeia alimentar no mangue.
O Projeto passou a se fazer presente nos mais diversos eventos comemorativos da Vila de Tamata-teua, como no desfile de 7 de setem-bro e nas festas do padroeiro, sempre com a intenção de chamar a atenção dos moradores para a importância da preservação ambiental. O Redema promoveu diversas ações de mobili-zação em que foram criados verda-deiros mutirões de reflorestamento. Houve, ainda, envolvimento de rela-ção de trabalho com a comunidade, quando foram delegados monitores e pessoas para tomarem conta dos viveiros de mudas, os quais ganha-vam ajuda de custo mensal. Mais tarde, até a Prefeitura de Bragança se envolveu, de modo que o Projeto agregou comunidade, academia e município.
As atividades do Redema foram concluídas em 2008, com o fim do patrocínio da Jica. Mas, logo em seguida, foram disponibilizados novos recursos a partir de um edital universal promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa), no qual a profes-sora Erneida Coelho de Araújo foi contemplada. Durante dois anos, o Projeto se desenvolveu não apenas como extensão, mas também como ensino e pesquisa.
Pesquisador �propõe soluções
8 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 – 5
Novidades na agenda jurídica Tese analisa políticas e programas de apoio às populações tradicionais
PautaEstão abertas as inscrições para pauta no Teatro Cláudio Barradas. Os espetáculos de-vem ocorrer de 3 de janeiro a 4 de julho de 2011. Mais informações pelo telefone (91) 3249-0373 e pelo site www.teatroufpa.co.cc
Incubadora IAs Empresas Amazon Dreams Indústria e Comércio LTDA e Neoradix Serviços de Enge-nharia e Eletrônica, vinculadas ao Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) da UFPA, receberão os Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Ama-zônia de Empreendedorismo Consciente (Edição 2010), na categoria Empresas para a Amazônia.
Incubadora IIA Amazon Dreams (1º lugar) atua no setor de tecnologia de química fina de produtos na-turais e a Neoradix (2º lugar) atua nos setores de automação industrial, automação residen-cial e monitoramento ambiental inteligente. Entre os objetivos das premiações, está promover uma reflexão acerca das pos-sibilidades e necessidades de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
Implante Foi um sucesso a ativação do implante coclear que o Hospi-tal Universitário Bettina Ferro de Souza realizou em seus pri-meiros pacientes. O serviço, de alta complexidade, faz do Pará o primeiro e único Estado da Região Norte a fazer esse tipo de cirurgia. O convênio firma-do entre o Hospital e a Secreta-ria de Saúde do Estado atenderá cerca de 18 pacientes.
MedalhaO Programa Saberes da Terra da Amazônia Paraense, da UFPA, obteve o 1º lugar na premiação Medalha Paulo Frei-re, promovida pelo MEC. Para concessão da Medalha, foram avaliadas as experiências de Educação de Jovens e Adultos vinculadas à alfabetização, sua continuidade no ensino fundamental e no médio, além de sua interface com o mundo do trabalho.
SociolinguísticaO Mestrado em Letras da UFPA realiza, nos dias 13 e 14, o II Seminário Regional de Geo--sociolinguística. O objetivo é estabelecer um diálogo maior entre a pós-graduação e a comunidade acadêmica. Mais informações pelo e-mail [email protected] e telefone (91) 3201 – 8097.
Arqueologia sem glamour Livro desmistifica processo da pesquisa arqueológica
Educação EM DIADireito
Um dos pontos destacados no trabalho é que o sistema capitalista utiliza o bem ambiental e cultural de populações tradicionais como uma estratégia política para manter o regime. "O capitalismo permite o acesso a qualquer tipo de bem ambiental localizado em territórios tradicionais, inclusive ao conheci-mento tradicional, como aqueles sobre uso de plantas e animais, sendo que as negociações são entre desiguais", afirma a advogada.
Algumas maneiras de utilizar os bens ambientais de populações tradicionais, além da exploração de seus conhecimentos relativos ao patrimônio genético, são os usos das marcas e imagens dessas popula-ções, sem nenhum tipo de permissão ou retorno para as comunidades.
Essa forma de exploração é agravada pelo fato de muitas
instituições jurídicas não reco-nhecerem o direito coletivo. É o caso do serviço de patente. Todos os conhecimentos e criações de comunidades tradicionais precisam ser apropriados individualmente, privatizados, para que possam ser comercializados.
Para Syglea Lopes, esse não reconhecimento do direito coletivo abre portas para que a negociação dos bens localizados em territórios tradicionais seja feita de maneira a prejudicar as comunidades, que perdem o direito sobre esses bens quando são apropriados por empre-sas. "Os bens ambientais, muitas ve-zes, estão mais à mercê do mercado do que das próprias comunidades. É alta a probabilidade de que o acesso a tais bens, por parte de empresas, esteja provocando impactos negati-vos na cultura," avalia.
O acesso aos bens ambientais, naturais e culturais também é nor-matizado juridicamente segundo as leis ambientais. Em todos os terri-tórios, os bens podem ser utilizados pelas comunidades se forem para o uso próprio. Já para a comercia-lização, tanto pelas comunidades quanto por outras instituições, as negociações devem ser acompanha-das pelos órgãos responsáveis pelas categorias e obedecer a normas, como o licenciamento ambiental, instrumento que exige medidas pre-ventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais na exploração de recursos naturais.
Segundo a pesquisadora, as normas jurídicas de acesso ao ter-ritório estão avançando no Brasil, mas muito precisa ser feito para, de fato, resguardar os direitos de comunidades tradicionais. "Ainda
existe carência de regulamentação de procedimentos que explicitem melhor como os povos e as comu-nidades tradicionais, assim como os órgãos que lhes dão apoio devem proceder, por exemplo, no caso da comercialização de bens naturais em territórios tradicionais", explica.
Para Syglea Lopes, é necessá-rio que as políticas e os programas de apoio às comunidades e popula-ções tradicionais desenvolvidos por diversos órgãos, tanto do governo federal quanto do estadual, ajam de maneira interligada e clara. "Há um emaranhado de órgãos, políticas e programas que, apesar de comporem o mesmo sistema, não dialogam entre si. Se nem os pesquisadores sabem a quem se dirigir para bus-car as informações, como podemos esperar que povos e comunidades tradicionais consigam fazê-lo?"
Dilermando Gadelha
Quando os portugueses chega-ram ao Brasil, encontraram populações indígenas espa-
lhadas por todo o território. Violen-tamente, apossaram-se das terras, da liberdade, da cultura, da força de trabalho desses índios. Em certo mo-mento, os colonizadores começaram a ter dificuldades para controlar os ímpetos de revolta dos indígenas e, então, resolveram trazer populações negras da África para trabalharem no País, em regime de escravidão. A história, então, repetiu-se.
A partir da mistura dessas vá-rias culturas, surgiu a hoje conhecida diversidade cultural e populacional do Brasil. Diversidade marcada pela desigualdade e dominação, flagran-tes, por exemplo, nos processos de acesso ao território por populações tradicionais da Amazônia. Foi pen-sando em analisar de forma jurídica essa questão que a pesquisadora
Território e bens ambientais são garantidos pelo Estado �De acordo com as normas
jurídicas ambientais que vêm sendo implementadas desde a Constitui-ção de 1988, essas comunidades e populações tradicionais têm direitos de acesso a territórios, onde possam conviver e buscar o desenvolvimen-to social e econômico.
É também dever do Estado garantir a conservação de seus bens ambientais, que não são apenas os recursos naturais existentes no ambiente, como água, plantas e minérios, mas também a sua cultura e outros bens imateriais. Esses bens são considerados como um patrimô-nio ambiental nacional e, portanto, algo que deve ser preservado e não pode ser dividido nem ter um valor comercial. É a partir da preservação cultural que surge o direito ao terri-tório por populações tradicionais.
Quanto à legislação, as nor-mas de acesso ao território variam de acordo com a categoria. No caso dos indígenas, a posse da terra é permanente e as etnias têm o direito de uso e gozo da terra, por meio do direito originário, que não neces-sita de títulos ou contratos, pois esses povos estavam no território mesmo antes da criação do Brasil como nação. As terras indígenas, contudo, são da União, por isso não podem ser vendidas pelos povos indígenas.
Já para remanescentes de quilombos, o direito é garantido por meio do título definitivo da terra, o qual é concedido para a associação que os representa. Os quilombolas são os únicos que possuem o direito de propriedade da terra. Comunidades extrativis-
tas têm acesso ao território com a criação de unidades de conservação e assentamentos coletivos. A for-malização é feita por contratos de direito real de uso coletivo entre a União e a associação que representa essas comunidades.
Segundo Syglea Lopes, o di-reito ao território deve ser feito de maneira coletiva, sendo a terra um bem de toda a comunidade e não dividido em lotes individuais. "As normas jurídicas de direito privado não servem para resguardar os di-reitos que são de uma comunidade. Trabalhar direitos coletivos implica reconhecer que ‘o sujeito’ são gru-pos, ou sequer podem ser determi-nados, e que o objeto dessa relação é indivisível, ou seja, a apropriação não pode ser individual, somente coletiva", explica.
marcas e imagens ainda são utilizadas sem permissão �
Syglea Lopes defendeu a tese Po-vos e comunidades tradicionais da Amazônia Legal: análise das normas jurídicas de acesso aos territórios e aos bens ambientais, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal do Pará. A tese, defendida em 2009,
é dividida em quatro capítulos, que objetivam avaliar as normas jurídicas de acesso ao território e aos bens ambientais por popula-
Itacoã Miri, no município do Acará, é exemplo de comunidade quilombola
Crianças de Itacoã Miri
ções e comunidades tradicionais da região da Amazônia Legal, mais especificamente, do Estado do Pará. As análises foram feitas com base na Constituição Federal de 1988 e em três categorias de populações e comunidades tradicionais: povos indígenas, comunidades remanes-centes de quilombos e comunidades extrativistas tradicionais, que vivem em projetos de assentamento e áreas de conservação, como as Reservas Extrativistas (RESEXs).
Segundo Syglea Lopes, a es-colha dessas três categorias se deu porque "são as únicas que possuem normatização sobre o assunto, tanto constitucional quanto infraconsti-tucional". As comunidades extrati-vistas só obtiveram seus direitos à terra em 1987; e os remanescentes de quilombos, em 1988. "O direito de povos e comunidades tradicionais, com exceção ao dos povos indígenas, constitui um tema recente na agenda jurídica", acrescenta a advogada.
Foto
s A
lexA
nd
re M
orA
es
Foto
s A
lexA
nd
re M
orA
es
Raramente, consegue-se re-cuperar peças inteiras, como vasos ou urnas. Encontram-se fragmentos e vestígios que são levados para o laboratório e analisados em diversos aspectos, como o local onde foi en-contrado, a composição do material, a sua função naquela sociedade. É essa análise que dará as respostas aos pesquisadores, por isso é a etapa mais demorada. O estudo de vestígios pode levar anos.
Após essa etapa, o arqueólogo passa para a interpretação do material, momento em que ele elabora as teorias científicas para explicar um pouco mais sobre a sociedade a que o objeto pertence.
Além de ensinar os conceitos básicos da Arqueologia, o livro faz uma contextualização amazônica. Esse foi um dos pontos de partida para escrevê-lo, já que há escassez de obras dessa natureza. As referências disponíveis são traduções estrangeiras, nas quais as realidades brasileira e amazônica não são retratadas.
A Amazônia brasileira foi ocu-pada por povos que já desapareceram e a Arqueologia é quem pode resgatar a história dessas populações. Diferente dos outros povos da América Latina, os quais têm orgulho de seus ancestrais, no Brasil, predomina a ideia de que as culturas indígenas eram atrasadas. O brasileiro não percebe que a vida dos
seus ancestrais tem relação direta com a sua origem e cultura.
A Amazônia tem um grande exemplo de riqueza arqueológica, a cerâmica marajoara, única em todo o Brasil, pois as técnicas utilizadas são complexas. Para o professor, "as cerâ-micas mais complexas e mais bonitas da pré-história brasileira estão todas na Amazônia".
Serviço:Livro Abordando o passado – uma introdução à ArqueologiaAutor: Mauro Vianna BarretoOnde encontrar: Editora Pakatatu e livraria da UFPA, Campus Básico. Valor: R$20,00
Vito Ramon Gemaque
Quem não se lembra do ar-queólogo Indiana Jones, descobridor de tesouros, in-
terpretado por Harrison Ford? Quem nunca ouviu uma história incitante envolvendo civilizações como Maias e Egípcios, ou não ficou curioso diante do círculo de pedras Stonehen-ge, localizado na Inglaterra?
Histórias de mistérios e aven-turas criam um mito em torno da Arqueologia, que acaba sendo en-carada pelo senso comum como uma profissão exótica. Muitas vezes, esta visão é difundida pela mídia, detur-pando a verdadeira finalidade dessa ciência. Assim, para explicar o que está por trás do mito, o professor Mauro Vianna Barreto, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, escre-veu o livro Abordando o Passado - uma introdução à Arqueologia.
"Há quem pense que Arqueo-logia é Indiana Jones, escavar pirâ-mide. Nosso objetivo é mostrar que a Arqueologia também envolve traba-lho de campo, escavação, análise em laboratório", esclarece o professor especialista em Arqueologia e mestre em Antropologia Social.
O livro aborda pontos básicos, como a definição e as subdivisões da ciência. O autor explica a relação entre Arqueologia, tecnologia e meio ambiente, aponta os elementos que integram uma cultura arqueológica, mostra as etapas da pesquisa e os tipos de vestígios. A preservação do patrimônio arqueológico e o turismo associado à Arqueologia também
ganham destaque.A obra é resultado da mo-
nografia apresentada por Mauro Barreto ao concluir a Especialização em Arqueologia. Para Denise Pahl Schaan, orientadora do trabalho, o livro vem suprir uma lacuna, já que são raras as publicações que falam dessa ciência a partir de um contexto amazônico.
Teorias sem fundamento reforçam exotismo �Abordando o Passado tem uma
linguagem simples e acessível, escrita para quem não tem conhecimento prévio sobre o assunto. Segundo o professor, o livro foi feito para que "um estudante ou professor pudessem ler sem grande dificuldade. É uma introdução e, a partir dela, o leitor pode se aprofundar", afirma.
Além do caráter exótico, a Arqueologia ainda é confundida com teorias que nada têm de científicas e que teimam em transformá-la em algo "místico ou fantástico". Mauro Barreto critica profundamente essas teorias afirmando que a "pseudoar-queologia não constitui um corpo unificado e coerente de ideias sobre o passado, e sim um amontoado caótico e contraditório de teorias absurdas e
totalmente destituídas de fundamento científico".
Geralmente, essas teorias ten-tam explicar e revelar mistérios de civilizações desaparecidas ou en-contrar continentes perdidos. Elas até encontram "provas" para suas alegações, que nunca se comprovam quando são submetidas ao rigor do método científico. O caso mais re-cente de especulação sem provas é a teoria de que o mundo acabará em 2012 segundo o calendário dos Maias. Outra tentativa de desqualificação da ciência é feita por grupos cristãos fundamentalistas que defendem uma interpretação literal da Bíblia e não aceitam as descobertas feitas pelos cientistas.
A Arqueologia tem métodos de
apuração, estudo e interpretação dos artefatos encontrados. É uma ciência com a finalidade de estudar os homens que outrora habitaram a Terra e suas relações socioculturais em sociedades desaparecidas.
Um dos grandes diferenciais entre a Arqueologia e as outras ciên-cias humanas, como História, Socio-logia, Antropologia e Economia, é que a disciplina não dispõe de acesso direto ao comportamento humano que investiga. Não é possível entrevistar ou observar populações que não exis-tem mais, muitas vezes, não se pode contar com relatos escritos. "O que a Arqueologia procura é recuperar essas sociedades. Quem foram eles? Como eles viviam? Como eles chega-ram aqui?", explica o professor.
Contexto das realidades brasileira e amazônica �
Obra faz introdução aos estudos arqueológicos a partir de contexto local
6 – BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 BEIRA DO RIO – Universidade Federal do Pará – Dezembro, 2010 – 7
Látex volta a ser explorado em ilhas de BelémInstalação de unidade de produção sustentável da borracha natural traz nova alternativa de trabalho para ribeirinhos
Encauchados
As primeiras iniciativas do Poloprobio foram no Estado do Acre, com quatro aldeias indígenas. As ações se expandiram e, hoje, são 30 unidades produtivas, demonstrativas e pedagógicas implantadas, com 580 pessoas envolvidas diretamente - entre pesquisadores, técnicos, indígenas e seringueiros - nos Estados do Amazo-nas, do Acre, do Pará e de Roraima.
A Unidade da Ilha do Muru-tucum destaca-se como a primeira unidade criada em ilhas e a primeira com seringueiras nativas (hevea spp.). Segundo os especialistas, no Pará,
todas as ilhas possuem as árvores em quantidade suficiente para a explora-ção e a produção dos encauchados. O diferencial do Estado é a possibilidade de trabalhar com populações ribei-rinhas e, num futuro próximo, com comunidades quilombolas. Segundo Francisco Samonek, uma área com grande potencial e que já está sendo analisada para receber uma unidade é o arquipélago do Marajó.
Os coordenadores explicam que a próxima etapa do Projeto é a pesquisa de mercado e o levantamento de lojas parceiras. É preciso assegurar
que os produtos sejam comercializa-dos em pontos fixos e tornem-se uma referência de algo típico da região, as-sim como os artesanatos de cerâmica, miriti, jarina e outros. Serão firmadas, ainda, parcerias para o melhoramento dos processos. Uma das aquisições fu-turas certamente será uma estufa, para solucionar a dependência do sol.
Especialistas do Projeto per-manecerão por dois anos na Unidade prestando assistência técnica. O objetivo é auxiliar a população a au-mentar a qualidade e a variedade dos artesanatos produzidos. O desafio é
implantar um padrão de fibras, cores e formatos.
O Projeto Unidade Sustentá-vel dos Encauchados de Vegetais da Amazônia da Ilha do Murutucum é fi-nanciado pelo CNPq e executado pelo NAEA, em parceria com o PoloPro-bio, projeto apoiado pela Petrobras.
Saiba mais: A Ilha do Murutucum está localizada no rio Guamá, ao lado da Ilha do Combu – Área de Proteção Ambiental – APA, criada pela Lei No 6.083, de 13 de novembro de 1997, com 1.500 hectares.
Ana Carolina Pimenta
"As seringueiras chora-vam lá no mato, hoje as árvores estão felizes
por serem úteis de novo". É desse jeito poético que Simião de Souza Monteiro, no alto de seus 70 anos, descreve a alegria de poder praticar novamente o ofício que desenvolveu desde criança e que foi interrompido há trinta anos, com o fim da extração do látex no lugar onde nasceu. O que traz de volta a esperança ao experiente seringueiro e a outros ribeirinhos é a implantação da Unidade Sustentável dos Encauchados de Vegetais da
Amazônia da Ilha do Murutucum, localizada em Belém, a 30 minutos do Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). Coordenado pelo professor Fábio Carlos da Silva, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, o projeto de implantação e gestão da Unidade é resultado da parceria entre a UFPA e o Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais (Poloprobio).
Desde agosto deste ano, quem chega à Ilha do Murutucum se depa-ra com uma chamativa estrutura de madeira, erguida para ser a sede da nova unidade demonstrativa e produ-
tiva do Poloprobio. Lá, técnicos do Projeto ministram oficinas destinadas a capacitar os moradores da Ilha a confeccionarem artefatos baseados na Tecnologia Social Encauchados de Vegetais da Amazônia (TS/EVA). A técnica combina conhecimento indígena tradicional de manipulação do látex com tecnologias industriais simplificadas e adaptadas para apli-cação no ambiente florestal.
No processo, é produzido um composto formado por látex pré- -vulcanizado (tratamento que torna a borracha natural mais elástica e re-sistente), água e fibras vegetais, como pó de madeira. A mistura passa por
secagem, por meio de evaporação na temperatura ambiente e de exposição à luz solar, e dará origem a produtos rentáveis e biodegradáveis.
O acabamento das peças é dado por pinturas que lembram grafismos indígenas, realizadas com tintas orgâ-nicas extraídas de elementos naturais, como jenipapo, açaí, urucum e caroço do cacau. Os idealizadores do Projeto ressaltam que, por não passar pelos processos de coagulação ou defu-mação, característicos da produção convencional de borracha natural, a atividade não agride a saúde do serin-gueiro. Esses fatores elevam a quali-dade e agregam valor ao produto.
Integrantes da equipe do Projeto reunidos com moradores da Ilha do Murutucum na sede da Unidade
Projeto gera nova fonte de renda para comunidade �Apesar de ainda principian-
tes, pode-se dizer que os ribeirinhos já dominam a técnica dos encaucha-dos. Porta-lápis, vasos, embalagens, bolsas, mantas de tecido vegetal, jogos americanos, toalhas de mesa e até camisetas são alguns dos artefa-tos já produzidos e comercializados pelos participantes. Com o Projeto, a população ribeirinha passa a con-tar com um novo complemento de renda, sobretudo, nas entressafras do açaí e cacau. As chances do ne-gócio levar prosperidade às ilhas é grande, basta dizer que, enquanto o preço médio da borracha conven-cional sai por R$ 3,50 o quilo, cada quilo de borracha convertida em
encauchado tem sido remunerado a R$ 81,00.
É por seu rendimento que as seringueiras também são conhe-cidas como "árvores da fortuna". Quando assistimos a Simião de Souza Monteiro "sangrar" a casca das seringueiras com sua machadi-nha, é difícil imaginar que aquelas gotas iniciais que caem lentamente renderão 20, 30 litros de látex. Após passar pela tecnologia dos encauchados vegetais, o produto rende ainda mais: cada litro de látex misturado ao composto dá origem a quatro bolsas, ou três porta-lápis, ou 800 camisetas.
A coordenadora pedagógica
do Poloprobio, Maria Zélia Macha-do Damasceno, acompanhou todo o processo dos primeiros aprendiza-dos e se diz surpresa com o envolvi-mento da população local, sobretudo das mulheres. "No início, as pessoas vinham por conta da novidade e da curiosidade que o Projeto causava. Hoje, elas estão vindo, porque acreditam que, realmente, podem mudar as suas vidas. A participação das mulheres é algo que me deixa muito contente; elas estão saindo de casa e passando a ter a percepção de que podem ser produtivas". Lucélia Rodrigues Monteiro justifica o moti-vo do entusiasmo da coordenadora, "antes, a gente só ficava no fogão.
Aqui, a gente trabalha, pode trazer as crianças. Essa é minha primeira fonte de renda e é uma salvação. É pouco, mas me sinto mais capaz", comemora a moradora.
Outro ponto importante é a manutenção das áreas com florestas, uma vez que a colheita do látex é realizada por meio de um manejo comunitário, seletivo e de baixo impacto. Segundo o coordenador técnico e um dos idealizadores do Projeto, professor Francisco Samo-nek, a tecnologia visa assegurar a sustentabilidade da atividade extra-tiva da borracha na Amazônia, com inclusão social e conservação da biodiversidade e da floresta em pé.
Unidade sustentável promove desenvolvimento regional �No início do século XX, a
região amazônica era o maior polo de extração e exportação de látex do mundo. A partir de 1911, o centro produtor deslocou-se para a Ásia e, no Brasil, São Paulo é, nos dias atuais, o Estado com maior produção. Hoje, o País importa quase 70% do total de borracha natural que consome. A Belle Époque e os tempos áureos da borracha na Amazônia são apenas lembranças. Nas ilhas, os seringueiros foram impelidos a mudar de atividade e a heveicultura (cultivo das serin-gueiras) foi substituída, de vez, por atividades não tão rentáveis, como a pesca artesanal e a extração do cacau e do açaí.
Por recuperar um modo de vida, a extração do látex e a sua transformação em artesanato pela Tecnologia Social dos Encauchados trazem grande esperança às popula-ções tradicionais que, um dia, sobre-viveram da exploração da borracha natural. Apesar da grande ocorrência das seringueiras, não havia exploração na Ilha do Murutucum há, pelo menos, 30 anos. "A maior alegria, para mim, é ver essa juventude voltando a ‘tirar o leite’ das seringueiras. Repassar meus conhecimentos aos mais jovens é uma imensa alegria", revela Simião de Souza Monteiro, cujos olhos bri-lham ao falar do tempo em que a vida econômica e social da Ilha dependia, quase que exclusivamente, da extra-ção do látex.
No desabafo do ex-seringueiro Milton Gouveia Rodrigues, é possível vislumbrar o anseio dos ribeirinhos
Simião Monteiro, aos 70 anos, é um dos mais empolgados com a volta do trabalho aos seringais
Participantes já percebem os primeiros resultados �Uma conversa com os ribeiri-
nhos da Ilha demonstra que um novo olhar sobre a Universidade surge em virtude da implantação da Unidade. A descrença na intervenção acadêmi-ca tradicional está presente nas falas dos moradores. Para eles, a diferença do Projeto da Tecnologia Social é que ele garante um retorno imediato e interfere diretamente na vida deles. "No começo, a gente não acreditou, devido ao contato que a gente tinha
com a Universidade. Só de a gente se aproximar da orla, já era discri-minado. Quando os pesquisadores vinham aqui, coletavam informações e não voltavam. Sentimos que este Projeto é sério, tem dado resultados e resgata a cultura do seringueiro", diz Sandro da Silva Pereira, um dos seringueiros.
Um dos princípios do Projeto é a valorização e o aproveitamento das habilidades dos próprios mora-
dores. "A busca é por concretizar o ideal de universidade, pautado na produção de conhecimento e na busca por transformar realidades. Acho que estamos conseguindo isso", reitera o técnico do Projeto, Leonardo Milanez.
Um dos exemplos dessa mu-dança é o caso de Orivaldo Monteiro. Quando o Projeto dos Encauchados chegou à Ilha do Murutucum, o agricultor teve a oportunidade de
pôr em prática seu talento artístico e chegou, inclusive, a ministrar uma oficina, oportunidade que ele nunca havia tido. "Há muitos talentos aqui e poucas oportunidades. Sonho em, um dia, expor o meu trabalho e o Projeto pode ser um caminho". Conta o artista nato, o qual será incorporado ao corpo técnico do Projeto para ministrar oficinas nas próximas unidades demonstrativas a serem criadas.
Próximo passo é a comercialização dos produtos �
por novas alternativas de trabalho e renda. "Depois que paramos de tirar a borracha, a devastação começou. Só passamos a explorar o palmito de açaí por falta de opção. O peixe tá acabando por conta da poluição do rio (Guamá). Espero que o Projeto dê certo, porque é uma opção para a gente".
A nova Unidade Sustentável servirá de base não só à realização de pesquisas sobre toda a cadeia pro-dutiva do látex, como também a um projeto piloto para o desenvolvimento de ações que conciliem conhecimento tradicional e saber acadêmico. A ten-dência é a expansão de experiências bem sucedidas para outras regiões
com necessidades semelhantes às da Ilha do Murutucum. Para o professor Fábio Silva, a implantação da Unidade representa uma importante contribui-ção e um grande exemplo da UFPA para a solução de problemas sociais e para a promoção do desenvolvimen-to regional, papel da universidade pública.
Foto
s A
lexA
nd
re M
orA
es